Recentemente, o nome de Mike Flanagan tem ganhado bastante destaque no cenário audiovisual, seja no cinema, seja nos serviços de streaming. Apenas nos últimos anos, o diretor foi responsável por reviver o gênero de terror com investidas interessantes e originais que renegavam os formulaicos clichês e buscavam algo muito maior do que o simples jumpscare. Além de Hush – A Morte Ouve e O Espelho, Flanagan realizou sua primeira colaboração com a Netflix no ano passado com a adaptação do romance Jogo Perigoso, assinado por Stephen King, e ganhou reconhecimento principalmente pelas incríveis atuações. Agora, ele retorna em mais uma parceria com a plataforma ao mergulhar de cabeça em mais uma releitura: A Maldição da Residência Hill.
Baseada na obra de Shirley Jackson, a suposta minissérie de dez episódios definitivamente não nos traz uma premissa inovadora. Uma família se muda para uma gigantesca mansão no interior de Massachussets e passa a ser castigada por assombrações demoníacas, surtos psicóticos e episódios ilusórios mortais. É claro que, considerando as inúmeras outras peças cinematográficas das últimas décadas, é quase impossível não perceber de cara referências a franquias como Invocação do Mal e O Exorcista, cujas tramas partem do mesmo princípio – apesar de serem-lhe confiadas uma veracidade angustiante. O principal trabalho de Flanagan seria o modo pelo qual investiria na história: horror e gore puros? Inclinações para o suspense psicológico? Abandono de supostos atrativos presunçosos? De que modo o diretor conseguiria ao menos criar um cosmos envolvente e satisfatório sem o respaldo que transformou tal nicho narrativo em uma espécie de doença crônica?
Felizmente, ele sabe muito bem o que está fazendo. Afinal, este não é o seu primeiro trabalho e, sem sombra de dúvida, não abre espaço para amadorismos – não que eles não existam; mas ao contrário de outros longas e séries, esses não são propositais e, na verdade, contribuem para o retorno do próprio público à sanidade mental. De qualquer forma, as experimentações ocasionais, os floreios artísticos, as atuações e a progressividade anacrônica conferem um ar de alívio e de superação para o show, colocando-o merecidamente em um patamar de prestígio.
DE VOLTA PARA O FUTURO
Tornou-se algo prático na escrita criativa a multiplicidade de linhas temporais. Em outras palavras, o uso de uma montagem com cronologias diferentes já se provou muito útil quando pensamos em fluidez cênica. É só pensarmos em obras como How to Get Away with Murder e Once Upon a Time que, apesar de terem suas respectivas falhas, fazem bom uso dessa divisão, seja no passado ou no futuro. É partindo da mesma ideia que Residência Hill se constrói: em cada um dos dez episódios, a funcionalidade está nessa contraposição justaposta entre o antes e o depois – e isso não se mantém apenas no âmbito teórico, como funciona na prática artística com exímia segurança.
Flanagan retoma alguns de seus preceitos básicos para as telas, incluindo a simetria excessiva e a baixa profundidade de campo, como forma de oferecer um intimismo obrigatório aos telespectadores. Ele já havia feito isso em Jogo Perigoso, ambientado apenas em um minúsculo quarto; aqui, as coisas mudam consideravelmente, visto que possui mais materiais com os quais trabalhar, mais personagens, mais ambientações e, principalmente, mais tempo para resolver cada uma das subtramas com o máximo de cautela possível. É por isso que tanto o tempo o agora quanto o anterior têm o mesmo peso dramático – e isso exige demais até mesmo do elenco infantil, o qual se entrega aos próprios papéis e se rende a performances memoráveis e assustadoras de tão fiéis que são ao que desejam passar.
Hugh (Henry Thomas) e Olivia Crain (Carla Gugino) se mudam para a mansão Hill com seus cinco filhos e desejam reformá-la por inteiro antes de vendê-la a um preço justo e que traga conforto para o promissor futuro da família. Entretanto, nenhum dos dois poderia prever a quantidade de tragédias que acometeria o núcleo após meros dois meses morando na nova casa – e não pense que não foi por falta de aviso. À época em que os descendentes Crain eram apenas crianças, até mesmo os adultos sentiram as estranhas presenças e foram alvo de estranhos acontecimentos, dentre eles possessões e perda de lucidez.
Cada um desses personagens tem uma camada a ser explorada, e o roteiro, também supervisionado pelo showrunner, faz questão de prevenir quaisquer furos inadmissíveis que convergem para um mesmo ponto de virada. Temos, por exemplo, a jovem Nell (Violet McGraw), perturbada pelas constantes aparições da “moça-do-pescoço-entortado”, e sua conexão com o gêmeo Luke (Julian Hilliard), ambos símbolos de uma inocência que, anos mais tarde, seria corrompida por descrédito e pela falta de aceitação dos outros membros de seu núcleo – não é à toa que Nell enlouquece e Luke torna-se um viciado em heroína. Além disso, temos a incrível presença de Mckenna Grace como a introvertida e sensitiva Theodora, a qual, depois de ter um contato pessoal com um espírito, passa a ter a habilidade de empatia com as ambiências que frequenta apenas pelo toque.
Talvez o que mais surpreenda é a química que os atores-mirins mantêm com seus respectivos “pais”. Grace e Gugino são aquelas que mais trazem dinâmica às cenas, aliadas a diálogos enriquecedores e a virada surpreendentes que nos recordam mais de uma vez o fato de estarmos na presença de uma força sobrenatural. Theo mantém suas características determinadas e isolantes quando cresce, passando a ser encarnada por Kate Siegel em uma apaixonante rendição artística. Ela tenta usar de sua habilidade para ajudar crianças – tornando-se Mestra em Psicologia – ao mesmo tempo que constrói um muro em volta dela para se proteger do passado e da convivência com seus outros irmãos. Eventualmente, ela e todos os outros são obrigados a encarar de frente a verdade que lhes foi negada e a aceitar sacrifícios para continuarem a viver sem culpa.
O pedantismo, por incrível que pareça, é evitado e praticamente não existe. Isso se mantém em toda a cronologia descontruída, e o tempo atual não abdica dessa regalia: um dos maiores exemplos está em Shirley (Elizabeth Reaser), que se mantém fixa a uma expressão congelada e calculista quase o tempo todo apenas para se desmontar em momentos de vulnerabilidade. Além de ter lidado com a morte prematura e inexplicável da mãe, ela fica responsável por embalsamar e reconstruir o cadáver de Nell (Victoria Pedrettin) e se recusa a ceder às emoções. Não é até o momento em que sua história é revelada que percebemos o quão traumatizada ela está, impedindo uma autorreflexão tardia; como a própria mãe diz, seu primeiro contato com a morte foi perturbador, e isso a perseguiu para o resto da vida.
As supostas falhas encontram uma explicação aceitável conforme nos aproximamos do season finale. Ainda que não saibamos da possibilidade de continuação, a narrativa encerra-se em uma completude total, unindo as pontas, atando os nós e mostrando ações e consequências. Parte do público pode até não concordar ou achar digno a atmosfera “otimista” dos últimos minutos, mas ao menos eles não estão jogados. Há uma diferença gritante até mesmo entre a estética inicial e a final, contrapondo a excessiva cegueira enevoada e mística com a compreensão dos problemas e a limpeza imagética.
EPISÓDIO Nº 6
A Netflix é conhecida por não saber separar o que seria melhor encarado como série e melhor como longa-metragem. Nos dois primeiros capítulos, Residência Hill move-se vagarosamente, sem pressa de desenrolar seus eventos, o que imediatamente causa uma comoção inversa e generalizada de repúdio – e que poderia ter sido resolvida em um filme de noventa minutos. Entretanto, o ritmo e a tensão crescentes são cruciais para o envolvimento do público, culminando em uma incrível homenagem aos clássicos do terror ao chegarmos ao sexto episódio.
Intitulado Two Storms, Flanagan brinca com inúmeros conceitos sem saturá-los ou esfregá-los na cara dos fãs. O diretor parece ganhar imunidade para trabalhar o que sempre quis, utilizando dos preceitos do suspense psicológico para ganhar tempo enquanto trabalha um micro-longa-metragem que, sem avançar aos favoritismos estéticos, é muito melhor resolvido que diversas obras contemporâneas. Regras são quebradas, desmontadas e remontadas como se bem entende; há a duplicidade anacrônica que explica e refuta decisões comportamentais dos personagens; a ambiência esquizofrênica e bizarra é quase constante – e tudo, absolutamente tudo, contribui para mostrar como cada um deles se faz de cego para a realidade.
A narrativa começa em uma noite chuvosa durante o funeral fechado de Nell, durante o qual os quatro filhos restantes recebem a visita do pai (agora interpretado por Timothy Hutton). Além da ausência compulsória e da omissão da verdade, suas crianças crescidas guardam ressentimentos pessoais com ele, principalmente quando Flanagan resolve colocá-lo em confronto com o mais velho, Steven (Michiel Huisman). Esse é o princípio da ruína, de uma batalha verborrágica que só ganha mais destaque devido ao incrível trabalho cênico realizado pelo diretor.
Aqui, todas as construções são baseadas em planos-sequências de oito minutos ou mais de duração. O diretor mantém-se atado à dupla estruturação das tramas principais e, utilizando uma fluidez sensacional, delineia dois cosmos separados pelo tempo e unidos pelo desequilíbrio familiar: no primeiro, a “lavação de roupa suja” entre adultos que não aceitam suas diferenças; no segundo, a queda de um lustra dá início a uma corrida bizarra pela manutenção da estrutura nuclear, culminando no desaparecimento inexplicável de Nell. É nesse momento que Hugh tem o seu primeiro contato com o sobrenatural e compreende que algo não está certo, enquanto Olivia se mostra cada vez mais convencida pelos discursos que os espíritos insistem em enfiar em sua cabeça.
O paradoxo não se mantém apenas no óbvio. Esta iteração é um filler ao mesmo tempo que não é, pelo simples fato de funcionar em si próprio e por ter o maior espectro de evolução dos protagonistas. As referências existentes superam quaisquer que possamos ter pensado: em alguns momentos, Flanagan opta pelo uso do plongée e do contra-plongée, resgatando elementos da Era de Ouro do cinema hollywoodiano enquanto cria uma coreografia com a câmera que nos remete às produções de James Wan. Não há excesso – muito pelo contrário. O diretor se recusa a ceder ao desnecessária e percebe que, quanto menor, melhor. É por isso que a trilha sonora inexiste e dá lugar à presença derradeira do silêncio, manchado pela constante tempestade que ameaça varrer tanto a funerária quanto a mansão.
A manutenção do terror também é feita pela sutileza. Flanagan não utiliza o foreshadowing ou a indicação da presença espiritual, ele simplesmente coloca os elementos como se fizessem parte orgânica da cena. Há um momento em que todos estão próximos do caixão e, bem ao fundo, o fantasma de Nell aparece, estático, apenas observando até que a condução imagética nos leva para outra continuidade. Em outras palavras, o único erro desse capítulo é que, infelizmente, ele acaba.
CONFRONTO EM BABEL
É Carla Gugino quem rouba a cena. O tempo todo. A atriz, após ter entrado em projetos duvidosos em meados de sua carreira, retomou o brilho e a forma principalmente depois de ter se unido a Flanagan em mais de um projeto. Ao encarnar Olivia, ela em momento algum pensa em tangenciar a canastrice por segurar as emoções apenas com um leve relance de olhar. Talvez o momento de maior glória venha no final do nono episódio, intitulado Screaming Meemies. É notável como, sem dizer uma única palavra sequer, todo o arco da personagem se concentra nos pouco mais de cinquenta minutos – e é proposital que a primeira sequência e última delineiem tanto sua personalidade conturbada quanto sua sanidade perdida.
A série funciona como uma gigantesca convergência de “pecados” que devem ser expurgados. Nell, representante máxima da inocência corrompida, vê a única salvação em sua morte, obrigando os irmãos a seguirem em frente com suas vidas após se acertarem e conhecerem a trágica verdade acerca do que aconteceu quase trinta anos atrás. E esse é o maior mérito da obra: nos manter vidrados na tela por mais de dez horas, enquanto traça uma das melhores narrativas do ano.
A Maldição da Residência Hill mostra mais uma vez que Mike Flanagan e suas colaborações constantes ainda têm muita história para contar – e muito a acrescentar para um gênero que vem se redescobrindo dia após dia.
A Maldição da Residência Hill – 1ª Temporada (The Haunting of Hill House, EUA – 2018)
Criado por: Mike Flanagan
Direção: Mike Flanagan
Roteiro: Shirley Jackson, Meredith Averill, Charise Castro Smith, Elizabeth Ann Phang
Elenco: Carla Gugino, Michiel Huisman, Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Elizabeth Reaser, Kate Siegel, Lulu Wilson, Mckenna Grace
Emissora: Netflix
Episódios: 10
Gênero: Drama, Terror, Suspense
Duração: 55 min. aprox.

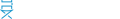


Um Comentário
Leave a Reply