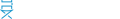O jornalismo enquanto atividade é algo tão mutável, efêmero e volátil como a sociedade. Pela História, encontram-se diversas e diversas maneiras de exercê-lo, de maneira mais elitista, mais popular, muito texto, pouco texto, preocupando-se com o factual ou encarnando um comportamento oblomoviano. E, se faz parte da História, e é, também, uma criação artística (de grau discutível) corre o inevitável risco da ciclicidade, no bom sentido. Acompanhando os movimentos contra produtos fast, ou seja, as frentes que privilegiam o cuidado à rapidez (slow food, slow travel, slow home…) temos na área jornalística, hoje, a ascensão do slow journalism, que tem como uma de suas diretrizes o interesse maior em ver como as histórias decorrem e terminam do que simplesmente constatar os fatos que as iniciaram. Neste decorrer da segunda década do século XXI é quase impossível não encontrar no passado influências ou referências que sustentam nosso pós-modernismo. No caso, a Delayed Gratification, uma das revistas mais famosas do movimento hoje, tem várias influências óbvias tiradas da The New Yorker, a mesma que possibilitou a formação do New Journalism na década de 60 do século passado.
Dos escritores mais notáveis e fundadores dessa supracitada geração, destaca-se Truman Capote (1924-1984), contista, dramaturgo, roteirista e autor de A Sangue Frio, visto por muitos como sua obra-prima. Publicado originalmente em quatro partes na própria The New Yorker, o grande sucesso da história levou os textos a serem compilados poucos meses depois do seu fim pela editora Random House em 1966. A edição analisada foi a mais recente, publicada no Brasil pela Companhia das Letras, 432 p., com prefácio de Ivan Lessa e posfácio de Matinas Suzuki Jr. Para quem só leu a capa e seu subtítulo mais do que revelador, esses textos são de integral importância para contextualização do livro. O excêntrico autor é uma das figuras mais polêmicas da área em sua época, tanto pela sua personalidade como por sua escrita – criticada ferozmente inclusive por colegas e também pelos escritores da geração beat (Burroughs, principalmente). A apresentação de Ivan Lessa mostra uma fala do escritor que dá o tom perfeito de como era seu caráter: “(…) a verdade é que eu escrevi uma obra-prima”.
Mais do que apenas revelar o final da narrativa, a capa, hoje, gera expectativas, o que pode ser tanto bom quanto ruim. Bom porque o leitor curioso e que não tem problemas com essa atitude vai ficar ainda mais instigado. E àquele que tem problemas levará um soco no estômago, vai (ou ao menos, deveria) amadurecer intelectualmente. Ruim porque pode trazer à tona uma impressão errada: os EUA guardam uma fama macabra pelos casos de serial killers, cada uma mais psicótico que o outro. Com obras como Helter Skelter, de 1974, e o impecável O Massacre da Serra Elétrica, do mesmo ano, fundou-se todo um imaginário de estereótipos. E A Sangue Frio nada tem a ver com isso.

Capote leu uma notinha no jornal sobre um crime em que uma família (o pai, a mãe, o filho e a filha adolescentes) foi brutalmente assassinada na própria casa, em uma pequena cidade do Kansas. Depois de digerir e refletir sobre o conteúdo, o escritor viu nessa pequena e desastrosa notícia algo muito interessante de ser investigado. Então, o autor viaja para a cidade e passa a acompanhar as investigações e a fazer muitas entrevistas com as mais diversas pessoas da cidade. Vale notar que é uma cidade pequena, com menos de 300 habitantes, que mal tinham o hábito de trancar as portas de suas casas durante a noite. Não é surpresa que o choque de encontrar de repente uma família brutalmente assassinada foi avassalador. Capote, entretanto, utilizou uma técnica muito inteligente, porém muito perigosa: as conversas não eram registradas na hora. Não havia anotações em papel ou gravadores. Dizia que tinha uma memória muito boa e era capaz de reproduzir com aproximadamente 95% de fidelidade o que via e ouvia. A proposta era tentar intimidar o menos possível os entrevistados, pensando que um caderno ou um gravador poderia fazer com que as pessoas alterassem seus discursos, não tivessem tanta confiança ou omitissem certos detalhes. Poderia, logo, estabelecer um contato muito mais próximo com o seu interlocutor e, diferentemente de um jornalista clássico, que se atém à fidelidade dos fatos e falas, traçar e penetrar a “alma” dos entrevistados. Justifica o que Capote chamaria da escrita do “romance de não-ficção”, gênero que se gaba de ter inaugurado com esse livro. E, ao mesmo tempo em que produz algo deveras interessante e aproveitável, cria também conflitos literários e éticos.
É dito que o material bruto da investigação é de aproximadamente oito mil páginas de manuscritos. Algo, no mínimo, ilegível. Não há como negar que condensar essa história não é trabalho para um fulano qualquer. Truman Capote já havia publicado quatro romances, e diversos contos e ensaios, ou seja, já possuia um bom (ou mal) reconhecimento no meio literário. O fato é que se somou à massiva quantidade de dados relações muito mais profundas do que a “simples” relação fonte-entrevistador. Capote teve de entrar em contato com os próprios assassinos para poder concluir seu romance e, segundo boatos, teria estabelecido uma relação homoafetiva com um deles, Perry Smith, que é muito humanizado na obra. É notável a diferença de tratamento entre ele e seu parceiro, Dick Hickock, descrito como muito mais brutal, perverso e traiçoeiro. E talvez realmente tenha sido. E reside aí esse grande mistério, essa grande ameaça à credibilidade. E mesmo que Truman Capote sempre tenha se declarado muito mais escritor do que jornalista, a atitude tomada por ele é muito perigosa. E isso sem falar da polêmica que essa perspectiva causou para os outros membros da família Clutter que leram o livro.
Como se já não bastassem essas polêmicas, o produto final, enquanto peça literária, é também complexo e, por vezes, defeituoso. Como um psicopata que executa seu plano torturante, milimetricamente planejado e à sangue frio (diferentemente dos facínoras da história real, que, no final das contas, levaram poucos dólares depois das execuções brutais e impensadas), Capote inicia uma narrativa congelada, truncada. Na primeira da quatro partes do livro, intitulada “Os últimos a vê-los com vida”, Capote usa de quase uma centena de páginas apresentando e descrevendo detalhadamente não só a família Clutter como também outras residências e personagens da pequena cidade. A escrita afiada dilui-se em um detalhismo inepto, assemelhando-se à mediocridade do descritivismo dos piores escritos de Eça de Queirós, por exemplo. Essa ferramenta não serve nem como tempo para respiração, nem como analogia (os usos mais comuns). Teoricamente, seria a parte do romance que mais se aproxima do modelo jornalístico. Porém a abundância de detalhes confronta, novamente, a credibilidade. A não ser sob um olhar virgem, ingênuo que se é possível não torcer o nariz para certas passagens. Seria mais coerente intitular essa passagem de “A Sangue Coagulado”. Imagina-se, talvez, que essas figuras apresentadas tomem suma importância no decorrer da narrativa. E realmente algumas servem como plano secundário para explicação de certas consequências. Destaca-se a equipe policial, principalmente o xerife. Mas nada perto de uma sensação de algo como feito em Watchmen, por exemplo. A cidade, Holcomb, não entra para a lista de personagens.

Por sorte, as próximas partes são menos empelotadas. Capote prefere injetar um anticoagulante eficaz durante a metade da segunda parte, “Pessoas desconhecidas”, ao invés de administrá-lo por via oral desde o início da narrativa. As pedras da leitura se desmancham gradativamente e o fluído pode, finalmente, circular entre o livro e o leitor. A rima entre a forma e conteúdo se torna mais clara, ágil, e o conhecimento invejável do escritor na construção de seus parágrafos fica agradável e, pontualmente, surge um humor sutil, até mesmo em passagens mais absurdas – o que acaba sendo um tanto involuntário, diga-se de passagem. Mistura-se raiva e familiaridade com os dois lados, tanto dos assassinos quanto do lado da família e conterrâneos. Fica bem claro que houve uma desestabilização comercial e social da cidade, mas, repito, soa deslocado e secundário na movimentação da narrativa. Uma movimentação composta de picos e vales. Analogicamente, mais parecido com oscilações barrocas do que com a excitação e os impulsos de jazz. Também, como não ser carregado por essa “síndrome barroca” dentro do redemoinho em que o escritor se arriscou a adentrar? Como não se empolgar e costurar William Steffe e seu Battle Hymn of the Republic, cantado por Perry e Dick no final da segunda parte (“Glory! Glory! Hallelujah!”), com o clássico Hallelujah de Messias de Händel? Ou ainda comparar, já na terceira parte, “Resposta”, ao “Inverno” de Vivaldi, oscilando freneticamente entre núcleos narrativos, colocando a história em um desenrolar de alta velocidade? Sob essa perspectiva, a narração de Capote personifica um caráter cinematográfico: muitas imagens, muito precisas, acompanhadas de trilha e ritmo.
Essa cadência alucinante tem uma freada, não brusca, na quarta parte, onde os assassinos são pegos pela polícia, interrogados, julgados e executados. A marcha diminui gradativamente. É um capítulo do livro muito interessante, pois aborda questões sobre pena de morte, as prisões da época, os tratamentos, o famigerado corredor da morte… Um detalhe soturno fica muito explícito: Capote preferiu a injeção direta do anticoagulante do decorrer da narrativa, mas fica claro que ele adicionara, desavisadamente, pela via oral certas abordagens em relação aos criminosos (em relação à Perry, principalmente) para colocar o leitor em uma situação complicada, de indecisão, raiva ou pena. Trágico, o final também pesa como uma última sequência de um longa, com a imagem de um pôr-de-sol em fade-out e a música em fade-in.
Vale também um comentário sobre a tradução. Sergio Flaksman, que já traduzira seu primeiro Capote aos 18 anos (Breakfeast at Tiffany’s ou Bonequinha de Luxo), retorna em mais um trabalho impecável. Sem subestimar o escritor de A Sangue Frio, mas para quem já traduziu Shakespeare, Philip Roth e Henry Miller, esse caso é só mais uma tarefa. Curiosa, a língua proporcionou para o português o mérito de uma ambiguidade involuntária para o título da quarta parte: em inglês “The Corner”, chegou para nós como “O Canto”. É o canto, o ângulo reentrante formado pelo encontro de duas superfícies, posto a um canto, afastado, desprezado. É o canto, o derradeiro canto, que se calará com o encerramento das gargantas pela oposição do peso do corpo e da tração da forca. Mesmo se as histórias são verdadeiras, A Sangue Frio não é uma obra-prima, mas, para Capote, é, ao menos, “a morte do cisne” do carnaval de seus demônios.
A Sangue Frio (In Cold Blood, 1966)
Autor: Truman Capote
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 440