Obs: aqui proponho uma análise cinematográfica e não apenas uma resenha. Logo, encontrará um texto bastante longo e repleto de spoilers. Evite ler se ainda não tiver assistido ao filme.
Nada mais belo no Cinema do que a infame justiça histórica, afinal, até que ponto um clássico realmente se torna um clássico? Ou que merece tal alcunha? É um verdadeiro mistério gerado por um consenso de opiniões positivas, relevância social e estudos profundos sobre o que cada uma dessas obras tem a nos dizer em diversos níveis e camadas.
Com o cinema cada vez mais pasteurizado, fica extremamente difícil apontar o que será clássico no futuro. Essa dúvida também permeava o cinema dos anos 1980. Na época, Ridley Scott estava em franca ascensão depois do estrondoso Alien, O Oitavo Passageiro, e o diretor não tardou a receber mais uma difícil incumbência em trazer o impossível da ficção científica para as telonas.
Adaptando Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? De Philip K. Dick, Scott dedicou todo seu esforço intelectual para manufaturar um filme grandioso que dialogava com questões existencialistas que o cinema blockbuster da época nem sonhava abordar. Todo o esforço rendeu um dos maiores fracassos da História do Cinema. Blade Runner, O Caçador de Androides colecionou recordes negativos em sua estreia e todos pensaram que a história morreria por ali mesmo.
Porém, o destino reservava boas coisas para aquele diretor e também para seu projeto a frente do próprio tempo. De fato, Blade Runner nunca virou uma febre pop, mas virou um ícone cult. Os cineastas que buscavam se aventurar na ficção científica olhavam para trás buscando referências visuais e sonoras para ajudar a modelar uma nova visão.
A Perfeita Ironia do Destino
Assim como Kubrick virou uma obrigatoriedade por causa de 2001: Uma Odisseia no Espaço, também virou Ridley Scott com seu filme sobre o caçador de androides. Com tanta martelação, tantas menções e tanta discussão sobre seu conteúdo, as pessoas olharam para trás e perceberam que havia algo transformador em Blade Runner. Se não isso, simplesmente havia algo.
As pessoas passaram a olhar o filme com um carinho diferente o alçando para um sucesso tardio que torna a história dessa produção absolutamente fascinante. De todos os grandes filmes do Cinema, com certeza nunca pensaria que logo Blade Runner ganharia uma sequência nesse século. Mas nunca dica nunca. Com o renascimento da ficção científica cinematográfica nos últimos anos, as produtoras vasculham a fundo o que pode ser financeiramente relevante trazer para as telonas.
Mesmo atingindo aquela posição de filme intocável, nada é sagrado aos olhos do mercado. Blade Runner renasceu na forma de um blockbuster digno dos nossos tempos, mas abordado de modo mais cauteloso, afinal mexer em um ícone cult é algo delicado. Em uma raríssima joint venture – produção conjunta de dois estúdios – vimos a Warner e a Sony unindo forças para fazer Blade Runner 2049 um verdadeiro acontecimento.
Chamaram os nomes mais quentes da indústria para conduzir o longa de modo mais correto e apurado possível, afinal nada poderia dar errado nessa produção. Na direção, o franco-canadense Denis Villeneuve foi o encarregado da árdua tarefa de transportar o clássico dos anos 1980 para a atualidade. Roger Deakins, o maior cinematógrafo da atualidade, traria o requinte da iluminação e visual tão bem elaborado por Jordan Cronenweth no clássico. Na música, Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch entrariam de última hora para substituir Jóhann Jóhannsson e trazer de volta os sintetizadores aguçados de Vangelis. E até mesmo o roteiro contaria com a presença de Hampton Fancher, principal roteirista do original.
Com 185 milhões de dólares na mesa e diversos talentos realmente competentes envolvidos, a expectativa de todos era bastante alta. Será que Blade Runner 2049 também possui aquela alma que todos filmes desejam? É o que descobriremos a seguir.
A Insustentável Artificialidade do Ser
Como disseram, a própria sinopse do filme é um baita spoiler: o protagonista blade runner K é um replicante. Em mais um dia como qualquer outro no trabalho, K caça e mata um replicante Tyrell pré-Blecaute vivendo como fazendeiro de proteína para a Wallace, empresa que conseguiu driblar a crise alimentar com o advento das comidas sintéticas. Depois de destruir o gigantesco replicante Sapper Morton, K nota pistas de algo perturbadoramente curioso na árvore morta do jardim da casa.
Uma data misteriosa está incrustada na madeira. E há algo enterrado e escondido entre suas profundas raízes, uma verdadeira Caixa de Pandora guardando o mais perigoso dos segredos. Depois de uma análise minuciosa das ossadas encontradas, K descobre que o esqueleto era uma replicante chamada Rachael e que, driblando a impossibilidade, ela gerou um filho e morreu no parto.
Sob as ordens de sua chefe, que teme que essa criança possa trazer um colapso na sociedade extremamente dividida entre humanos e replicantes, K parte em busca desse híbrido ou novo ser para exterminá-lo. Porém, sua investigação apenas o conduz para uma jornada de autodescobrimento o encaminhando em uma conspiração muito maior que o papel que ele estava programado para desempenhar. Pela primeira vez em sua vida, o replicante K terá que seguir seus próprios instintos. Escrever seu próprio destino.
É bastante impressionante notar como Blade Runner 2049 é um filme bastante original por si só. A premissa de sua história traz algo de novo para o gênero, além de trazer uma investigação consideravelmente simples, mas de poder magnético tremendo. Se fosse para apontar com clareza o que é a alma do filme, essa certamente tem nome: o protagonista K vivido por Ryan Gosling.
Na verdade a narrativa de investigação, apesar de ser a trama principal desenvolvida por Fancher e Michael Green, é consideravelmente simples e bastante lógica. Suas reviravoltas muito cirúrgicas conseguem fazer o espectador trair o pensamento que havia construído na grande maioria do filme. Os roteiristas estão muito mais interessados no personagem do que na jornada dele.
É justamente por isso que os dois primeiros atos são verdadeiras peças de mestre. Neles, os roteiristas trabalham a narrativa em diversos níveis, explorando aquele futuro pessimista a fundo com inúmeros personagens que surgem de maneira sempre funcional. Assim como em Blade Runner, 2049 tem a grande beleza de desenvolver seu protagonista sem a menor necessidade de diálogos expositivos. O poder da transformação vem através da imagem e de situações calculadas de modos extremamente inteligentes.
Foquemos, por hora, no primeiro ato do longa. Nele, assim como em tantos outros filmes, somos apresentados ao cotidiano de K. Uma morte de um replicante qualquer, suas mini-batalhas ordinárias enfrentando o preconceito dos humanos tanto no trabalho quanto no complexo residencial, no infernal interrogatório de calibragem para checar o nível de confiabilidade de I.A., das ordens ásperas de uma delegada que nutre algum carinho por ele, mas que também o castra a todo momento, até, enfim, chegar em sua simples morada e ser recebido de braços abertos pela sua esposa Joi.
Porém, até mesmo em sua hora de descanso, K não tem paz ou pode ignorar sua natureza artificial. Joi é apenas uma outra inteligência artificial manifestada por hologramas na casa. Os dois nunca podem ter contato físico real. Ela é mais uma ilusão em seu dia a dia. Mas ela se torna a única verdadeira amiga e distração de K, pois há indícios de que Joi seja muito mais do que um programa pré-fabricado.
O espectador compreende naquele momento que a vida de K é cercada pelo artificial. Somente pelo trato da encenação de Denis Villeneuve e da melhor atuação da carreira de Ryan Gosling, é possível denotar certa melancolia em K. Ele simplesmente se contenta com sua existência e se resigna a aceitar seu papel na sociedade. Logo, não há aquela sensação de não pertencimento e visão crítica, niilista, do mundo ao seu redor como tínhamos com Deckard em Blade Runner. Nesse primeiro momento, não é preciso abordar o existencialismo.
Porém, na conclusão desse ato nada menos que perfeito, vemos um ápice criativo na relação de K com Joi. Por conta do sucesso da missão, o replicante recebe um bônus que permite comprar um emanador – um aparelho que torna Joi portátil tornando-a companheira de suas aventuras.
Em um momento belíssimo, vemos K levando Joi para experimentar a “sensação” da chuva. Mesmo que as gotas atravessem o holograma, Joi se sente plena naquele momento poético. Sozinhos no telhado, em um raro momento de escapismo e paz. Quando os dois estão posicionados para dar o beijo de suas vidas, a delegada Joshi liga para K, travando o programa de Joi. O momento mágico e quase real é completamente quebrado pela intrusão humana. K encerra a ligação, Joi permanece travada em uma inconsciência cruel que esbanja inocência. No fundo, K sabe que não há nada fora do ordinário em sua vida plástica. Tudo é artificial, tudo é sintético e sua vida já é programada. Sua liberdade como blade runner é apenas mais uma de tantas prisões que as I.A.s vivem diariamente.
Expansão do Mythos
O segundo ato de Blade Runner 2049 é onde os roteiristas e Villeneuve decidem expandir a mitologia desse mundo. Já com nosso protagonista consolidado, assim como seu conflito – reitero a importância da sensibilidade e atenção do espectador para decifrar as sutilezas oferecidas pela imagem, não é preciso focar no íntimo com tanta ênfase.
Agora é a vez da investigação brilhar. Apesar do miolo ser a parte mais extensa e de espaçamento lento, as novas características e pequenas descobertas fazem valer a atenção do espectador mais atento. A estrutura do texto acompanha a simplicidade do ato anterior, com uma pista levando a outra em uma sucessão de eventos bastante interligados.
A ossada de Rachael leva K até a Wallace Inc. para pesquisar os raros vestígios dos arquivos sobre quando ela era viva. Porém, antes de mover a narrativa, os roteiristas sempre se ocupam em encaixar diálogos pertinentes ao desenvolvimento de K. No caso, a chefe do blade runner ordena que ele encontre e elimine a criança nascida de Rachael. K apenas pondera que nunca matou algo que havia nascido, algo que possuísse alma. A chefe rebate dizendo que K está se saindo muito bem sem uma alma.
Novamente, Gosling se supera na sutileza das variações mínimas do olhar. Disfarçado pelo sorriso amarelo, sabemos que as palavras machucaram o protagonista. Além disso, é sugerido outro ponto importantíssimo ali quando K diz que não sabia que tinha a opção de desobedecê-la. Esse é um ponto-chave do seu desenvolvimento.
Já na Wallace, temos a mesma coisa acontecendo. A dupla de roteiristas usa estrutura similar a cada passo da investigação. Por muitos meios, Blade Runner 2049 é um filme de pouco papo. Quando os personagens abrem a boca para falar, pode ter certeza que algo de muito importante será dito. Em dos raríssimos casos do cinema recente, não há conversa fiada nesse filme.
E realmente coisas importantes são ditas nessa cena também. Pela primeira vez, abordamos o conceito da memória que será algo de extrema importância no resto do longa. O atendente contextualiza sobre o Blecaute e a perda de informações contidas nos drives da época. Ele se admira que o que restou foram apenas os antiquados registros em papel.
A crítica não poderia ser mais atual. A mensagem não serve somente ao filme e a questão da artificialidade da memória e da informação, mas como também atinge o espectador. É uma ponderação de pensamento básico: nós confiamos em sistemas on-line em excesso. Nossos dados são salvos na nuvem, os registros diários também, assim como fotos, vídeos, textos e diversas criações. Na era digital, temos apenas a ilusão de uma segurança estável quando na verdade ignoramos sua fragilidade. Tudo o que possuímos na internet não é real, é ilusão, assim como o cotidiano sintético de K.
Ainda ali, novamente há pinceladas de provocações quando Luv conhece K e indaga sobre Joi, se o cliente está satisfeito com o produto. Ele responde “ela é bem realista”. Como sabemos, o que é realista em Blade Runner também pode não ser real. K mergulhará em ideias e memórias tão realistas que ele mesmo passa a acreditar em uma mentira criada por si próprio, mas que no final é tão artificial quanto sua vida.
Ensaio Sobre a Cegueira
Pela primeira vez no filme, abandonamos o olhar do protagonista. Somos apresentados ao antagonista Wallace e sua motivação para encontrar essa mesma criança que K procura. Um momento raro de exposição surge, suas motivações são definidas e Jared Leto esbanja presença de cena. Wallace é extremamente contido, mas sabe que não é um gênio perfeito como Tyrell foi. O truque final da reprodução entre replicantes foi completamente perdido, e Wallace não aguenta saber que não consegue criar “anjos” perfeitos.
Obviamente, mais uma vez, temos um filme influenciado pela jornada bíblica tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Wallace faz às vezes do Diabo, é a representação clara da entidade maligna. Ele cria seres artificiais e faz personificações falsas de sentimentos. Como Joi, vem de Joy, a alegria. Uma alegria falsa de um produto claramente destinado para acalmar a ânsia da solidão do mundo moderno, da constante necessidade de atenção, apoio e companhia. Mas sabemos que Joi serve para meios muito mais escusos do que aqueles que K utiliza. No fundo, Joi não traz alegria a ninguém, apenas perpetua a falta de sentimento e empatia daquela sociedade nem um pouco distante à nossa.
Ou com Luv, de Love, do amor. Uma assistente replicante que somente representa caos, frieza e destruição. Um “anjo” que é apenas um acólito de um demônio maior. Sob o pretexto de boas conquistas como a erradicação da fome, Wallace se vê como um salvador, um Messias que trará grandes triunfos para a humanidade e sua expansão colonial enquanto o faz massacrando seus “anjos”, sua mão de obra escrava.
Apesar de ser uma representação que já está beirando o esgotamento neste ano, é funcional e traz bons elementos. O principal deles com certeza é quando presenciamos o nascimento e morte de uma replicante amedrontada.
Wallace interpreta que o medo instantâneo de morrer é o que traz a realidade da existência para os replicantes, um apego monumental à vida. Mas o que vemos é ambíguo. A mulher talvez tema justamente existir uma existência artificial, uma vida fadada a memórias falsas, a nenhum prazer, uma vida indesejada, uma vida de dor. Para a silenciosa replicante, a existência é um fardo. Que logo é encerrado quando Wallace a assassina para provar um ponto: mesmo em seus mais novos e perfeitos modelos, nunca haverá o tão sonhado sonho da fertilidade.
Nosso vilão desaparece e Luv passa a espionar K.
Medo da Verdade
De todas as decorrências da investigação, esse trecho que envolve a “descoberta” de K é o mais importante da obra. Com uma construção muito bem pensada, os roteiristas criam uma conspiração dentro de uma conspiração para enganar o espectador até os momentos finais do longa.
Aqui, a construção progride com uma mistura de cotidiano e expansão de mitologia. Há a inserção da personagem da prostituta, bem como temos mais diálogos entre K e Joi, além de maior aprofundamento na relação dele com sua chefe. Como a investigação empaca, K revisita a fazenda de Sapper Morton e descobre mais segredos guardados, incluindo a inscrição de uma data que o assombra com violência.
Em primeiro momento, não sabemos o que é aquele flashback tão súbito, mas logo descobrimos com o penúltimo diálogo de K com a tenente Joshi. O que antes era apenas sugerido, agora fica bastante evidente. Em um pedido para contar uma memória de infância, K indaga qual o sentido de compartilhar algo implantado, algo que não é real. Joshi apenas reforça o pedido e nós conhecemos a história da infância e do cavalo nas fornalhas frias, mas ainda faltando o detalhe crucial da inscrição com a mesma data cravada na árvore morta.
Praticamente no único momento de verdadeira conexão entre K e Joi, temos a sessão de procura pelo DNA da criança nos registros de nascidos naquela data. Enquanto K pesquisa, Joi se manifesta e compartilha o segredo da data com o público – percebam como a entrega de detalhes cruciais da investigação são oferecidos na cadência correta, espalhando informações completas em fragmentos revelados em cenas distintas e espaçadas. Esse é o truque que torna Blade Runner 2049 um filme longo, apesar da narrativa simples. O jogo de fumaça é preservado até os últimos instantes.
Porém, além da revelação da data no brinquedo, novamente temos outro dialogo cirúrgico. Joi diz que é “tudo bem sonhar um pouco” e K responde “não se formos nós”. O protagonista tem plena consciência de sua escravidão sintética e se recusa veementemente a aspirar algo acima disto. Aqui também, no âmago da “caverna”, os roteiristas oferecem a pista derradeira para o espectador que irá ignorá-la completamente. Quando K afirma que a menina de DNA igual está morta, ele também avisa que um deles é uma cópia, um registro falso. Isso funciona como um elegante foreshadowing que nenhum de nós enxergamos por conta de anos de narrativas manjadas que não tem a ousadia necessária para fazer um grande truque como esse. Simples, mas genial.
É particularmente curioso que na metade do segundo ato, os roteiristas mudem um pouco as regras que estavam estabelecendo em sua estrutura. A expansão da mitologia retorna quando conhecemos o Orfanato de Mesa e o lixão de San Diego. Vemos uma humanidade tão marginalizada quanto os replicantes, esquecidos à própria sorte no meio da podridão. Aqui, não há o muro que divide a sociedade, os dois lados são igualmente amaldiçoados.
A realidade que K tanto procura é mostrada com crueza, mas o herói não percebe que ser humano e ter uma história não significa absolutamente nada, que não há salvação naquele breu. K está focado na investigação que parece levar a um beco sem saída, mas ao chegar no Orfanato, reconhece os corredores das fornalhas que tanto viu na memória que julgava ser implantada até então.
Com medo da verdade, K vai até a fornalha fria na qual se lembra de ter guardado o cavalo. Ali, o impossível acontece. Ele “reencontra” seu brinquedo de infância. Se há uma infância, K é mais do que um replicante. K acredita ser o filho de Rachael, a criança que ele tanto procurava. E instantaneamente é apavorado pela ideia de sua vida deixar de ser uma ilusão.
Prisões Artificiais
Após essa até então verdadeira catarse, K retorna para casa a fim de discutir com Joi. Aqui, temos a inserção de um conceito importantíssimo, do nome de K. Joi o batiza de Joe e esse ponto é um ótimo gatilho que só é disparado no fim do filme. Como disse, nada dos diálogos de Blade Runner 2049 vem por acaso.
Para averiguar se sua memória é real, K visita a fábrica de memórias de Ana Stelline. Já aqui, é bem possível perceber o jogo que os roteiristas empregam para semear revelações que estavam na nossa cara. Também, já adiantando o que sabemos, é curioso notar o cuidado de Fancher e Green para criar uma história e contrastes de Stelline com seu pai e K.
Mencionando a palavra apenas uma vez, notamos que um tema pilar do longa é “prisão”. Nossos cinco personagens principais vivem em diversas prisões: Luv, Joi, Stelline, K e Deckard. Todos estão de algum modo isolados, sem liberdade, em confinamentos artificiais. Inclusive, K, Joi e Stelline estão presos em uma enorme mentira: Joi acredita que seu sentimento por K é real e não programado, K acredita ser real e Stelline acredita na razão de seu confinamento – mesmo que isso não seja admitido no final, é bastante lógico que a personagem seja preservada em uma prisão esterilizada tendo a importância que tem.
É um grande momento tanto para a narrativa quanto para Ryan Gosling. A confirmação do seu maior temor o machuca profundamente. O personagem sabe que está em maus lençóis – ele nunca quis ser mais do que era e, subitamente, torna-se um acontecimento na história. É uma mentira tão sólida e boa que os roteiristas constroem que é praticamente impossível não cair como um patinho. Todos nós acreditamos que K era o filho perdido de Deckard.
Nessa catarse amedrontadora, K não tem nem tempo para digerir a informação da sua memória real, tornando-o tão real quanto ela. Aqui os roteiristas fecham as pontas de outras subtramas envolvendo o cotidiano de K: a vida profissional e a amorosa. É algo tão bem desenhado e rimado com o fim do primeiro ato que posso até dizer que me sinto apaixonado pela estrutura dessa narrativa.
Primeiro pelo novo teste de paramêtro insuportavelmente alto. Aqui, o diretor Denis Villeneuve brilha ao usar diferenças tão sutis com o primeiro teste que o espectador pode não perceber, mas as indicações da mudança profunda em K estão lá. O personagem demora mais para responder, engole em seco e sua frio. A resposta do inquisidor que antes era tão simpática – Constant K! – agora se torna irritadiça e áspera com Você não está nem perto do seu normal. K sabe que sua vida como blade runner acabou, assim como sua história com a chefe Joshi. Nesse ponto, a catarse já não o assusta mais. Está na hora de K assumir seu verdadeiro eu.
Para isso conta com Joi, sua única confidente e que sempre disse que ele era especial – atenção ao “sempre disse”. Mas antes de qualquer conversa, Joi o surpreende com a presença da prostituta que K havia conversado com em cenas antes. Como sempre, para Fancher e Green, detalhes que poderiam ser insignificantes ganham novas dimensões, assim como a prostituta ganha mais importância na trama no terceiro ato.
Em uma cena mimese de Ela de Spike Jonze, vemos uma sincronização de Joi com a replicante prostituta, na vã tentativa de tornar a relação amorosa entre ela e K algo “real”. Como de hábito, Villeneuve e os roteiristas não encerrariam o segundo ato em tom otimista e já dão outras pistas sobre a mentira que K passou a acreditar.
O resultado é cruel. A cena da sincronização é tão mágica e romântica quanto a da visita de Joi no telhado antes do sistema operacional travar. Aqui, não vemos todo o progresso do ato, nós sabemos que K e Joi se relacionam. Por isso, Villeneuve, através do cruel contraste dessa cena com a imagem que encerra o ato, consegue transmitir mensagens importantes. A câmera abandona o protagonista e passeia rapidamente na cidade até encontrar um outdoor de Joi. Nesse momento, pela primeira vez, é revelado o slogan do produto: Tudo o que você quer ver, escutar, sentir…
E de fato, Joi somente diz o que K quer ouvir, se exibe do modo que ele quer vê-la – a personagem é apresentada com as vestes e penteados típicos dos anos 1950, de uma tradicional família americana suburbana, trazendo um prato virtual com comidas saborosas de ingredientes reais que disfarçam o gosto amargo da gororoba sintética da qual ele se alimenta – e também faz ele sentir um sentimento “real”. Detalhe até mesmo para a escolha da canção de Fank Sinatra, Summer Wind, uma música sobre solidão, reforçando a ironia cruel sobre Joi e a vida pessoal de K.
A magia de Blade Runner 2049 é não deixar essas sutilezas sublimes escancaradas. É preciso pensar um pouco para decifrar o filme que é consideravelmente bastante fácil de compreender. Dito isso, nós sabemos que K realmente ama Joi. É a única coisa real na vida dele. Mas também sabemos que Joi é apenas programada para adorá-lo e fazê-lo se sentir bem. A visão do filme é essa e isso é sustentado pelos fatos pertencentes à diegese que já apresentei acima. Se não fosse por esses momentos de clara lucidez cinematográfica, o longa perderia bastante do seu encantamento misterioso.
O amor de K pelo artificial, segundo o filme, é um sentimento totalmente irreal. Mesmo na esfera mais íntima do seu ser, K está condenado ao artificial, a uma prisão ainda mais cruel que a de seu trabalho. E ele não tem consciência disso.
Ainda.
A Ilusão de Édipo
Após mais uma preocupação dos roteiristas em estabelecer o caminho das pedras, K se coloca em jornada até Las Vegas, local que Deckard possivelmente está escondido. É aqui que começa uma narrativa que trai o mito de Édipo: ele segue o mesmo tema da profecia do mito e acredita estar cumprindo os passos, mas que no final, tudo o que fez não passava de mais outra ilusão. K não cumpre profecia alguma, K não é o escolhido.
Estamos pulando partes nesse momento. O terceiro ato é o mais silencioso de toda a obra por um motivo bastante simples: só resta uma ponta fundamental para concluir o arco de K e sua busca pelo real.
Possivelmente, toda a sequência em Las Vegas é onde Villeneuve arregaça as mangas para mostrar sua autoria como diretor. Imediatamente já temos uma repetição estética de usar a câmera como parte natural da diegese com o olhar aéreo do drone de K. A cada ordem do personagem, a câmera obedece. É um efeito bastante interessante que é mais corriqueiro na linguagem de games digitais.
Enquanto K vaga entre as ruínas de uma cidade artificial, há alguns importantes planos mostrando duas imensas estátuas erotizadas de mulheres objetificadas, vendidas como produtos em uma terra fantasiosa de prazeres. Nota-se, obviamente, que o diretor busca criar um paralelo entre aquela publicidade de outra era com Joi. A crítica é ferrenha: mesmo com tantos anos de progresso, a humanidade ainda comete os mesmos erros e vícios na modernidade.
A comparação visual é tão forte que uma das estátuas está exatamente na mesma posição que Joi fica no fim do 1º ato, com os olhos fechados, de boca aberta, esperando um beijo que a tire de uma vã e vil existência.
Atravessando o artificial, Deckard tem o seu primeiro contato com a realidade na vida: uma abelha pousa na sua mão. O choque com a realidade é tão impactante que K não se importa de ter um punhado inteiro de abelhas coladas em suas mãos momentos depois. A cena tem significado prático e simbológico. O prático é para mostrar como Deckard sobreviveu tanto tempo sozinho em uma zona supostamente radioativa. A abelha tem diversos significados em muitas culturas, mas a simbologia mais universal é que a abelha simboliza a alma.
Desse modo, temos um foreshadowing muito sutil sobre a conquista da alma, da realidade, da humanidade que K tanto procura. Preste atenção justamente pelas abelhas estarem concentradas pela mão. A mão é enfatizada a todo momento por Villeneuve. Vemos K tentar tocar a artificial Joi e o amor que julgava verdadeiro, vemos ele tocar no papel procurando desesperadamente uma pista, depois tocando no cavalinho de sua memória (um dos toques reais de sua vida) e, por fim, o toque com a neve, a forma sólida mais leve da agua. Uma transição do seu ser.
O encontro de K e o reencontro da plateia com Deckard é fiel a alma do filme: anticlimático, traidor de expectativas. O tempo é perdido em uma grande sequência de luta e tiroteio. As respostas nunca chegam e Deckard se retira. As respostas são encontradas pelas memórias reais e físicas que K encontra no salão.
Não há paz para o protagonista. Luv e outros replicantes da Wallace partem para capturar Deckard acreditando que ele tem o segredo para a reprodução replicante. Esse é o ponto mais controverso do filme: o sequestro de Deckard. Luv explode uma parte do cassino, destrói Joi antes dela completar sua despedida amorosa à K e vai embora. Em uma jogada burra, ela não mata K ali mesmo quando ele está completamente ferido.
Mas seria essa escolha uma verdadeira burrice do roteiro? Na verdade, não, não é. Isso também vem através do minucioso e sutil trabalho de Fancher, dos roteiristas e das atuações de K e Luv. Os novos replicantes têm apenas a ilusão do livre arbítrio. Eles são designados sempre a obedecer às ordens humanas. K diz a Joshi que não sabia que tinha opção de não matar a “criança” especial, K nunca age por si só enquanto está normal, apenas passa a mentir quando já é transformado pela descoberta da “realidade” de sua memória. E partir disso é que K passa a agir por conta própria, tornando-se especial.
Luv já é apresentada como “alguém muito especial por receber um nome”. Ela já é ardilosa e mente, mas também obedece única e exclusivamente às ordens de Wallace. Além disso, não crê que exista um replicante capaz de agir de modo tão abstrato, sem as ordens de um mestre. Logo, não esperava que K fosse partir atrás de Deckard. Para ela, K é só mais um produto da Wallace, como Joi. Logo, faz total sentido ela deixá-lo vivo naquele instante para perecer sem um mestre.
O que Luv espera não acontece.
Quando a Realidade Bate à Porta
Agora sim adentramos as partes delicadas do roteiro. Fancher e Green tinham se preocupado até mesmo em dar explicações lógicas para eventos conhecidos como deus ex machina com os bombardeios de drone para salvar K, mas aqui, não há muito capricho em apresentar uma célula revolucionária para a libertação dos replicantes.
K é resgatado pela prostituta e outros replicantes rebeldes que o apresentam para a líder da vindoura revolução, a replicante da Tyrell, Freysa que também batalhou em Calantha ao lado de Sapper Morton.
Fancher e Green já tinham introduzido Freysa de forma misteriosa na trama. A importância da personagem Mariette, a prostituta, cresce bastante ao amarrar essas pontas, unindo-as em uma subtrama só. De certo modo, mesmo que seja claramente um foco narrativo incluído na esperança de deixar uma ponta solta para uma improvável sequência, os roteiristas têm a esperteza de inserir a revelação final do filme justamente nessa cena.
Freysa surge primeiramente como uma figura materna, pronta para receber K ou Joe, o especial, como o Messias da revolução. K até mesmo anseia por isso, mas Freysa rapidamente se torna uma figura castradora, alguém de papel similar a de Joshi em seu passado. Freysa lamenta, mas informa a K que ele não é especial, é apenas mais um dentre milhares de replicantes escravos de vidas artificiais.
A desolação do personagem é grande e Gosling brilha novamente na entrega da cena. Ele mesmo tem uma catarse e o quebra-cabeça se encaixa inteiro em sua mente. Porém, agora que ele provou a realidade e o livre-arbítrio, como raios voltaria a ser um replicante normal? Ele voltaria a receber ordens de outra figura feminina que acha que possui autoridade? Voltaria a ser um replicante domado?
Freysa tenta persuadí-lo em seu plano pérfido para matar Deckard temendo que ele revele seu paradeiro. Freysa também não é flor que se cheire e sentimos a ambiguidade na personagem. Ela diz que a atitude é “mais humana que humana”, se pondo em um patamar acima da humanidade, proclamando que a resistência precisa sobreviver. Mas o que realmente temos aqui é um instinto de preservação. Freysa não quer morrer e essa é a principal motivação para ela persuadir K. Lembre-se, em Blade Runner, a zona cinzenta é gigante.
A realidade não bate à porta apenas de K. Deckard agora em poder de Wallace também é obrigado a enfrentar seus próprios demônios. Na segunda cena em que o antagonista Wallace surge, temos momentos excelentes de entrega de Harrison Ford e Jared Leto em um diálogo fascinante de tão bem escrito e tão bem sacado.
Fancher e Green mantém a ambiguidade se Deckard é ou não um replicante, além de testarem o limite do sentido da vida do herói. Para compreender a delicadeza cruel da cena, precisamos lembrar sobre o filme de 1982. Deckard odiava sua existência, odiava seu ofício, odiava a cidade, odiava tudo. Não havia prazer em sua vida. Até que ele reencontra um sentido de viver ao se apaixonar por Rachael. A replicante torna sua vida real novamente.
Porém, quando ela morre dando à luz, Deckard novamente se vê assombrado pelo passado, alienação, ostracismo e isolamento. Ele é condenado à infelicidade, a abandonar a própria filha para não ameaçar a vida dela, se lançando em uma cidade fantasma. Deckard só existe, assim como K. Ele não vive e não tem contato com o real. É caso clássico do dead man walking.
É justamente nessa negociata com o Diabo disposto a oferecer maravilhas, sonhos e novas memórias – todas artificiais – que nosso querido herói precisa ter compostura. Quando Wallace oferece uma nova Rachael, um anjo refeito, para Deckard, vemos Harrison Ford se esforçar para trazer o sentimento de pesar e leve repulsa por aquele ser que recusa a acreditar ser Rachael de volta a vida.
Aqui, muita gente aponta como um erro do filme, mas este é um dos maiores acertos hardcore que só fãs muito atentos vão notar. Quando Deckard diz para Wallace que aquela replicante não era Rachael por conta da cor errada dos olhos, na verdade se trata de uma mentira gigantesca – assista ao anterior novamente para averiguar a informação, é fato concreto, além da própria Sean Young possuir olhos castanhos.
A cor dos olhos de Rachael era aquela mesmo na nova replicante. E como sabemos, os olhos são a janela da alma – um dos temas mais presentes do original. Ao se deparar com aqueles mesmos olhos artificiais que ele já amou um dia, Deckard é confrontado com dúvidas: se aquilo tudo foi real, se teve valor, se Rachael realmente era única e se ela realmente tinha uma alma – lembrando que “nascer é ter uma alma, eu suponho”, segundo K.
Wallace oferece um presente, mas apenas amargura ainda mais a existência de Deckard. Preservando o que lhe resta do grande amor que viveu no passado, mente e vira as costas. O fato dele mentir torna toda a situação ainda mais triste, já que é a segunda vez que ela morre. Ele não a vê partir novamente e sai andando, derrotado e destruído.
O Diabo, insolente e possesso por ter sido recusado, se vê na sabedoria de ameaçá-lo. “Você conhecerá a dor verdadeira”. Em sua megalomania arrogante, Wallace não percebe que seu presente foi a maior dor possível que Deckard poderia encarar. Sua vida já não tem mais significado e ele está pouco se lixando para o que irá acontecer consigo. Ele mesmo admite antes do presente que “já conhece a dor”.
Desse modo, Wallace, o criador de sentimentos artificiais como Joi e Luv, acaba oferecendo a única sensação que sabe ofertar a todos que consomem seus produtos: dor.
Mestre do próprio destino
Como perceberam, em apenas duas grandiosas e importantes cenas, a realidade atropela e pune K e Deckard. A existência é só dor. E é a dor que nos torna reais, nos lembra a razão de estarmos vivos.
Ainda falta um ponto importante para concluir K. Ele não atingiu o fundo do poço ao terem roubado tudo o que ele estimava, a sua memória “real”. O pior vem com a caminhada noir do policial derrotado. Sob a chuva ácida e lacrimosa de uma cidade fétida e desprezível, K precisa enfrentar a maior das mentiras que tinha vivido até então: o amor que nutriu por Joi.
Interrompido por um holograma outdoor de Joi, K para e escuta. A abordagem da I.A. é muitíssima similar a abordagem de uma prostituta, afinal o holograma só tem uma razão de existir: vender o produto. Mesmo cabisbaixo, um alento de uma antiga amiga parece confortar K, até chegar a hora da despedida de Joi.
Para dar um adeus sem a consciência da história de K com outra Joi, o holograma apenas diz: You’re a good Joe. Essa é a grande sacada de mestre de Fancher e Green e que torna esse roteiro verdadeiramente perfeito. A última catarse de K ocorre ali, diante de seus olhos surrados e mortos.
Ao arruinar um dos momentos mais íntimos que ele compartilhou com Joi, seu batismo, o texto faz com que K perceba que sempre, em todos os sentidos, em tudo que ele acreditava ser real, sua vida é cercada por mentiras artificiais. Com nada mais lhe restando na vida, qual o sentido de existir?
Adaptando o clássico clichê dos filmes policiais: he’s nothing but a loose cannon, K se torna alguém com nada a perder. O alguém perfeito para uma missão suicida. Uma missão para matar Deckard… Ou algo muito maior que isso.
Voltando à Deckard, temos um diálogo curioso entre o antigo herói com Luv. Ao indagar sobre onde estão indo, Luv apenas responde “casa”. A casa de um replicante, no sentido mais literal da resposta, seria sua fábrica. O modo que Luv responde a pergunta, subentende-se que ela conhece uma verdade sobre Deckard que não conhecemos.
Mas isso realmente é o que menos importa nessa altura do filme. K surge e destrói a escolta, batalha contra Luv, a mata afogada e salva Deckard. Porém, até esse momento, o espectador desconhece completamente o objetivo do protagonista. Assim, podemos até acabar torcendo para que Luv triunfe e salve Deckard da morte certa.
Mantendo uma consistência tão única com Deckard, a primeira coisa que ele pergunta a K após ser salvo é justamente “por que não me deixou morrer lá?”. Essa pergunta complementa o raciocínio exposto na parte anterior do texto. Não há a menor dúvida sobre a enorme vontade de morrer depressiva que Deckard possui.
A conversa termina com apenas um “há alguém que precisa conhecer”. Rapidamente, já somos levados ao que interessa. Ao conduzir Deckard até a filha, K atinge algo mais humano que um humano. Agora sim, pela primeira vez, ele conseguiu criar algo real, uma relação humana, um elo.
Disposto a arriscar sua própria vida e até mesmo morrendo pelos ferimentos da luta, K acaba virando um altruísta. E, acredite, pouquíssimos podem se chamar de altruístas na vida, pois talvez seja o gesto de amor mais puro e sagrado que exista nessa gama tão abstrata de sentimentos e moralidade que enfrentamos no cotidiano.
Ele se sacrifica por um homem que acreditava ser seu pai, mas que não era. Ao levá-lo ao encontro de uma filha a qual nunca conheceu, acaba salvando duas vidas confinadas em prisões distintas para que seguissem uma jornada da qual ele nunca faria parte.
Tanto que, antes de entrar no laboratório, Deckard pergunta a K: “O que eu sou para você?”. Ele quer entender esse gesto de bondade no replicante. Ele quer entender uma motivação que nunca será capaz de compreender e mensurar, pois talvez nunca tenha testemunhado um ato tão nobre em um mundo tão pérfido e egoísta.
K não responde e Deckard parte para reencontrar o sentido e alegria de viver – novamente Ford brilha ao explodir de emoção ao ver Stelline. No fim, em seu altruísmo extremamente amável, K se torna mais que humano. Ele é dono de si. Não se move para realizar vontades e missões designadas por terceiros. Ele descobre que o sentimento e os laços entre indivíduos que tornam a vida real e imbuem significado à sua existência. Nesse gesto, pouco importa o destino de Wallace ou de uma revolução.
No fim, contempla a luz, sente a neve caindo e derretendo em suas mãos, sente o verdadeiro gosto da realidade e morre olhando os céus. A serenidade de seu olhar indica que não há mais medo ou amargor, mas satisfação. Sua jornada de Pinóquio para se tornar um garoto real terminou.
Se K encontrará algo além da vida, somente ele sabe. Mas pelo tom tão iluminado e belo desse final, pode ter certeza que K encontrou algo melhor do que sua existência.
Tudo o que você quer ver, escutar e sentir
Denis Villeneuve já dispensa apresentações. Se nunca tinha ouvido falar deste cara até Blade Runner 2049, realmente precisa assistir a sua filmografia muito consistente. Até agora, o diretor não fez um filme ruim ou que atinja o nível do mediano. É tudo do ótimo ao excelente.
Se pudemos captar tantas nuances inteligentes no roteiro do filme, a grande parcela de méritos também recai no colo de Villeneuve. Adaptar um texto cinematográfico em imagens é um tremendo desafio e no caso desse roteiro, no qual quase todo o desenvolvimento dos personagens depende da encenação exata com visual certeiro e experiência sonoro apurada.
Ao contrário de muitos diretores contemporâneos, Villeneuve é um diretor completo. Ou seja, ele pensa na montagem, no som, nas cores, na luz, no design de produção e nos seus atores para trazer a potência máxima da história que pretende contar. É justamente por isso que temos uma grande distinção desse filme com o clássico de Ridley Scott.
É possível ver as influências de Scott, Jordan Cronenweth e Vangelis em Blade Runner 2049, mas são momentos pontuais. Aquele tom do rococó futurista com iluminação baixa e alta contraluz invadindo cenários amontoados de objetos de um passado há muito esquecido é abandonada completamente. Não é função de uma sequência tão distante repetir as mesmíssimas coisas que já vimos há tempos – isso já aconteceu com O Despertar da Força e todos nós sabemos como que isso acabou “beneficiando” o filme.
Villeneuve traz a sua visão sobre o universo de Blade Runner, mas visto sob os olhos de K, um replicante, um sintético. Logo, faz todo o sentido a abordagem clean, sem ruídos, de iluminação milimetricamente calculada. Roger Deakins, o maior cinematógrafo americano vivo, traz seu melhor trabalho ao iluminar essa distopia tecnológica.
Na jornada de K, conhecemos tons frios, bastante dessaturados e de incidência delicada. A iluminação artificial apenas remonta o sentimento de K ao seu redor. Mas os verdadeiros destaques da iluminação surgem quando Deakins resolve homenagear Cronenweth em trechos importantes do filme como durante a luta final.
De resto, os destaques ficam pela conquista tão bela da fotografia em neon que não é tão presente como alguns podem imaginar já que raramente exploramos a cidade de Los Angeles. O filme mais se passa em grandiosas internas do que em cenas externas. Porém, quando o neon surge, o efeito é arrebatador, vide a luz que preenche K quando é chamado pelo holograma de Joi no fim do filme.
O verdadeiro ponto alto de Roger Deakins está na iluminação da estrutura piramidal do escritório principal da Wallace. Ao mesmo tempo que é uma homenagem sutil à arquitetura da Tyrell, a produção inova com a iluminação. Em todos os ambientes do filme, apenas naquele lugar castigado pela escuridão e chuva ácida que cai constantemente no lado exterior da estrutura, que temos a incidência mais bruta de luz natural.
Sim, exatamente. Deakins cria um aparato que consegue mimetizar a luz natural do sol. Mas pela montagem de transição entre um cenário e outro, Villeneuve nos mostra que toda aquela luz divina e belíssima não passa de um truque. Nada mais conveniente que o covil do Diabo ser iluminado por uma luz tão angelical que nada mais é que uma ilusão.
O efeito é avassalador pois quão mais forte é a luz, mais fortes serão suas sombras. E Villeneuve entende bem disso ao apresentar Wallace saindo e retornando às sombras em suas duas cenas. Também é curioso notar que o design de produção sempre tenta encaixar a água nos cenários do covil. Seja para construir uma ilha na qual Wallace permanece ou no escritório de Luv, repleto de luzes cáusticas geradas pela refração da água.
Retornando à direção de Villeneuve, admito que não se trata de seu melhor trabalho como diretor, apesar do mais complexo. Em A Chegada, ele criou uma obra-prima visual como se raramente vê hoje em dia. Em Blade Runner 2049 sentimos que o diretor está mais preso à proposta visual sem experimentar tanto.
Claro que isso não acontece já na abertura do filme que é uma belíssima masterclass de direção. O primeiro plano que vemos é justamente um enorme olho se abrindo. Um olho real ou sintético, não sabemos. Também não sabemos se acorda de um sonho, mas é fato que Villeneuve busca homenagear o original com este primeiro plano.
Porém, assim como constrói contrastes duros na montagem, o primeiro deles já surge aqui: um olho orgânico dá lugar a painéis solares que, em mosaico, formam a imagem de um olho. Já este, totalmente artificial. Um olho que não enxerga a verdade ou o milagre.
A simbologia é tão pertinente a esse primeiro momento que vemos uma névoa espessa quando K entra na fazenda de Sapper Morton. A verdade está nublada e K não chegará perto de descobri-la nesse instante – a primeira revelação está concentrada no segundo ato. A névoa é dissipada depois de Morton falar sobre o milagre permitindo que K encontre a flor na base da árvore morta. Aliás, é curioso que o sentido da descoberta e também redescoberta da vida original de uma árvore morta, mas de uma árvore real.
Há homenagens à Stanley Kubrick, não somente com os jogos centrais dos enquadramentos, mas também por toda a cena do teste de parâmetro de K (uma nova e mais aterrorizante versão do teste de Voight Kampf). Se até então não suspeitávamos da força sonora do filme, aqui ela se faz notada. Villeneuve explora o som para nós sentirmos na pele o amago dos sentimentos de K.
Durante os dois testes, um barulho infernal preenche a sala de cinema refletindo todo o desconforto silenciado que K passa provavelmente em todos os testes. Talvez um medo de morrer, por saber que, se falhar, será eliminado e substituído. Por isso que o barulho termina com um alívio. K consegue enganar quem aplica o teste cotidianamente. A deixa é dada pelo comentário Constante K. Mas depois de uma mudança tão profunda no 2º ato, é impossível continuar mentindo de modo tão eficiente.
São inúmeros os exemplos de como Villeneuve se esforça para criar uma experiência de expansão sensorial do protagonista. Em termos de Blade Runner, Villeneuve não tem tanta preocupação em explorar a cidade, mas em apresentar novos espaços únicos daquele mundo. Para isso, a paleta de cor é sempre alterada: ora profundamente azulada, ora cinzenta e sem vida, ora sépia de tons nauseabundos.
O diretor trabalha enfaticamente na linguagem clássica de câmera parada. Assim como Kubrick, é evidente que Villeneuve deixa o enquadramento dominar o plano e a encenação. Quando movimenta a câmera, novamente é nítido que ela acompanha uma transformação do enquadramento, e não o contrário. Esses planos mais soltos geralmente estão restritos a acompanhar planos aéreos belíssimos que contam mais sobre aquela cidade superpopulosa.
Mas vejam bem, não é uma característica negativa não movimentar a câmera neste caso em específico. O ritmo da montagem de Villeneuve é sempre agradável oferecendo novos enquadramentos que são um festim para os olhos. Diversos enquadramentos têm precisão cirúrgica na construção e mesmo que muitos não tenham valor simbólico, todos são competentes em contar a história.
Essa questão da mobilidade da câmera é uma das principais características de Villeneuve que cada vez mais se torna um diretor de estética irreparável de composição, mesmo que ele esteja experimentando cada vez mais a montagem, uma escola estética hitchcokiana. Lembrando, isso não significa que um diretor é menos completo que outro, apenas que há outra abordagem estética com seu filme.
Na condução da música, Villeneuve traz Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch para criar algo único como Blade Runner 2049. Um trabalho que homenageie Vangelis e seus sintetizadores melódicos, mas que crie sua própria identidade. E de fato, a trilha musical dos compositores é bastante distinta da criada por Vangelis. Os temas do filme são mais sintéticos, mais caóticos na construção refletindo também nosso protagonista replicante e seus sentimentos, além de oferecerem “cor” para a cidade.
Já faz um tempinho que Zimmer gosta de inserir efeitos sonoros em algumas de suas composições. No caso, temos a inserção genial do ronco de escapamento furado de uma motocicleta. O barulho incomoda, mas dá outra percepção para a cidade de Los Angeles. Algo sempre inquieto, vivo e com milhares de histórias acontecendo simultaneamente. O curioso é que nunca vemos uma nave ou moto que justifique a presença do barulho. O som incômodo viaja milhas até chegar no ponto de escuta do longa, K.
Villeneuve também se preocupa em usar a trilha licenciada para trazer mensagens não ditas através dos diálogos. Como mencionei muito acima, já tinhamos o uso brilhante de Summer Wind. Mas o melhor da metáfora do uso das músicas antigas, de um período real, vem no encontro de K com Deckard. A mais potente é Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley, usada para fechar a sequência de apresentação de Deckard. A música evoca um sentimento de amor paternal ilusório que K passa a nutrir pelo ex-blade runner. Isso é sutilmente desenvolvido ao longo do restante do filme como o fato do protagonista se atirar para salvar Deckard dos estilhaços de um míssil.
A outra, de Frank Sinatra, One for my Baby, traz um diálogo de um cidadão cheio de histórias para contar para um Joe (K), mas que no fim só está ali para tomar uns drinques e cair na estrada. Uma boa contextualização de uma relação paternal impossível e bem menos interessada do que a música que Villeneuve usa para explicitar os sentimentos de K por Deckard. No fim, sabemos pelo altruísmo do protagonista, que ele realmente ama o personagem. A trajetória do uso dessas músicas, portanto, elabora o amadurecimento de K. Seu contato com as músicas reais mais significativas só surgem durante esse trecho em Las Vegas. Depois, a trilha musical computadorizada de Zimmer e Wallfisch retornam à plena potência.
Também é curioso que Villeneuve utilize um compasso de Pedro e o Lobo Prokofiev para fazer o jingle musical da Wallace. É possível sim corresponder os personagens da história com os de Blade Runner 2049, mas também é possível interpretar diversas outras leituras tão interessantes quanto. É apenas uma outra grande sacada esperta do diretor que suscita o debate.
Aliás, vale mencionar a sacada de gênio que Villeneuve teve em replicar Tears in the Rain, uma das faixas mais prestigiadas de Vangelis em Blade Runner, no momento que K morre. É sensível, nostálgico e repete um sentimento forte gerado pelo filme anterior.
Mas não há nada de errado na direção do canadense? Bom, é difícil apontar, mas há arestas óbvias que poderiam ser evitadas. O uso recorrente de flashbacks para explicar a solução do mistério é bastante incômoda, usando um artefato narrativo de exposição bastante preguiçoso que acaba destoando de todo o resto da atmosfera inteligente do filme e do ótimo trabalho dos roteiristas em amarrar o filme.
No geral, a visão de Villeneuve para Blade Runner não deixa nada a dever daquela concebida pelo perfeccionista Ridley Scott. Ambas estão em sintonia e um update futurista foi bem-vindo. Nunca vou esquecer até mesmo do modo que o diretor pensa a publicidade diegética das empresas fictícias do filme (excetuando a Sony). Hologramas surgem do nada surpreendendo transeuntes tocando jingles ou slogans para vender seus produtos ou eventos. É uma visão bastante pessimista, mas realista sobre a publicidade no futuro. Tudo só tende a ficar mais invasivo, mas histérico e mais insuportável.
Mais Humano que um Humano
Mesmo depois de tanto texto, afirmo com categoria absoluta que ainda há mais elementos para explorarmos em Blade Runner 2049. Em um pacote cinematográfico verdadeiramente completo, Denis Villeneuve e o time dos sonhos entregaram uma obra perfeita para ser vista nos cinemas. O ritmo é lento quando comparado aos filmes contemporâneos, mas como discutimos, os roteiristas sabem tornar cada cena um verdadeiro festival de relevância.
Através delas, ganhamos reflexões sobre a memória, o artificial e o principal questionamento sobre o que é real ou não. Para mim, esse filme foi bastante real assim como sua filosofia interessantíssima e original. Ainda que a visão sobre a I.A. seja bastante manufaturada e dê importância absurda na necessidade do significado paternal, da família e da hereditariedade para definir a jornada do protagonista, temos um estudo de personagem magnífico e uma elaboração final para a transformação de Deckard.
São forças diversas que tornam Blade Runner 2049 uma obra magnífica que parece estar destinada a sofrer muitas das dores históricas que seu antecessor sofreu. Mas, pelo menos, já é possível afirmar a pergunta que tantos estão fazendo e que eu fiz no começo do texto.
Certamente há algo em Blade Runner 2049. Aquele algo que acaba consolidando clássicos no decorrer da História.
Blade Runner 2049 (EUA – 2017)
Direção: Denis Villeneuve
Roteiro: Hampton Fancher e Michael Green, baseado nos personagens de Philip K. Dick
Elenco: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Mark Arnold, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, Sylvia Hoeks
Gênero: Ficção Científica
Duração: 163 min

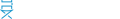




Um Comentário
Leave a Reply