As mulheres são grandes na História. O problema é ter o estudo e os meios necessários para encontrá-las. É um péssimo vício que ocorre, mas a importância feminina na nossa História, apesar de presente e celebrada, é muito pouco conhecida. Podemos falar de muitas personalidades masculinas com quase nenhum esforço que já reconhecemos suas conquistas, glórias, vícios e desgraças.
Até de mulheres que conseguiram superar e quebrar a barreira nublada da História como Marie Curie, Cleópatra, Rainha Vitória, Margaret Thatcher, Joana D’Arc ou Hannah Arendt, muitos desconhecem completamente seus feitos.
Porém, basta falarmos de Santa Teresa de Ávila, Margaret Fuller, Elizabeth Blackwell, Clara Barton, Pearl S. Buck, Amelia Earhart, entre outras, que grande maioria nem reconhecerá seus nomes, que dirá seu papel histórico.
A memória coletiva sobre a importância feminina na História tende a ser menos nublada no século XX – vide algumas exceções. Ainda que a força de coletivos ou movimentos quase consuma a personalidade, rapidamente já reconhecemos Simone de Beauvoir, Anne Frank, Audrey e Katherine Hepburn, Frida Kahlo, Helen Keller, Madre Teresa, Rosa Parks, Eleanor Roosevelt, Princesa Diana ou Malala, no exemplo mais recente possível.
Porém, de todas essas mulheres, onde estão as primeiras-damas dos Estados Unidos? Tirando Eleanor Roosevelt, basicamente ignoramos a importância dessas mulheres. Mesmo que para a cultura latina, tenham pouco significado, foi justamente o chileno Pablo Larraín o responsável em resgatar e preservar a memória da grande e sofrida Jacqueline Kennedy, ou simplesmente Jackie.
Horas de Horror
Jackie Kennedy ficou marcada na História pelo episódio de horror ocorrido em 22 de novembro de 1963. Em meio a muito sangue e desespero, Jackie precisou encontrar esforços para socorrer, em vão, seu marido e presidente, John Kennedy.
Jackie de Larraín e Noah Oppenheim trata-se justamente sobre a vida de Jacqueline Kennedy nos dois anos que viveu como Primeira Dama dos Estados Unidos. Entre seus momentos de singela alegria até o profundo luto após o assassinato.
O maior diferencial deste biopic é a escolha do roteirista Oppenheim em fugir dos elementos óbvios que tangem diversos longas biográficos. Acompanhar a semana de Jackie após o assassinato de Kennedy é algo que se provou extremamente digno de ser conferido, além de proporcionar outra camada de importância histórico a respeito da primeira dama.
Praticamente, a narrativa inteira se concentra em flashbacks inseridos durante a longa entrevista do jornalista de Theodore White, da revista LIFE, com Jackie após a morte do marido. Oppenheim caminha por partes, elaborando contrastes no primeiro ato para então nos jogar ao profundo melodrama carregado pela narrativa sobre luto e perda.
Vemos Jackie feliz ao chegar em Dallas, treinando o discurso em espanhol nunca proclamado, ante sua figura gélida, magra e antipática durante os trechos da entrevista, sempre oferecendo invertidas cínicas com aberturas de perguntas equivocadas do jornalista. Em contraponto, Oppenheim dedica muitas cenas para mostrar o histórico documentário do Tour na Casa Branca apresentado por Jackie em 1962.
Apesar dessas passagens parecerem tediosas, elas são de suma importância para definir o papel que Jackie desempenhava enquanto primeira dama. Seu trabalho de restauração, preservação e modernização de diversas alas da Casa Branca foi considerado um dos mais importantes já feitos na história do edifício. Essa preocupação com identidade, legado e tradição marcam o discurso de Jackie a todo momento na entrevista debatendo sobre como a História veria a passagem dos Kennedy na presidência.
Acuidade histórica
Como apontado, Oppenheim não constrói a história linearmente. São diversos flashbacks que ocorrem antes e depois do assassinato – e a partir do terceiro ato, temos flashforwards também. Então, de certo modo, é fácil se perder onde cada cena se situa na linha do tempo, caso se distraia. Apesar da história ser simples, mostrando o sofrimento de Jackie e das escolhas imediatas que ela tem de tomar após a perda do marido, ela exige sua atenção por conta dessa estrutura.
Alguns roteiristas erram muito ao escolher o esquema não linear de narrativa, mas em Jackie é uma decisão acertada. Tudo para realçar contrastes dos estados emocionais de Jackie ou para denotar tópicos importantes levantados em temas semelhantes nos diálogos entre Jackie e outro personagem.
Nisso, a personagem desenvolve seu luto e sofrimento, sozinha, enquanto batalha pelas súbitas mudanças trazidas em sua vida. Para essas confidências e explosões delineando a fina insanidade que a mulher está prestes a sucumbir, há bons diálogos com sua amiga Nancy e cunhado Robert Kennedy. O grosso mesmo da verdadeira qualidade do trabalho de Oppenheim estão nas conversas/confessionários de Jackie com o padre.
Poucos são os roteiristas que conseguem trabalhar tão bem com um tema tão complexo como a fé e o divino. Aqui, Oppenheim tira de letra, trazendo um dos padres mais humanos e genuínos que já vi em uma obra cinematográfica. São diálogos que flertam com o existencialismo, além da didática do luto, principalmente com mortes violentas. Não bastasse o personagem ter um tratamento excepcional do roteirista, há a excelente performance de John Hurt, conseguindo passar a ternura, zelo e compaixão necessários para comprarmos a ideia da bondade autoconsciente do padre.
Admito que o bom tratamento do melodrama e a sensibilidade dos diálogos religiosos me conquistaram bastante, mas o mais interessante é a abordagem mais realista de John Kennedy e seu legado. O tema de legado é recorrente para Jackie e Bobby Kennedy, nos quais ambos se perguntam ou confessam sobre atitudes tomadas pelo ex presidente. Através de uma simbologia religiosa, Jackie comenta sobre as constantes traições e das amizades duvidosas, de contatos mafiosos, dos quais Kennedy cometia. Já Robert, questiona como o mundo lembraria da resolução da Crise dos Mísseis e das tentativas de invasão organizadas pela CIA que resultaram no massacre da Baía dos Porcos.
Ou seja, Oppenheim, foge do senso comum histórico que cerca a figura de John Kenney que praticamente o torna uma figura imaculada, um salvador oprimido e silenciado. Nos poucos anos de presidência, Kennedy cometeu erros e acertos e esse olhar menos apaixonado por ele certamente é bem-vindo. Porém, importante lembrar, que apesar de dar descrédito à algumas políticas do presidente, Jackie é um filme narrado sob o ponto de vista de Jacqueline, uma mulher extremamente leal e apaixonada pelo marido. Logo, o discurso final favorece esta aura, mas se sobressai pelo relato tão sincero da personagem sobre a sonhada Camelot.
Jackie’s got an Oscar
Como o roteiro de Oppenheim aposta em muitas cenas silenciosas, todo o grande trabalho de estudo sobre Jackie seria perdido caso não fosse a performance arrebatadora de Natalie Portman. Ainda que não haja a menor semelhança nas feições, Portman domina o sotaque característico de Kennedy – isso pode te tirar do filme, embora não seja muito artificial. O que realmente conquista, é o manifesto do sofrimento tão real e palpável que Portman demonstra a cada cena.
A atuação de Portman é marcada por profundas mudanças tonais ao longo das cenas marcadas pela felicidade, desespero, insanidade e luto. As dos flashbacks concentrados antes do assassinato, a atriz esbanja olhares meigos, ingênuos e inocentes. Há muita euforia contida pela classe e elegância em seus movimentos lentos, porém, a atuação se torna muito mais rica após o assassinato.
Em termos gerais, a atuação é favorecida pela não-linearidade por tornar os contrastes gritantes a olhos vistos. O choque demonstrado por Portman, toda ensanguentada, decidindo sobre qual porta do avião que sairá, ou enquanto remove as vestes rosadas para banhar-se e abandonar os restos de seu marido ou quando tenta invadir a sala de autópsia. Depois, o luto, onde Portman explora uma linha muito tênue entre o sofrimento e a insanidade que rende uma das sequências mais poderosas do filme na qual é apresentada a principal simbologia do longa.
Passada a loucura e as difíceis escolhas, Portman mostra a transformação final de Jackie: totalmente pálida, mais magra e abatida. O estilo mais cru e opaco do figurino segue a mudança no emocional da personagem, agora muito amarga, cínica, assumindo um estilo passivo-agressivo que rendem os poucos momentos cômicos do filme. No geral, Portman oferece um show em Jackie. Praticamente, o filme só funciona graças aos esforços hercúleos de sua atuação que empalidece o desempenho do restante do elenco.
O Historiador, Larraín
Nada mais irônico do que um latino resgatar a memória histórica de uma primeira dama americana. Larraín, basicamente o diretor mais competente em termos de recriação histórica, possivelmente realiza seu melhor trabalho com Jackie.
Filmado em razão de aspecto de 1:1,66 – padrão pré-Cinesmascope, Larraín e o cinematografista Stéphane Fontaine optam pelo antiquado formato justamente para conferir todo o aspecto “sujo”, antigo e deveras granulado de alguns filmes dos anos 1960 – vide Mary Poppins, aliado à técnicas cinematográficas mais recentes de iluminação e enquadramento como no incrível plano sequência no qual Jackie perambula em diversos corredores e salas da Casa Branca, tornando estado de espírito “perdido” em algo literal, abandonando os diálogos alegóricos.
Larraín começa estranhamente mal com enquadramentos mal equilibrados que volta e meia insistem em surgir no longa. No geral, o trabalho é extremamente autoral. Larraín quer ser notado e usa a câmera para gritar sua assinatura. Isso é explícito com os enquadramentos centralizados em Jackie – embora alguns outros personagens também apareçam enquadrados desse modo para compor unidade visual na relação plano/contraplano.
O propósito é mais do que óbvio, no caso. Larraín mantém os enquadramentos centralizados para reforçar parte do discurso do filme: jogar uma figura que estava acostumada a ser coadjuvante para subitamente tornar-se a pessoa mais importante/interessante do mundo sendo obrigada a tomar decisões complexas.
Quando JFK aparece, Larraín sabiamente o joga para cantos de quadro. Mesmo quando vivo, o foco é sempre Jackie – tome nota um dos enquadramentos mais belos do longa com Jackie, JFK e convidados apreciando a performance de um violoncelista. Além de já cravar o ponto alto de sua estética, é ali que o figurino começa a exclamar sua voz.
Assim como o texto e a atuação de Portman, Larraín e outros setores visuais trabalham com contrastes bem fáceis de interpretar. Neste concerto, Jackie está reluzente, é o melhor momento de sua vida espelhado pelo estonteante vestido amarelo. Toda essa sequência explora a felicidade que ela sente. Seu último figurino verdadeiramente colorido é justamente o clássico rosa no qual usou no dia do assassinato.
Após isto, a figurinista Madeline Fontaine aposta única e exclusivamente em tons sóbrios, cada vez mais cinzentos, sem pompa, apesar de muito elegantes. Jackie explora beleza fúnebre, quase como Larraín transformasse seu filme em uma arte de natureza morta. A estética não tem essa virada absurda, já que o restante da cinematografia é bastante centrado em um tom.
Larraín, vindo diretamente do cinema latino – chileno, injeta o modo de filmar já característico a ele. Há muita câmera na mão com objetivas próximas ao rosto dos atores, conferindo ar claustrofóbico, de prisão pessoal e desespero. São diversos momentos que o diretor enquadra o rosto de Jackie, lateralmente, com o do outro participante da conversa. Em certos momentos, pela repetição, cansa e nos irrita o manejo excessivo da técnica, pois a mensagem é captada de primeira. É uma insistência no erro que praticamente joga a estética bela no lixo.
O diretor recriou o documentário já citado acima, no qual Jackie nos apresenta suas reformas na Casa Branca. Certamente algo que valoriza o longa, com todas as imperfeições e chiados provocados pelo equipamento da época. Aliás, que exemplar design de produção em recriar tantos cenários e objetos com orçamento tão limitado.
Aliás, um dos detalhes mais sólidos da direção do chileno são os momentos de contemplação nos quais seu filme respira profundamente. Vagaroso e cínico, Larraín constrói momentos cinematográficos poderosíssimos como o da saída final de Jackie da Casa Branca. Nesse momento, o discurso responde as ponderações da protagonista sobre a História. Ao olhar a nova primeira dama, fica nítido que ela não espera ninguém, é implacável, cruel, e que, principalmente, nunca escolhe lados mesmo que suas versões sejam contestadas à exaustão.
Camelot
Jackie é um filme completo. Logo, significa que há primor em todas suas áreas. Não terminaria este texto ousando ignorar a trilha musical maravilhosa de Mica Levi que compôs apenas meia hora de música para o longa. Assim como muito do filme, é explícito que não é uma música de gosto universal, afinal a compositora segue sua linha tradicional de trabalhar com músicas modais. Ou seja, cíclicas, perenes que puxam certos desarranjos sem praticamente nunca resolvendo os conflitos internos da estrutura da partitura.
Basicamente, os arranjos são simples quase nunca superando mais de quatro instrumentos. As músicas também não possuem grandes diferenças entre uma e outra. É como se as faixas perambulassem sozinhas, complementando-se perfeitamente. Absolutamente todas as composições visam refletir o estado psicológico da personagem – é impressionante como o filme completa tão bem a psique de Jackie.
Como a personagem encontra-se totalmente perdida, em choque, deprimida e instável, o mesmo segue com a música lamuriosa, severa e fraca demais para explodir. As cordas graves se repetem, a composição praticamente não avança. O único instrumento que ousa em sair dessa penumbra lenta, morta, é o leve clarinete que oferece certo toque onírico, belo e feminino, mas ainda em lamentação. O clarinete, apesar de tentar avançar as graves cordas, é perdido, também repetindo sua melodia singela em meio a tanto pesar.
O instrumento representa o delicado sopro de esperança que pode resgatar Jackie da completa escuridão que a deixará inapta para travar suas batalhas diárias e confrontar todos os demônios que rapidamente se apossaram de sua vida. Duas músicas marcam a presença do clarinete divino: primeiro, a das crianças, e a segunda, que marca sua vaidade. Curiosamente, a faixa destinada para a vaidade é tremendamente mais forte no filme, com sopros menos sonolentos do clarinete. Enfim, é uma trilha excelente que rende um exercício fantástico de interpretação musical.
São poucos os compositores que conseguem criar narrativas através de músicas instrumentais. Muita atenção a carreira promissora de Mica Levi, artista de sensibilidade ímpar.
Agora, o x da questão, para quem é recomendado Jackie? É uma pergunta cretina, pois eu, como adorei o longa, certamente indicaria para todos. Porém, sei que é um caso complicado. A dica é fácil, se gosta muito de História Americana, principalmente do curto governo repleto de polêmica de John Kennedy e que já tenha algum interesse na figura de sua esposa, é evidente que é o perfil ideal. Um conhecimento histórico extra-filme é muito bem-vindo para apreciar o drama em outra dimensão, bem mais profunda.
Mesmo que Jackie sonhe e acredite que seu marido tenha conseguido criar uma Camelot – o reinado mágico e justo de Rei Arthur, para os EUA em seu governo, é prepotência minha afirmar ou negar. Todavia, me arrisco a dizer que Pablo Larraín conseguiu criar uma Camelot para a memória tão apagada de Jacqueline Kennedy. Uma mulher que, certamente, foi muito mais do que apenas um ícone estético para a moda dos anos 1960.

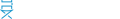




Um Comentário
Leave a Reply