![]()
Através da Arte, é possível conhecer as pessoas, mesmo sem nunca tendo trocado uma única palavra com elas. Sua personalidade, estilo e até sonhos ficam evidentes graças a escolhas distintas na forma de expressar suas ideias, independente do meio canalizador. No cinema, isso fica claro através de posicionamentos de câmera, cores, figurinos e, principalmente, no tema de suas histórias. O pouco que conheço de Damien Chazelle por seus dois únicos filmes até então revelam uma paixão e afeto às Artes que são fortes por sua escrita e direção, primeiro em seu longa debutante Whiplash: Em Busca da Perfeição, que nos ofereceu o lado obsessivo da conquista do sucesso e seu carinho por Jazz, e agora em seu novo e grandioso musical, La La Land: Cantando Estações vai pelo caminho mais colorido e otimista para tratar de algo universal: sonhos.
A trama é ambientada na Los Angeles contemporânea, e nos apresenta à jovem Mia (Emma Stone), aspirante a atriz que passa seu tempo trabalhando no café de um estúdio e indo a diversos testes de elenco pela cidade. Paralelamente, temos o pianista Sebastian (Ryan Gosling), que retorna para L.A. a fim de alcançar o sonho de finalmente abrir um clube de jazz e manter o espírito desse gênero musical vivo. Quando o caminho dos dois se cruza, tem início uma saga romântica regada à sonhos, desilusões e muita música, claro.
Damien Chazelle é claramente um sonhador e um amante de jazz, isso fica claro aqui em La La Land. Com o sucesso inesperado de seu modesto filme anterior, evidentemente vemos um aumento na escala de produção e em virtualmente todos os aspectos técnicos. Se Whiplash tinha cara de filme indie, La La Land é a pura representação do filme de estúdio… Mas aquele comandado por um autor, e que utiliza de todos os infinitos recursos do audiovisual para uma narrativa simplesmente apaixonante e que funciona tanto como musical como filme “tradicional” – isso para minha grata surpresa, já que pessoalmente não sou grande admirador da ideia de termos a narrativa interrompida por números musicais e canções abruptas. Felizmente, Chazelle insere seus momentos de cantoria de forma orgânica e que complementem à trama central, e é até curioso observar que não temos tantas cenas do tipo como normalmente esperaríamos de uma produção do tipo.
Mas quando temos, é quando vemos toda a maestria de Damien Chazelle na cadeira de diretor. Logo na cena de abertura, apropriadamente simbólica ao trazer um engarrafamento de carros e jovens que tentam chegar em Los Angeles, somos surpreendidos pelo elaborado número de “Another Day of Sun”, que envolve dançarinos subindo em carros, fechando portas e interagindo uns com os outros; tudo capturado por um plano sequência impressionante e dinâmico – ainda que tenha os cortes disfarçados pela edição – e que já dita o tom energético e vibrante da produção. Aliás, é curioso como os números musicais podem ser notavelmente old schools e remanescentes da Era de Ouro de Hollywood, em meio a um cenário contemporâneo: iphones, carros modernos e ambientes contemporâneos vão dando espaço a figurinos coloridos, cenários marcantes e alterações marcantes na iluminação e fotografia. Há também a coreografia que evoca os grandes musicas de Gene Kelly e Fred Astaire, como a já icônica sequência onde Mia e Sebastian sapateiam no observatório Griffith, com a azulada vista de Los Angeles ao fundo.
Em Busca da Perfeição
De resto, não temos tanta cantoria. É quando Chazelle retoma sua paixão por jazz ao focar-se na trama de Sebastian, que volta a falar sobre como o gênero está morrendo e dando espaço à convenções modernas concentradas apenas no dinheiro e no que é fácil – ou discos de jazz do Starbucks, como diria o Terence Fletcher de Whiplash. Isso rende excelentes diálogos entre Gosling e Stone, além de uma trilha sonora original primorosa de Justin Hurwitz, que traz belas e evocativas peças sinfônicas regadas a piano. Vale também apontar a participação do cantor John Legend, interpretando um antigo colega de Sebastian que o convida para seu novo grupo; que visa oferecer elementos modernos à linguagem tradicional do jazz, o que já embala uma discussão interessante sobre o passado e o futuro, algo muito martelado pelos outdoors de filmes clássicos pelos quais os personagens constantemente passam na frente (a grandeza do cinemascope valoriza essa imagem simbólica) ou quando o palco completamente escuro onde vemos apenas a silhueta de Sebastian ao piano é revelado pela iminência das luzes como um grande show de pop e pirotecnia.
E como falei dos aspectos técnicos serem superiores lá em cima, vamos dar a ênfase apropriada. Fica a impressão de que toda tomada do filme recebeu um tratamento detalhista e atencioso, já que a paleta de cores da fotografia de Linus Sandgren e da direção de arte de Austin Gorg é absolutamente formidável, criando uma Los Angeles colorida e paradisíaca, mas não em um nível fantasioso. A vibrância dos figurinos da premiada Mary Zophres é importante para um contraste vívido e até nos passar informações sobre os personagens, como no revelador momento onde Mia sai de um teste fracassado, usando uma camisa branca manchada de café enquanto todas as demais mulheres esperando ali usam exatamente a mesma coisa – mas com um branco limpo e impecável, já pontuando a posição de Mia em relação às concorrentes. O modo como os ternos de Sebastian evoluem de um tecido de lã mais modesto para paletós esporte fino – e todos mais escuros – também é revelador sobre o arco de seu personagem.
Então chegamos ao maravilhoso trabalho de fotografia de Linus Sandgren, nome que ficarei muito surpreso e decepcionado se não estiver entre os indicados ao Oscar da categoria no próximo ano. Abraçando os tons coloridos descritos no parágrafo acima, Sandgren é eficiente ao criar uma atmosfera palpável e dinâmica, sobressaindo-se nos momentos em que a diegese é alterada. As luzes do cenário apagam-se lentamente para que uma nova key light seja acesa em algum dos personagens (normalmente durante o início de um número musical), e o resultado é plasticamente deslumbrante; e até tematicamente, vide a cena em que as luzes centrais ficam apenas em Sebastian e Mia, durante um show lotado com diversas pessoas ao redor. A estética fica ainda mais desafiadora quando o longa assume tons mais lúdicos, como quando os personagens “levitam” sobre um estrelado planetário e protagonizam uma dança magnífica toda em contra luz. Os flares marcam presença para cenas em que vemos a luz dos projetores do cinema (em dois pontos muito específicos) e até mesmo câmeras de 16mm podem ser identificadas a olho nu para uma sequência de montagem afetiva.
Sandgren e Chazelle também sabem alterar o jogo para uma variação de ritmo, como quando um jantar caloroso entre o casal acaba tornando-se uma discussão delicada sobre as dificuldades de suas respectivas carreiras. A luz é chapada e quase sem vida, e a câmera predominantemente estática transfigura-se na estética de câmera na mão, marcando com eficiência o primeiro ponto em que a jornada dos dois toma uma lombada. Em questão de movimentação de câmera, vale mencionar como Chazelle mostra-se muito mais sofisticado aqui do que em Whiplash, apostando em diversos planos longos durante a narrativa, e até na repetição de alguns para marcar um ponto de simetria ou alternativa – como a atriz que entra no café de Mia para tomar um café, movimento que é repetido posteriormente em um contexto diferente, mas com justificativa perfeita. Gosto também de como o diretor referencia a si mesmo com a série de pans rápidas da esquerda para a direita, que ocorre quando vemos Sebastian ao piano e Mia dançando – tal como o momento em Whiplash onde Fletcher conduz e Miles Teller toca bateria.
Outro colaborador de Chazelle que é uma de suas forças mais poderosas é o montador Tom Cross, premiado por seu trabalho irretocável em Whiplash. Aqui, temos um ritmo menos insano do que o longa anterior devido ao trabalho de câmera mais complexo de Chazelle, mas Cross aqui explora muito a técnica da transição em fusão. Mas é um uso mais elegante e discreto do que o habitual, já que a transição ocorre junto com as mudanças de iluminação e ajuda a transportar a ação de um período temporal para outro – toda a narrativa se desenrola ao longo das estações do ano, e é um período de tempo bem comportado e navegado pela montagem. Temos também os habituais cortes rápidos para explorar alguma ação, como Mia preparando seu café ou o fascínio de Chazelle por instrumentos musicais, e aqui o uso delicado e bem feito de repetição de eventos sobre diferentes pontos de vista, e até uma reviravolta profundamente emocional e que pega o espectador de surpresa nos minutos finais.
Casal 20
La La Land é absolutamente irretocável em todos os seus quesitos técnicos, mas de nada adiantaria se não tivéssemos as performances magnéticas de Emma Stone e Ryan Gosling para segurar tudo. Stone já vinha demonstrando seu carisma imenso (corram para ver A Mentira) e até seu potencial dramático na performance indicada ao Oscar em Birdman. Acho que a presença da atriz na premiação do ano que vem já é garantida, tendo em vista que Stone traz tudo o que sempre fez de melhor em sua carreira para um papel só, desde seu timing cômico/irônico perfeito que é bem aproveitado nas cenas em que conhece o personagem de Gosling até sua carga emocional forte para o momento mais tenso da jornada. As cenas de canto também lhe exigem muito, com atenção especial para um momento chave que envolve um pitching de roteiro muito importante, onde também presenciamos um uso orgânico e fundamental do número musical, marcado pela lindíssima “Audition (The Fools Who Dream)” – e Stone simplesmente destrói, mesmo desarmada pela câmera em 360 ao redor de seu rosto em close.
Já tendo compartilhado a tela como amantes em Amor a Toda Prova e Caça aos Gangsteres, facilita que Stone e Ryan Gosling tenham uma química tão explosiva e apaixonante em cena, e é impossível para o espectador não torcer pelo romance principal. Gosling se sai muito bem aqui ao desenvolver detalhes sutis que compõem a persona de Sebastian. Por exemplo, sua paixão por jazz e o repúdio pelos elementos que os prejudicam são bem representados pelas pequenas variações em sua voz (como quando reage ao fato de Mia não gostar de jazz) ou sua hesitação – presente no olhar – em tocar os dedos em um teclado ao ouvir o estilo de música do qual estava fazendo parte. Gosling surpreende também por protagonizar diversas cenas em que aparentemente toca piano de verdade, além de não fazer feio durante suas cenas de canto; a performance na canção tema “City of Stars” sendo o grande destaque, tanto solo quanto o dueto com Stone.
A química e interação dos dois nos ajuda a comprar a história, que realmente não é das mais originais, mas que em hipótese alguma é falha. É praticamente uma variação da jornada do herói de Joseph Campbell (há até um personagem roteirista que casualmente menciona a fórmula em certo momento), e uma história sobre sonhadores e seus esforços. Há reviravoltas esperadas, como a “corrupção” de um deles para o lado mais corporativo, as dificuldades de outro para conseguir se inserir no meio desejado e as esperadas desistências que precedem uma grande superação. Você conhece essa história, mas poucas vezes a viu contada com tanta paixão e esmero, e diálogos inteligentes e bem colocados sobre o clássico embate entre o velho e o novo, sonho e realidade e, nas palavras da canção que abre o filme, se mergulhar nessa jornada artística é “coragem ou loucura”.
Com apenas dois filmes no currículo, Damien Chazelle estabelece-se desde já como um dos nomes mais fortes do atual cinema americano. La La Land: Cantando Estações é um filme absolutamente apaixonante e otimista, servindo como uma carta de amor aos musicais da Velha Hollywood e uma ode à incrível capacidade humana de perseguir seus sonhos. Em tempos tão sombrios, filmes como são esse são a rara joia que nos motivam a seguir em frente, e eu só consigo agradecer por existir.
La La Land: Cantando Estações (La La Land, 2016 – EUA)
Direção: Damien Chazelle
Roteiro: Damien Chazelle
Elenco: Ryan Gosling, Emma Stone, Rosemarie DeWitt, Amiée Conn, Terry Walters, J.K. Simmons, Jason Fuchs
Gênero: Musical, Romance, Drama, Comédia
Duração: 128 min.

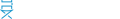



Um Comentário
Leave a Reply