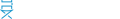“Pai, não vês que eu estou queimando?”
“We are such stuff
As dreams are made on,
and our little life
Is rounded with a sleep”
– William Shakespeare, A Tempestade
Ao estudar um sonho em que um filho toma o braço do pai e lhe sussurra: “Pai, não vês que eu estou queimando?”, Freud não teve problemas em desvendar seus significados, pensando no contexto do sonho. O pai passara noites à fio cuidando do filho que estava muito doente e que acabou morrendo. Após seu falecimento, o pai foi descansar em um quarto contíguo, e deixou a porta aberta, de maneira que pudesse ver de onde estava o aposento em que jazia o cadáver do filho, com velas a seu redor. Um senhor estava encarregado de velá-lo e se sentou ao lado do corpo, e fez diversas preces. Nesse repouso, o pai adormeceu e teve o sonho supracitado. Ao ouvir a frase lancinante do filho vivo, ele acordou e notou um clarão no quarto ao lado. Foi até lá e percebeu que o vigia caíra no sono e que a mortalha e um dos braços do filho tinham sido queimados por uma vela acesa que tombara.
Em termos de estrutura, o sonho é facilmente decifrável na metodologia freudiana. No entanto, trata-se de um caso especial, uma exceção à teoria de que os sonhos realizam desejos e guardam o sono. Se o sonho poderia aplicar-se à essa teoria, uma vez que o filho vivo é um desejo do pai, ele é capaz de evidenciar a culpa do sujeito por ter abandonado seu filho por um momento, despertando-o. O sonho queima.
De fato, a breve referência a esse caso não poderia ser tão passageira ou puramente dramática em Manchester à Beira-Mar, novo filme de Kenneth Lonergan. Através de seu terceiro filme como diretor, Lonergan traz mais uma vez muito da sua experiência como dramaturgo para auxiliar em seu projeto cinematográfico. Chamo de projeto cinematográfico o que um próximo filme pode interromper. Porém, Manchester, analisado frente a Conte Comigo, de 2000, e à Margaret, de 2011, segue uma linha bem definida das histórias que Lonergan pretende contar.
Já em Conte Comigo, as habilidades de Lonergan como roteirista estavam bem evidentes. Destaque para seus diálogos, sempre carregados da vivência dos seus personagens. Foi em Margaret que Lonergan evoluiu em termos de direção, apresentando uma pérola única, que ficou muitos anos na pós-produção, devido a processos e conflitos com os produtores. Seu segundo longa é um filme cuja complexidade se desdobra na versão estendida de três horas. Percebe-se, nos dois filmes, uma carga muito teatral e que não é interrompida pela linguagem cinematográfica. Na verdade, é quando esses caminhos se cruzam e trocam o calor de suas essências que o diretor consegue mostrar seu diferencial.
Manchester à Beira-Mar abre com a câmera captando o mar e o céu como espelho-reflexo de cada um, apresentando, em seguida, a cidade título onde a trama vai se passar a partir de uma visão em sentido natureza-homem. Move-se até Boston, onde o personagem de Casey Affleck, Lee Chandler, sobrevive como zelador de um par de prédios. O inverno é forte, cobre a cidade com uma neve espessa. A paleta de tons lavados neste lugar e a predominância do azul naquele, aliada à trilha sonora, recheada de corais e composições clássicas, com um ou outro momento de jazz (exatamente como são as trilhas dos dois filmes anteriores de Lonergan), une esses polos monótonos e dá o tom do resto do filme: melancolia e tristeza. As escolhas visuais funcionam como a precipitação gelada, impondo uma barreira entre o espectador e o personagem. Em oposição, o filme possui muito bom humor, inclusive pela apatia exalada pela interpretação central de Affleck.
A rotina é quebrada quando Lee recebe a notícia da morte de seu irmão mais velho, Joe, fazendo com que ele tenha que voltar para sua cidade natal. Pode-se crer, ao ver as reações de Affleck, que seu personagem é próximo ao Meursault de Albert Camus, ou ao Murau de Thomas Bernhard. Entretanto, não se trata aqui de ódio ou indiferença à família, como se vê quando Lee encontra o cadáver de Joe, mas uma distância fruto de uma experiência traumática com a própria cidade de Manchester-by-the-Sea pela qual ele mesmo é culpado. Ainda assim, Lee guarda traços semelhantes desse estrangeirismo. Vários personagens, inclusive, quando sabem do seu retorno, referem-se a ele com surpresa. “Aquele é o Lee Chandler?” Os seus casacos, as mãos no bolso, o olhar cabisbaixo são os elementos da sua literal casca grossa.
A graça dos diálogos de Margaret era uma constante mudança de posição dos personagens. Uma curta conversa entre mãe e filha tornava-se sempre um combate entre frases agressivas e defensivas, de indecisão, signo de crescimento e autodescoberta. Em Manchester, Lee vê-se obrigado a sair da retaguarda quando descobre que seu irmão o designou como tutor de seu filho, Patrick. Sua mãe está há muito longe dele por causa do álcool, e o adolescente nem pensa em se mudar com o tio para Boston: quer cuidar do barco e da casa que o pai deixou para ele, joga num time de hóquei, além de tocar em uma banda e de ter duas namoradas. Além disso, Joe não pode ser enterrado no jazigo que comprou devido ao frio e à rigidez da terra.
Não resta opção para Lee senão lidar com essa situação com calma, o que significa permanecer na cidade por um tempo e, consequentemente, enfrentar os traumas que causaram seu exílio. E o filme prossegue, de momento em momento, da mesma forma como Lee aceita a indigestão dos dias na cidade, tentando criar laços com seu sobrinho. Essa indigestão manifesta-se também nos flashbacks bruscos, quando acompanhamos um outro Lee/Affleck, com esposa e filhos. Aqui, indigestão pode ser entendida como falta de jeito e de harmonia entre as partes, grande companheira da infelicidade explorada – especialmente à mesa, seja na cena do café da manhã, ou num almoço em que Matthew Broderick faz a sua ponta (ele está sendo para Lonergan o que Bill Murray é para Wes Anderson).
Os filmes do diretor parecem construir seus núcleos em uma sequência de tríades. Em Conte Comigo, o pequeno Rudy, filho de Sammy e sobrinho de Terry; em Margaret, Lisa, sua mãe Joan, e Emily; em Manchester, Lee, Patrick e o pai morto, Joe – apesar de ter muito pouco tempo de tela, sua influência se manifesta nos outros dois personagens. É uma estrutura (pai-filho-tutor) que Lonergan soube elaborar de maneira bem diferente nesses três momentos de sua carreira.
Lonergan refina aqui ainda algumas opções estéticas que conferem grande parte de eficiência do filme. As elipses (totais, quando uma cena é simplesmente cortada pela sua obviedade, ou apenas sonora, quando as falas e o som diegético são suprimidos) potencializam o roteiro. Algumas cenas, como uma que envolve alimentos congelados, saem um pouco da curva da dramaturgia comum de Lonergan. Porém, outra cena, que envolve Lee e sua ex-mulher, vivida por Michelle Williams, é outro exemplo de momento que chega à flor-da-pele. E é um dos momentos mais belos, difíceis e angustiantes de se ver na telona que o cinema americano desta década conseguiu produzir.
Além desse aspecto, algumas sequências esporádicas mostram como o filme é planejado. A câmera sisuda e parcimoniosa parece ter ensaiado por meses para conseguir se movimentar no tempo certo e alcançar planos tão belos e tão bem costurados – sobretudo, um exercício de olhar. Um típico “cinema indie” americano partiria logo para a improvisação (a desnecessária câmera na mão do recente Capitão Fantástico é prova desse desgoverno). Os defeitos do filme são compensados, em sua maior parte, com atuações centradas e pela complexidade do roteiro, mascarada sob a sutileza dos gestos, pelo carisma ora apático, ora aflitivo de seus personagens.
A turbulência para Lonergan é convertida em ironia, quer na cena muda na igreja, em slow-motion leve, quer quando toca-se ópera em cenas sérias (o melodrama sonoro é estranho à melancolia dos corpos deslocados na tela), quer, ainda, no final pouco otimista. Filmes como esse são raros no cinema americano de hoje. Logo, mesmo não sendo único, possui qualidades que dispensam a pasteurização das premiações que virão a seguir.
Manchester À Beira Mar (Manchester by the Sea, 2016 – EUA)
Direção: Kenneth Lonergan
Roteiro: Kenneth Lonergan
Elenco: Casey Affleck, Lucas Hedges, Michelle Williams, Kyle Chandler, Gretchen Mol, Matthew Broderick, Heather Burns, Kara Hayward, Anna Baryshnikov
Gênero: Drama
Duração: 137 min