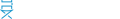Os estúdios Disney têm um passado sombrio quando falamos da retratação de outras culturas além da norte-americana. Em diversos longas, sejam em live-action ou de animação, o comportamento das personagens segue os estereótipos construídos ao longo do tempo, os quais reforçam o conceito equivocado de soberania racial e ideológica de um povo em relação a outro, relembrando-nos inclusive da vertente eurocentrista de outrora. Entretanto, Rainha de Katwe representa um avanço considerável para a companhia, podendo ser considerada uma das obras de maior identidade dos últimos anos.
A história gira em torno de Phiona Mutesi, uma jovem garota da periferia da Uganda cujas capacidades e habilidades para o xadrez a transforaram em uma das mestras mais jovens do esporte – e não é por menos: sua rápida mente, ainda que destoe da educação recebida por crianças mais ricas, pode prever oito jogadas adversárias. Infelizmente, essa capacidade não se restringe à protagonista, e o público também pode prever os acontecimentos do filme apenas pela sinopse. Afinal, histórias de superação normalmente seguem certos padrões narrativos, e o modo de contá-las deve ser o mais original possível para desviar a atenção do espectador de supostos clichês. Entretanto, a direção de Mira Nair, marcada pelo senso vívido de espaço, e as atuações impecáveis de David Oyelowo e Lupita Nyong’o nos encantam de forma sem precedentes. Até mesmo a aparição da novata Madina Nalwanga nos afasta das predições certeiras, tornando Rainha de Katwe um filme agradável e satisfatório em suas próprias medidas.
Como diversas narrativas de superação, o longa de Nair segue o processo formulaico, apresentando-nos a uma protagonista às margens da sociedade que consegue superar obstáculos impossíveis para alcançar seu objetivo e retornar de forma completamente diferente para suas origens. Neste caso, o incidente incitante que a move é o xadrez. E já aqui podemos esperar que o roteiro de William Wheeler, baseado no livro homônimo de Tim Crothers, usará e abusará de todas as metáforas possíveis envolvendo este jogo milenar. Vivendo na pobre comunidade de Katwe, Phiona (Nalwanga) envolve-se de um modo previsível com este esporte: ao seguir o irmão através das ruas superlotadas da cidade, descobre que ele e outras crianças estão se encontrando com o professor Robert Katende (Oyelowo) para treinarem. Após ser rechaçada pela maior parte das crianças, acaba cedendo aos encantamentos do xadrez e apaixona-se pelas peças de madeira – apaixona-se não; torna-se obcecada (de uma forma positiva).
Acontece que Phiona tem tarefas a cumprir e responsabilidades a manter dentro de uma família comandada por sua mãe Harriet (Nyong’o), cujas desgraças que marcaram seu passado insistem em retornar até nas relações com seus vizinhos, e sua personalidade austera sempre age de forma a proteger, além da garota, seus outros três filhos: Brian, Night e Benjamin, os quais constantemente contradizem as escolhas da matriarca e sustentam os breves momentos de tensão da trama. Mas o foco aqui é como a preocupação exacerbada de Harriet impacta inclusive nos desejos da protagonista. Phiona encontra no xadrez uma salvação, um motivo para deixar sua vida consideravelmente “confortável” – no sentido de acostumada – e ampliar suas fronteiras e sua visão de mundo.
A garota de apenas onze anos logo se torna um prodígio, derrotando o campeão da turma – intitulada Os Pioneiros (nome muito apropriado para o estilo da história) – e atraindo a atenção do professor, que a vê como a principal “arma” para alguma mudança naquela comunidade. A partir daqui, já é muito fácil entender o que vai acontecer: Phiona desenvolve suas habilidades, começando a demonstrar táticas e estratégicas que relembram os estilos dos grandes mestres mundiais do esporte e a quebrar paradigmas tanto de gênero quanto de raça e educação – pelo simples fato dela ser mulher, negra e não saber ler. Sua inteligência e sua capacidade de compreensão sempre estiveram dentro de si, e apenas precisavam de um “empurrãozinho”, um gatilho para atingirem a potencialidade máxima. Assim, começa a participar de torneios regionais, nacionais e internacionais, até chegar a um ponto em que toda a confiança que cultivara dentro de si é utilizada contra ela no campeonato russo, no qual se sente tão pressionada que acaba perdendo de se frustrando a ponto de desistir de seus sonhos.
Obviamente, sabemos que tudo dará certo no final. Os clichês existem por todos os lados, mas não posso negar que Rainha de Katwe ousa além de filmes semelhantes. Cada personagem tem o seu próprio arco muito bem desenvolvido, e eles se complementam como podem. Até mesmo a mercadora e o construtor de chaminés, cujas aparições são ínfimas, mostram-se importantes ao estabelecer contrastes de personalidade com os protagonistas. E essa composição antitética é desenvolvida de forma livre de estereótipos: a disparidade de classes sociais existe até entre os ugandenses mais ricos e os mais pobres. As pessoas em cena são reais e não criações de um imaginário preconceituoso e racista – e o mais incrível é que esses temas são tratados de forma fluida, afastando-se completamente da vertente panfletária.
Outro ponto positivo, como já citei, é a sua identidade: o longa é essencialmente africano. E apesar da produção se equiparar a outras obras hollywoodianas, não há nenhum indício do toque norte-americano na narrativa ou na técnica. A trilha sonora de Alex Heffes é colorida, instigante e entoa perfeitamente com o filme, enquanto a paleta de cores chega a ser musical: uma paleta quente e vibrante que resgata o melhor da cultura a qual somos apresentados. Até a fotografia de Sean Bobbitt afasta-se da construção publicitária – o famigerado “cartão-postal” – e opta por planos mais intimistas e que reflitam a relação entre Phiona e o xadrez, por exemplo, Harriet e seus tecidos (única lembrança do marido e da mãe), Katende e os livros, entre outros.

Entretanto, o filme peca nos diálogos, principalmente em cenas-chave: em uma das sequências primordiais, Wheeler parece admitir que o público não tem capacidade de entender as metáforas com o xadrez e opta por falar autoexplicativas que tiram toda a magia do texto. Entendemos que a ascendência da protagonista correlaciona com o peão se transformando em rainha. Tudo bem, a obtenção de consciência pelas crianças – cuja caracterização é semblante de uma sociedade patriarcal e hereditária – justifica comentários óbvios, mas ainda sim causa estranhamento. Esse seja o deslize mais grave e que persiste ao longo de seus 124 minutos.
Em suma, Rainha de Katwe consegue se afastar de narrativas semelhantes e é capaz de nos fornecer uma perspectiva nova da cultura africana. Mas sem qualquer sombra de dúvida o maior mérito recai sobre a química do elenco e a transgressão dos estereótipos raciais que marcaram de forma negativa os estúdios Disney por tantos anos.