Histórias como a do capitão Percy Fawcett, reais porém indefinidas, habitam uma faixa cinzenta entre o documental e a ficção. Quando o jornalista e escritor brasileiro Antônio Callado lançou em 1953 a sua reportagem Esqueleto na Lagoa Verde, não poderia ter sido mais feliz na escolha do seu subtítulo: um ensaio sobre a vida e o sumiço do coronel Fawcett. Tendo em vista as inúmeras incertezas e recortes que uma história pode apresentar na sua narração, o nome de “ensaio” parece ser o mais adequado.
Callado acaba não conseguindo reunir fatos para reconstituir os últimos passos e o triste (ou feliz) fim do coronel inglês que veio para nossas terras em busca de seu Eldorado, a cidade perdida de Z. Dividido em duas partes, o livro estrutura de maneira labiríntica o que o jornalista ficou sabendo da expedição de Fawcett com base em bibliografia diversa e também com pesquisa in loco. Além da trajetória de Fawcett, seu flerte com o misticismo, sua vertente espiritual, Callado encontra espaço para escrever sobre a cultura indígena. Foi com base nessa experiência, inclusive, que escreveria Quarup, seu mais famoso romance.
Mais recentemente, o jornalista da The New Yorker, David Grann, escreveu uma extensa reportagem, que rendeu o livro Z – A Cidade Perdida, lançado em 2009. Foi com base em suas 350 páginas de não-ficção que James Gray fez o roteiro de seu novo filme.
De um ponto de vista estrutural, a narrativa fica muito bem delineada. Gray opta por mostrar apenas três expedições do coronel Fawcett à floresta amazônica, reduz o número de expedicionários para ressaltar as relações entre os personagens, omite os interesses de Fawcett pelo místico, assim como não se preocupa em dar espaço para a perspectiva dos indígenas – mas também não os vitimiza ou demoniza, com exceção de uma cena que beira essa atitude. James Gray, como um bom narrador neoclássico, sabe que é preferível obter a complexidade de um ponto do que gastar um filme com abordagens superficiais. E sempre com muita elegância.
Z – A Cidade Perdida, o filme, é o sonho de Gray, mais até do que o de Fawcett. É um ensaio ficcional que o diretor encontra para falar sobre fé, ainda que com um fundo racional. Esse Z (pronunciado “zeta”) é como diz Fawcett, a peça que falta no quebra cabeça (puzzle) da humanidade. Z traz em si toda uma carga misteriosa que possibilita ao diretor fazer uma abordagem intimista do seu personagem e de sua complexidade.
Desde o começo Fawcett (Charlie Hunnam) inspira simpatia, mesmo em sua posição. Um branco, militar, forte, experiente, mas que não tem seu trabalho reconhecido. O sobrenome da família foi manchado pelas estripolias do pai bêbado e isso o impede de adentrar os círculos mais restritos dos grupos militar e científico. Confiantes na força física de Fawcett e nas suas habilidades como explorador e cartógrafo, a Sociedade Real de Geografia faz uma proposta ao então major. Ele deve viajar para a floresta amazônica e mapear uma porção ainda desconhecida para sua civilização, na fronteira entre Brasil e Bolívia. Num primeiro momento, ele até pensa em recusar. Tem a sua esposa, Nina (Sienna Miller) e um filho pequeno, Jack. Mas, além das honrarias, lhe é oferecida uma oportunidade de limpar o nome de sua família.
Como Gray já havia mostrado em seu brilhante Era Uma Vez em Nova York, ele sabe trabalhar o conceito de época em seus filmes. James Gray não é apenas o cara que “faz filmes como eram feitos antigamente”. Essa expressão é um pouco problemática, especialmente quando serve mais como desculpa para elogiar um filme mais quadrado. Não é o caso desse diretor. Mesmo com pleno domínio da linguagem calculada do cinema clássico, seus filmes não pertencem ao passado. No caso de Z, a época do filme não é mero fundo para o desenvolvimento de uma dramaturgia tosca e anacrônica, como é comum aos longas “de época”. É visível a preocupação do diretor em retratar Fawcett como uma figura próxima, com ideais e pensamentos menos conservadores, mas sem esquecer que é, invariavelmente, um produto de seu tempo.
Z tem algo também de Herzog. Lembrando o clássico Fitzcarraldo, o filme mostra as dificuldades da floresta (refletidas no fazer das filmagens, no uso da película como resistência estética) que, desconhecida para os colonizadores, mostra-se indiferente frente aos seus dramas. Essa mesma indiferença, misturada com hostilidade (mais auto-preservação) reflete-se também no retrato dos indígenas. As composições de Gray ora se afastam, ora se aproximam dos personagens para mostrar determinado estado de espírito, tornar as situações claustrofóbicas ao ar livre – auxiliada pela trilha sonora com Ravel (Daphnis e Chloé) e Stravinski (A Sagração da Primavera). Mesmo assim, em nenhum momento o roteiro deixa ser seguir uma linha intimista bem clara. Nem mesmo na curta passagem de guerra, quando a câmera fica mais tremida (lembrando as passagens mais tensas de Amantes), Gray esquece da manter a firmeza da sua narrativa e das suas composições. É um micro-exemplo nessa floresta de surpresas e elipses que é o longa, que apresenta ainda belíssimos match cuts – corte entre planos espelhados, em que a forma de um objeto lembra a de outro. É lindo ver uma faixa de líquido escorrendo pela pia se transformar, num piscar de olhos, em um trem.
A paleta de cores puxadas para o verde, o amarelo e o marrom exibem um universo tropical quente e pesado, suado. De certa maneira, Gray parece evitar a todo custo que seus personagens percam a classe “inglesa”, civilizada. Mesmo em uma passagem em que os personagens estão num rio, não há nenhum torso nu. A antítese do artificial espetáculo de um filme como Expedição Kon-Tiki (2012), ou de outros blockbusters e seus block-modelos. Até mesmo os índios usam todos tapa-sexo e ver algum seio é muito difícil. Portanto, não é um embate de corpos, mas de mentalidades. Z é uma aventura menos em busca de glória do que de uma pesquisa arqueológica formatada em um estudo de personagem, representada de maneira pura, clara e sucinta.
O Percy Fawcett, muito bem interpretado por Charlie Hunnam (ainda bem que não por Brad Pitt, que ficou só nos bastidores com sua Plan B), é um personagem que ocupa o filme inteiro e que executa sua personalidade. Ainda que o filme possa ter alguns diálogos mais didáticos (a discussão da participação feminina, o conservadorismo da sociedade científica…), o caráter do protagonista se mostra paulatinamente em suas ações, escolhas, atitudes, olhares. Nos conectamos com ele por tanto tempo que quando os conflitos de sua vida particular vêm à tona, a quebra é mais forte. E como a busca de Fawcett tem algo, como princípio, quixotesco, sua busca e deveres como chefe de família tornam-se dilemas. Em seus últimos momentos, quando faz a expedição com o filho Jack (Tom Holland), esse aspecto toma corpo e traços de conclusão.
Onde imagens de arquivo caberiam como ilustração, Gray opta por mostrar um slideshow, não das fotografias reais, mas das fotos com os atores. É um recurso que funciona perfeitamente, e lembra as fotografias em preto e branco de Amantes (apesar de que neste filme a função era outra, mais marcada). A encenação é mais real graças à conexão do espectador com os protagonistas-atores. No filme de 2008, isso aparecia na virada em que Leonard passa a dar mais atenção para Sandra, antes de se conectar mais com Michelle, perto da metade do filme. Em Z – A Cidade Perdida, aparece mais perto do final, já na última expedição que Fawcett faz com seu filho Jack, em 1925. Mergulhamos enfim em uma outra câmera.
É a partir desse momento também que o desaparecimento dos dois se aproxima. Mas não fica qualquer sensação de falha, desastre. Quer dizer, de uma maneira ou de outra, todas as expedições de Fawcett até então deram errado em algum momento, sofreram muito pelo caminho, alguns companheiros chegaram a morrer e pouco foi achado da tal cidade. Mas quando pai e filho são capturados por uma tribo indígena, sabem que o destino deles ali se encerra, mesmo sem saber o significado do ritual por que passam (pela maneira como são carregados, seria um sacrifício?). Gray sabe que não interessa o objetivo, e sim o processo e sua simbologia. Por isso mesmo, fecha a história como começou, no seu primeiro plano, conectando as pontas do ciclo. O resto é “reflexo”, como diz a metáfora visual dos últimos segundos.
Essa ausência, o mistério e a obsessão é justamente o que moveu Nina – a loucura de Fawcett se manifesta materialmente nela após seu desaparecimento –, e depois seu filho Brian, Callado, Grann, o próprio Gray e todos nós espectadores que acompanhamos o que resta da sua história. Pelo menos, dessa história entre histórias do ensaio ilimitado que é a vida e o destino do Coronel Percival Harrison Fawcett.
Z – A Cidade Perdida (The Lost City of Z, EUA – 2016)
Direção: James Gray
Roteiro: James Gray
Elenco: Charlie Hunnam, Robert Pattinson, Sienna Miller, Tom Holland, Edward Ashley e Angus Macfadyen
Gênero: Drama
Duração: 141 min

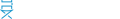



Um Comentário
Leave a Reply