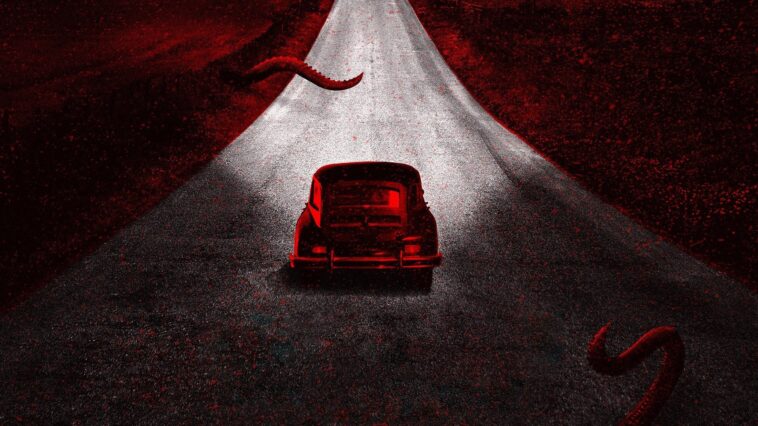Crítica | Mau-Olhado - Um Terror Desgastado e Pedante
O mau olhado é uma crença milenar cuja história data até mesmo da Grécia Antiga – e, apesar de ter passado por modificações ao longo dos anos e ter se transmutado para determinada cultura, sua essência permanece a mesma: uma espécie de maldição lançada sobre alguma pessoa que traz agouros infortunados e má sorte. Suprimido pela utilização de talismãs, é muito comum encontrar narrativas literárias ou audiovisuais que explorem o tema, normalmente embebidos em enredos de vingança e de inveja que culminam em tragédia. É dessa premissa que Mau-Olhado, terceiro volume da antologia de terror Welcome to the Blumhouse, produzida entre a Amazon Studios e a Blumhouse Productions.
A simples história gira em torno de uma família indiana marcada por traumas, centrada no conturbado relacionamento entre uma mãe, Usha (Sharita Choudhury) e sua filha, Pallavi (Sunita Mani). Usha voltou para sua cidade natal, Nova Déli, e deixou Pallavi nos Estados Unidos para seguir seus sonhos, encontrar um rico marido e pavimentar um caminho de puro sucesso que é maltratado por suas ambições independentes e por uma vida que a afasta das raízes familiares. Entretanto, as coisas mudam de figura quando Pallavi começa a namorar um rapaz indiano extremamente rico e misterioso, cuja personalidade beirando a perfeição faz a mãe acreditar que ele talvez seja reencarnação de um ex-namorado abusivo que estava morto há mais de trinta anos.
Quando olhamos para esse cru escopo, é impossível não resgatar algumas outras produções supervisionadas por Jason Blum e por sua companhia – ainda mais levando em conta a óbvia atmosfera de suspense que se ergue desde a primeira cena. Usha tornou-se uma sábia mulher que permanece assombrada por fantasmas perigosos que insistem em perturbar o seu presente, arrastando-a para momentos de puro sofrimento. É por essa razão que ela cria expectativas constantes sobre Pallavi, que nutre de certo ressentimento pela mãe ao perceber que, não importa o que faça, nunca será o bastante para honrar o nome da família – e que, por fim, é fruto de reflexos e de desejos que não sabe se consegue cumprir. Como já é de esperar, essa tênue linha entre o amor e a possessão insurge é um receptáculo evocativo para o incidente incitante da trama: a chegada de um mediador.
Usha, por mais afável que seja ao tradicionalismo social que impacta na sociedade indiana até os dias de hoje, é a matriarca de sua família e não responde diretamente ao marido, Krishnan (Bernard White), mas sim à necessidade de se provar capaz de cuidar daqueles que ama. É por esse motivo quase incompreensível que ela quer fazer parte de uma vida totalmente diferente daquela a que está acostumada, infiltrando-se na autonomia da filha e observando-a de longe, preparada para se postar quando preciso para protegê-la. Considerando que as duas vivem uma de cada lado do mundo, essa tarefa fica um pouco complicada – principalmente com a inesperada chegada do charmoso e bem-sucedido Sandeep (Omar Maskati), que arrebata o coração de Pallavi.
Usha tenta admitir para si mesma que não há qualquer problema nisso, mas tem certeza de que algo está errado – apesar de não saber o quê. Afinal, Sandeep é carinhoso, prestativo e nem um pouco convencional, dando espaço e liberdade para uma mulher apaixonada pela própria criatividade e lutando para conseguir se expressar. O educado jovem é respeitoso a todo momento e até mesmo vem como suporte financeiro e emocional para Pallavi, sua alma gêmea. Ele é impecável – impecável até demais (e é isso que leva Usha a investigar seu passado). E é justamente aqui que o longa-metragem começa a se perder, respaldando-se em fórmulas constantes e em ocasionais reviravoltas que transformam uma até então interessante obra de gênero em um deus ex machina insosso e monótono.
Comandado pelos irmãos Elan e Rajeev Dassani, Mau-Olhado força cada um de seus arcos narrativos em um convulsionado produto sem pé nem cabeça – e sem qualquer ritmo fílmico. De um lado, essa nova construção episódica da saga supracitada se assemelha a qualquer drama independente que tenhamos visto nos últimos anos, valendo-se de momentos preciosistas demais para serem levados a sérios e uma agridoce e previsível repetição de eventos e ações. Usha e Pallavi não saem de onde começaram e caem numa rotina circinal e maçante – aliás, nem ao menos sabendo de que forma sair das obviedades. De outro, o roteiro assinado por Madhuri Shekar não dá espaço para muitas investidas criativas, obrigando os próprios atores a mergulharem de cabeça numa canastrice que supera àquela vista em Mentira Incondicional.
Como se isso não bastasse, a tensa ambientação fica presa a uma vaidade autodestrutiva cuja ideia é infundir a banalidade do cotidiano à mitologia local: em outras palavras, Shekar não tem ideia do que fazer com tantas ideias e, por fim, as aglutina em uma desnorteada presunção guiada por um misticismo barato e a foreshadowings ridículos demais para serem críveis. Há tantos furos na narrativa que o público se desprende com facilidade desse opaco cosmos, pensando duas vezes antes de continuar acompanhando uma história que se leva a sério demais.
Mau-Olhado tem potencial – isso não podemos negar. Porém, ao concentrar todo o esforço em uma trama que seria resolvida em pouquíssimos minutos e alongar um enredo natimorto (cujo final é um dos piores já vistos neste século), acaba por jogar a si mesmo dentro de uma cova abismal e se enterrar em um turbilhão de metáforas vencidas.
Mau-Olhado (v– Estados Unidos, 2020)
Direção: Elan e Rajeev Dassani
Roteiro: Madhuri Shekar
Elenco: Sharita Choudhury, Sunita Mani, Bernard White, Omar Maskati
Duração: 89 min.
https://www.youtube.com/watch?v=k6DwuFySp7g
Crítica | Caixa Preta - Ser ou Não Ser
O subconsciente sempre se caracterizou como um emblemático fascínio do ser humano – tanto que, até hoje, não sabemos exatamente o que se esconde por trás de nossas introspecções. Ao longo da história, artistas das mais diversas vertentes buscaram explicar o pensamento dos indivíduos, fosse com o onirismo da estética surrealista, os fluxos de consciência imprimidos por Clarice Lispector e José Saramago e até mesmo os futuros distópicos cinematográficos que imprimiam críticas acerca desses estudos ambiciosos e sem limites. Partindo desse princípio, surgiu Caixa Preta – a segunda produção da interessante, ainda que controversa antologia de terror arquitetada pela Amazon Studios e pela Blumhouse (um dos maiores e mais aclamados estúdios da atualidade).
O especial do mês de outubro, que celebra de forma instigante o Dia das Bruxas – se afastando dos convencionalismos gore ou slasher que tanto transbordam nessa época do ano -, começou com o pé esquerdo com o esquecível suspense Mentira Incondicional, estrelado por Joey King e Peter Sarsgaard. Confesso que, apesar da qualidade estética, o roteiro rendeu-se a tantas fórmulas que poderíamos fazer uma rodada de bingo para cada clichê trazido às cenas e não me deixou animado para os próximos capítulos. Entretanto, Caixa Preta veio como uma surpresa agradável e uma competente narrativa de amor incondicional – mais até do que a obra anterior. No cenário que se ergue à nossa frente, Mamoudou Athie dá uma ótima performance como Wright Nolan, um jovem fotógrafo que sofreu um acidente e entrou em morte cerebral. Miraculosamente, ele volta à vida com uma grave amnésia, não se recordando de seu tempo com a filha, Ava (Amanda Christie), e da esposa que faleceu na tragédia em questão.
Após tentar recuperar o cotidiano, forçando-se a voltar à normalidade, mas esquecendo-se de coisas como pegar a filha na escola ou das pessoas com quem trabalhava, ele decide visitar a Dra. Miranda Brooks (Charmaine Bingwa), chefe do departamento neurológico que utiliza métodos fora do convencional para reativar memórias escondidas nos confins da mente, como a hipnose. Vê-se, aqui, que o enredo arquitetado por Stephen Herman e supervisionada também pelo diretor Emmanuel Osei-Kuffour Jr. pega temas emprestados de outras iterações audiovisuais que se tornaram famosas e aclamadas nos últimos, como o vencedor do Oscar Corra!, de Jordan Peele, que mesclava a hipnose com um potente terror psicológico; entretanto, seguindo os passos de Mentira Incondicional, o filme em questão abre espaço para outras discussões que variam desde identidade até a reconstrução de uma família marcada pelo trauma.
Osei-Kuffour não tem qualquer intenção de construir uma tragédia grega ou de se respaldar em melodramas novelescos e previsíveis – mesmo que, com atenção máxima, possamos entender o que nos aguarda no último ato. Na verdade, o cineasta toma seu tempo para construir arcos comoventes e relacionáveis com o público, colocando os laços entre Nolan e Ava no centro de uma corrida por aquilo que foi perdido. Nolan deseja mais que tudo que volte a ser o pai que outrora era, mas ao mesmo tempo se vê num impasse: ele consegue acessar sua zona de conforto quando hipnotizado; porém, ele é atacado por uma força incompreensível que o persegue e que, de alguma forma, quer destruí-lo. É aí que se centra o plot principal: quem é essa criação psíquica que atormenta seus pesadelos? Um lado sombrio que não conhece? Ou algo mais derradeiro que voltou com ele do mundo dos mortos?
Em nenhum momento o roteiro dá a entender que lidaremos com o sobrenatural, mas sim com uma metafísica exploração do que significa “existir”. O protagonista, encarnado com perfeição e com profundidade por Athie, não sabe quem é e não sabe se o passado que lhe contam é verdadeiro: em diversos momentos, ele se questiona sobre comportamentos explosivos e tóxicos que podem ter a ver com alucinações que incluem uma mulher sem rosto (provavelmente sua esposa) cheia de machucados e um bebê esperneando, inconsolável. Ao mesmo tempo, Nolan também fica se perguntando o motivo do cenário onde se vê não fazer parte de sua história – afinal, certas sequências são ambientadas em um apartamento no subúrbio no qual nunca viveu. À medida que essas questões se acumulam em uma bola de neve, Herman espera o momento certo para nos entregar uma reviravolta sólida o bastante para fugir do lugar-comum.
O aspecto taciturno é alcançado não apenas pela tétrica trilha sonora – que se vale de instrumentos de corda ressonantes e certas incursões com o minimalismo do piano -, como também pela monocromática paleta de cores que, inteligentemente, não muda as próprias cores, mas aposta em filtros moduladores e supressão de brilho para modificar a ambientação. A claustrofobia, que seria de ímpar necessidade para convencer os espectadores de que as coisas não são tão simples quanto parecem, é auxiliada por sutis enquadramentos em plongée e contra-plongée – além de frames com cenários opressores pela própria trama em que estão mergulhados.
Black Box insurge como um coeso conto que traz discussões válidas para as telas, ainda que não se aprofunde como poderia e encontre alguns problemas rítmicos ao longo do caminho, cumpre o que promete e não se mostra pedante ou superficial.
Caixa Preta (Black Box – Estados Unidos, 2020)
Direção: Emmanuel Osei-Kuffour Jr.
Roteiro: Emmanuel Osei-Kuffour Jr., Stephen Herman
Elenco: Mamoudou Athie, Amanda Christie, Charmaine Bingwa
Duração: 97 min.
https://www.youtube.com/watch?v=Qrc8wQqnl0g&t=1s
Crítica | A Maldição da Mansão Bly - A Beleza do Terror Gótico
Mike Flanagan tornou-se um dos diretores mais respeitados e prolíficos da última década ao reviver o exaurido gênero do terror psicológico com veia artística inegável e incomparável, entregando algumas joias cinematográficas como O Espelho, Jogo Perigoso e, mais recentemente, Doutor Sono. Entretanto, uma obra em particular chamou a atenção de seus fãs e tomou forma na surpreendente e fantástica A Maldição da Residência Hill, certamente uma das melhores séries não apenas do expansivo catálogo da Netflix, mas dos últimos tempos, fundindo horror a suspense e a pitadas reluzentes de um drama sobrenatural e familiar que desmistificava as fronteiras entre narrativas e criava um cosmos nada menos que soberbo e envolvente.
Qual foi nossa surpresa quando Flanagan anunciou uma sequência da minissérie, transformando-a em uma antologia sem precedentes e que, talvez, marcaria o início de um universo inteiramente original que seguiria a estrutura do familiar American Horror Story – com menos exageros estéticos e caprichos gore. E foi desse modo que surgiu A Maldição da Mansão Bly: baseada livremente no clássico romance A Outra Volta do Parafuso, de Henry James, a icônica história (que já ganhou uma temerosa adaptação neste ano) foi mais uma vez trazida para o espectro contemporâneo, revitalizando os profundos arcos de almas desafortunadas que habitavam um casarão assombrado. Aqui, Victoria Pedretti insurge como a protagonista Dani, uma jovem estadunidense que deixa sua casa às pressas após uma traumática perda e viaja para o interior de Londres para cuidar de suas crianças órfãs.
A princípio, o novo enredo se assemelha apenas em sua premissa e na obviedade de seu título. Diferente da impactante construção inicial de Residência Hill, Mansão Bly abre como um drama familiar narrado por ninguém menos que Carla Gugino e sua presença vocal inigualável. A onisciência de sua evocativa e necessária personagem é o fio condutor que entrelaça a episódica e arrepiante jornada – e auxilia na densa atmosfera que se espalha como praga pelos capítulos e vem recheada de reviravoltas incríveis. Dani, por exemplo, traz consigo uma personalidade um tanto quanto contraditória e comedida que oscila entre a austeridade e a benevolência – cuja explicação é-nos dada pouco antes da realização da primeira metade: ela, arrastada para um casamento premeditado desde quando era criança, viu sua vida e seu futuro se desmantelando, impotente
Para tentar salvar a si mesma e encontrar uma espécie de prospecto perdido, Dani cruza caminho com Flora (Amelie Bea Smith) e Miles (Benjamin Evan Ainsworth), as crianças da família Wingrave que perderam os pais em um trágico acidente. Tuteladas pela governanta Hannah (T’Nia Miller), a elas foi requisitada a presença de uma au pair que estivesse disposta a educá-los e a insurgir como uma espécie de figura maternal para guiá-los num árduo amadurecimento. Mas algo não parece certo – e Dani percebe que, enquanto Flora tem momentos constantes de devaneio, Miles foi expulso do reformatório ao qual havia sido mandado e tem comportamento um tanto quanto psicótico. Não demora muito para que a protagonista se veja no centro de um turbilhão emocional que escorre para segredos obscuros e mortais.
Flanagan investe seus esforços para presentear os fãs desse terror psicológico com o purismo gótico que tanto alimentou o imaginário popular dos séculos XVII e XVIII – recentemente revisitado por outros thrillers intimistas como O Babadook e A Bruxa. Assim como Robert Eggers, por exemplo, ele aposta suas fichas em incursões artísticas sinestésicas, que realizam um coreografado movimento de dilatação e contração para nos guiar através de caminhos tortuosos que chegam a becos sem saída e nos forçam a refazer os passos: temos a presença minimalista de uma diabólica orquestra que une estilos modernos e epopeicos em um único lugar – mas, ao contrário do espetáculo visual que poderíamos esperar, a trama é pincelada por metafóricos e verborrágicos diálogos que se nutrem de alegorias temáticas irretocáveis.
O time de roteiristas é sagaz ao ambientar esse novo escopo nos anos 1980, não pensando duas vezes antes de arquitetar uma ausência cronológica de peso propositalmente perceptível para nos “orientar” – algo bastante irônico, considerando que, em certos momentos, excessos volúveis acabam por nos tirar dos trilhos. Mas nada disso importa quando, ao final de cada cena eximiamente bem pensada, os espectadores lidam com verdades absolutas e concepções universais que não podem ser mudadas nem pelos seres mais obstinados. Dani, enfrentando demônios do passado que parecem ganhar uma ameaçadora forma na propriedade Bly, percebe que precisa se recompor se quer ajudar os outros – ainda mais quando passa a conhecer o trágico romance shakespeariano entre Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen na atuação de sua carreira) e Rebecca Jessel (Tahirah Sharif), au pair que se jogou no lago após ser abandonada por seu amado.
Eventualmente deixando que a crueza tome as rédeas da narrativa, é notável de que modo a potencializada imagética faz o máximo para se manter parecida com a temporada anterior, mas sem emulá-la ao ponto de se tornar uma fórmula mesquinha e sem sabor. Diferente de Residência Hill, as inflexões são regadas por um requinte profundo do expressionismo alemão e por um primitivo surrealismo que acompanha os personagens – sendo no espectro aterrorizante das construções, seja nos enquadramentos de câmera. Os estímulos simbólicos são acompanhados ou por declamações mitológicas ou por poesias singulares, proferidas por personagens que estão a um passo de darem adeus, Flanagan cria outra pérola do entretenimento (por mais que essa não esteja tão lapidada quanto sua conterrânea).
A Maldição da Mansão Bly vem como mais um indicativo de que Flanagan é uma das mentes mais geniais da atualidade por não se restringir a qualquer coisa que deseje fazer – deixando claro para quem ousar mergulhar em seus cosmos repletos de angústia, pesar e uma agridoce reflexão sobre a inevitabilidade do tempo e da morte.
A Maldição da Mansão Bly (Idem, EUA – 2020)
Criado por: Mike Flanagan
Elenco: Victoria Pedretti, Oliver Jackson-Cohen, Amelia Eve, T'Nia Miller, Rahul Kohli, Tahirah Sharif, Amelie Bea Smith, Carla Gugino, Benjamin Evan Ainsworth, Henry Thomas
Emissora: Netflix
Episódios: 09
Gênero: Suspense, Terror
Duração: 60 min. aproximadamente
https://www.youtube.com/watch?v=5QHl7wRBfOU&t=2s
Crítica | Mentira Incondicional - Um Suspense Esquecível
A Blumhouse é conhecida por algumas das produções mais interessantes dos últimos anos, apostando suas fichas principalmente em obras de terror e de suspense que se mesclam a narrativas sólidas o bastante para nos deixar à beira de um ataque de nervos. Temos, por exemplo, o vencedor do Oscar Corra!, a adorada sequência direta de Halloween e a franquia escrachada A Morte Te Dá Parabéns. Entre mais acertos do que erros, é inegável dizer que a produtora, supervisionada por Jason Blum, revitalizou enredos considerados datados demais para serem levados a série pelos apreciadores de cinema contemporâneos com reviravoltas inteligentes e de tirar o fôlego. E é claro que, em plena comemoração de Dia das Bruxas, ela não deixaria de nos presentear com peças audiovisuais ousadas – nesse caso, unindo-se numa antologia sem precedentes intitulada Welcome to Blumhouse.
Aliando-se à Amazon Studios, os quatro filmes episódicos viriam para salvar um mês de outubro entregue ao isolamento social e a uma pandemia derradeira, talvez para nos fazer esquecer de tantos problemas – e, ainda que com seus defeitos, o capítulo inicial ganhou forma como The Lie, um drama psicológico com toques de suspense estrelado por ninguém menos que Joey King (que não é estranha a obras do gênero, visto que participou de Invocação do Mal e Sete Desejos). A trama é simples o suficiente para não se perder ao longo do caminho, mas convencional demais para ser ousada, limitando-se às fronteiras que se autoimpõe e esbarrando em certas fórmulas monótonas até explodir em um finale chocante. King dá vida à jovem aspirante à bailarina Kayla, que está em viagem com o pai, Jay (Peter Sarsgaard), para uma espécie de retiro artístico. No meio do caminho, os dois cruzam com Brittany (Devery Jacobs), sua melhor amiga – e, depois de um acesso de raiva, Kayla a empurra de uma ponte para um rio.
Não demora muito para que Jay faça o que tem de ser feito: proteger a filha a qualquer custo. Kayla tem apenas quinze anos e, levando em conta as turbulências adolescentes e os desentendimentos, ele tem certeza de que ela não fez aquilo de propósito. A jovem também conta o que aconteceu para a mãe, Rebecca (Mireille Enos), e os pais se jogam de cabeça numa jornada claustrofóbica para impedir que alguém descubra o que aconteceu – e, mais do que tudo, proteger a filha de pessoas que desejam vingança. O problema é que, no final das contas, o filme se volta para qualquer melodrama novelesco de baixo orçamento que é centrado mais na dinâmica familiar do que naquilo que se esconde no exterior, esquecendo-se das forças que ameaçam destruir uma estrutura outrora sólida.
Veena Sud comanda o longa-metragem e tenta trazer alguns elementos de trabalhos anteriores para uma perspectiva interessante do quão longe os pais estão dispostos para protegerem seus filhos. Temos a frieza da paleta de cores de The Killing estendendo-se através de um bairro enevoado e uma floresta congelada que são marcados pela sobriedade escassa do azul – e que se transforma num narcótico cosmos de opressão e mentiras; temos a veia criminal investigativa que nos mostra dois lados: Jay e Becca fazendo de tudo para esconder evidências e culpar o pai de Brittany, Sam (Cas Anvar), inventando desculpas de que ele abusava fisicamente da filha e a maltratava, eventualmente colocando a polícia em seu encalço. Quando as coisas esquentam, Sam até mesmo chega a ameaçá-los, culpando-os pelo desaparecimento da filha e encontrando sua ruína em uma sequência arrepiante e muito bem conduzida.
Como se pode ver, as partes funcionam melhor de modo separado do que quando unificadas em uma narrativa de três atos. O começo, o meio e o fim parecem aglutinados forçosamente em um convulsionado panorama regado a lágrimas falsas e a certas atitudes e foreshadowings que não condizem com o que nos é apresentados – nem mesmo King, que sai de uma performance surpreendente em The Act, parece à vontade até a segunda metade, rendendo-se à canastrice. A única que utiliza de construções mais recuadas e ofegantes é Enos, que centra cada uma das emoções em seus olhos e numa trêmula boca que se recusa ao explícito e opta pela consternação imagética. E, enquanto a história fala sobre um amor incondicional, ela também abre margens para discussões interessantes sobre hipocrisia, cumplicidade e traição que são coesos em sua completude, mas não fogem muito daquilo a que estamos acostumados.
A falta de identidade estética é o deslize de maior voz no filme – e nem as boas intenções de Sud, que também fica responsável pelo roteiro, conseguem salvá-lo de tangenciar a monotonia. Há algo monumental demais tentando se erguer sobre uma base oscilante e que ameaça desmoronar a qualquer momento. Talvez como uma última esperança desolada de entregar algo que fuja das previsibilidades cinematográficas, o twist final vem de forma tão sutil que nos deixa atônitos, desacreditados da mesma forma que os protagonistas quando Brittany entra pela porta de garagem como se nada tivesse acontecido – e como se eles estivessem cientes de que ela e Kayla haviam inventado toda aquela história.
The Lie se vale muito de sua evocativa resolução para superar a si mesmo, mas não podemos deixar de considerar os múltiplos equívocos que antecedem o finale. Cada aspecto parece preso a limitantes estereótipos que não permitem que a obra alce voo como deveria.
Mentira Incondicional (The Lie – Estados Unidos, 2020)
Direção: Veena Sud
Roteiro: Veena Sud
Elenco: Joey King, Peter Sarsgaard, Mireille Enos
Duração: 97 min.
https://www.youtube.com/watch?v=GasU5BDAWZE
Crítica | Ratched - 1ª Temporada: A Estética da Morte
Em 1975, Louise Fletcher conquistou o mundo com sua interpretação irretocável como a enfermeira Mildred Ratched no clássico Um Estranho no Ninho. Rapidamente, a complexa persona arquitetada pelo romancista Ken Kesey ganhou dimensões novas e bem mais profundas, colocando-a como um símbolo da tirania e da corrupção institucional – ainda mais por agir de modo passivo-agressivo para garantir que os pacientes do Instituto Psiquiátrico de Salem fossem-lhe fiéis e obedientes, punindo quem ousasse contraria as suas ordens – como Randie McMurphy (Jack Nicholson), que sofre lobotomia após juntar os outros residentes do manicômio em uma onda de protestos contra Mildred. Não é surpresa que, por sua carga alegórica, Ratched tenha se transformado em uma das maiores vilãs da história do cinema, servindo de inspiração para criações contemporâneas e análises sociológicas sobre a maldade e a ambição humanas.
Em 2020, o prolífico Ryan Murphy (American Horror Story) resolveu abraçar a personagem e lhe fornecer uma história de origem – dando vida, dessa forma, à série original da Netflix, Ratched. Ambientada quase vinte anos antes dos eventos do longa-metragem, a demoníaca enfermeira foi encarnada pela premiada Sarah Paulson em uma backstory totalmente diferente do que esperávamos, talvez tentando explicar suas atitudes controversas, talvez nos querendo dar uma centelha de empatia, retirando-a dos estereótipos em que foi infundida. Entretanto, a série se vale de caricaturas exageradas demais para que se dê algum tipo de credibilidade: o roteiro, seguindo os passos de tantas outras produções de Murphy, como Hollywood e The Politician, aposta suas fichas em um visual impecável, colocando as tramas em um patamar ora prolixo, ora superficial demais. Ademais, as atuações conseguem esconder os erros narrativos e garantir que o público se envolva – mesmo deixando um gostinho agridoce no final.
Mildred Ratched é construída quase de forma sociopata: uma cética dama que parece ser da alta sociedade, mas na verdade procura fazer parte do time de enfermeiros do Hospital Estadual de Lucia, na Califórnia, contando certas mentiras desde seu primeiro momento em cena para garantir o emprego e vivendo em um motel à beira da estrada enquanto planeja algo não revelado logo de cara. Porém, conforme os capítulos se desenrolam, descobrimos que Mildred quis trabalhar lá para ajudar seu irmão, Edmund Tolleson (Finn Wittrock), recém-admitido no instituto por ter assassinado quatro padres a sangue-frio. É claro que, para a segurança dos dois, ninguém tem ideia de sua relação – e nem mesmo Murphy parece fazer muita questão de investir nessa primeira reviravolta, deixando-a de lado e recuperando-a sem muita necessidade ou explicação.
Esteticamente, Ratched é tudo que se espera de uma produção do showrunner e criador supracitado: comandando os dois primeiros episódios, deve-se notar que Murphy amadureceu consideravelmente desde sua estreia na indústria do entretenimento; enquanto era de se esperar que ele resgatasse certas inflexões caprichosas de obras anteriores, como planos holandeses e ângulos irreverentes, percebe-se que, aqui, há um apreço pela coesão comedida e pelo excesso de simetria. A série, no geral, tem espaço de sobra para invenções mirabolantes e paletas fabulescas – e faz isso ao fazer apologia ao body horror e ao gore diversas vezes; mas o foco sempre se destina à compostura da personagem de Paulson e de que forma, mesmo sem pronunciar uma palavra sequer, nos chama a atenção.
Murphy, ao lado de seu time criativo, presta bastante atenção à paleta de cores e cuida para que a direção de arte seja guiada pela sobriedade e pela melancolia exuberante dos tons esverdeados – destinando alguns objetos em um composée apaixonante. À Ratched, por sua vez, destina-se cores complementares, ultrajantes, até mesmo, quando justapostas à clareza do hospital ou aos cenários kitsch que acompanham sua jornada: seus vestidos amarelo-mostarda e seu cabelo ruivo parecem pontos luminosos em um túnel obscuro, transmutando-a na força-motriz que rege a organicidade desse universo fora do convencional. O problema é que essa imagética sem igual, que transforma o show no mais belo da carreira de Murphy, é inconvenientemente abandonada quando a protagonista entra em seu arco de redenção, fundindo-a ao amorfismo dos outros personagens.
Felizmente, Paulson já se mostrou como uma ótima atriz – e se junta à excelência de seus colegas, especialmente Wittrock, que traz elementos de sua psicótica atuação em American Horror Story: Freakshow, e Judy Davis como a enfermeira-chefe Betsy Bucket, mostrando sua conhecida versatilidade mais uma vez. Sharon Stone também dá as caras como a vingativa socialite Lenore Osgood, que parte numa caçada para matar o Dr. Richard Hanover (Jon Jon Briones), diretor do Lucia, e cruza caminhos com a perigosa timidez e centralidade de Mildred. E, como é de praxe, a outrora estigmatizada vilã é humanizada com uma trágica história que transcende as expectativas e que nos faz sentir compaixão por atos autoprotetivos – ainda que, no final das contas, a “mágica” de sua frieza e de seu imperioso controle sobre os outros tenha sido varrida para debaixo do tapete.
Ratched comete o equívoco de querer ser mais do que consegue – algo que realmente seria, caso não se deixasse levar pelas exaustivas fórmulas de qualquer drama novelesco dos últimos anos. Até mesmo a rebeldia cênica, própria das criações, dá um passo para trás como forma de colocar diálogos previsíveis e monótonos nas telinhas; mas, conforme percebemos os erros, é difícil parar de prestar atenção àquilo que nos é contado – principalmente com a majestosa elegância que nos aguarda desde o princípio.
Ratched – 1ª Temporada (Idem, EUA – 2020)
Criado por: Ryan Murphy
Elenco: Sarah Paulson, Finn Wittrock, Cynthia Nixon, Jon Jon Briones, Sharon Stone, Charlie Carver, Judy Davis
Emissora: Netflix
Episódios: 08
Gênero: Suspense, Drama
Duração: 60 min. aproximadamente
https://www.youtube.com/watch?v=eE8HtX0GwfI
Crítica | A Babá: Rainha da Morte - A Segunda Vez é Ainda Mais Sangrenta
Em 2017, o conhecido realizador cinematográfico McG dava vida ao início de uma franquia sem precedentes com, senão o melhor do terror slasher e da comédia, ao menos ao mais bizarro encontro desses dois mundos: A Babá. Estrelado pela sempre carismática Samara Weaving como a demoníaca e sedutora Bee, a história girou em torno de um jovem menino que se tornou alvo de um culto satânico que desejava seu sangue puro para selarem o pacto com o Diabo – e é claro que as coisas dariam certo no final. Mas o que não imaginávamos era que McG voltaria a explorar esse insano mundo com a sequência A Babá: Rainha da Morte, que prometia trazer todos os nossos queridos serial killers de volta à vida e algumas reviravoltas chocantes.
Em partes, a sequência do original Netflix conseguiu cumprir o que prometia, mesmo com alguns choques previsíveis e um final nada menos que fabulesco por todas as razões erradas. De qualquer forma, e apesar de vilões que parecem ter perdido seu carisma, é o gore e as quebras de expectativa que nos mantém vidrados na telinha do começo ao fim – principalmente pela adição de Jenna Ortega como a rebelde e problemática jovem Phoebe. Mas Phoebe não é o nosso foco, ao menos não por enquanto: diferente do que pensávamos (ou talvez não, levando em conta que tudo seria fácil e formulaico demais caso realmente acontecesse), ela não a antagonista; o culto satânico, agora, é liderado por ninguém menos que a outrora inocente Melanie (Emily Alyn Lind), melhor amiga do protagonista Cole (Judah Lewis) que também assinou o Livro de Satã e tem como principal objetivo ressuscitar seus colegas falecidos e manter o legado da seita vivo.
Confesso que o twist de Melanie foi interessante o suficiente para me manter envolvido durante boa parte do segundo ato – mas o grande problema é que McG, que fica responsável pelo roteiro mais uma vez, não sabe exatamente o que fazer com essa informação. Na verdade, o diretor destina a maior parte do longa-metragem para a crescente relação que floresce entre Cole e Phoebe – dois adolescentes assombrados pelos traumas do passados que unem forças por um bem maior e, obviamente, se apaixonam – e para os escapes cômicos – e representando todo mundo. Com exceção de Melanie, cada coadjuvante tem seu momento de “glória” e é peça central de um sanguinolento e divertido show de horrores que arranca risadas pelos diálogos clichês e por algumas sequências incríveis (em qualquer sentido que você queira admitir).
Diferente do primeiro capítulo da saga, a história, dessa vez, traz personagens mais amadurecidos e com problemas que vão para além da pré-adolescência. Cole, ainda sentindo falta de Bee e ainda apaixonado por Melanie, é visto como um lunático pelos colegas de sua escola e por seus próprios pais, que querem interná-lo em um colégio psiquiátrico por ainda acreditar que quase serviu de sacrifício para um culto satânico. Convencido pela amiga a abandonar tudo e a passar um fim de semana em uma casa-barco com ela e seus amigos, ele é arrastado novamente para seu pior pesadelo e é salvo pela última pessoa que esperava encontrar no meio do nada – Phoebe.
A partir daí, McG se joga de cabeça em construções que fogem de qualquer realidade e que são infundidas com certas explicações desnecessárias acerca do passado dos personagens e inflexões da cultura pop extremamente datadas e explosivamente gritantes. O imediatismo urgente com o qual o diretor trata os elementos pelo menos fornece um dinamismo preciso e bem-vindo a uma premissa familiar, que permite que o público faça vista grossa para os inúmeros equívocos e emulações do senso comum: é por essa razão que Cole e Phoebe permanecem em constante fuga e se unam por suas contraditórias semelhanças, compreendendo que precisam permanecer juntos para que sobrevivam a uma noite de puro terror.
Como já é de se imaginar, a arquitetura de ação, pincelada pelo humorismo do “terrir”, é sustentada por eventuais punchlines certeiros e ácidos e por instantes surreais – como Bella Thorne correndo em um desfiladeiro usando um salto-quinze e carregando um revólver que claramente não sabe como manejar. Ou então a volta de Robbie Amell como o insosso atleta Max que, mais uma vez, não consegue fazer nada além de ser o saco de pancadas de Cole. Entretanto, é justamente isso que, da mesma forma que o filme anterior fez, garante a fidelidade de espectadores que querem apenas se divertir, por mais que já saibam o desenrolar da trama desde o momento em que os protagonistas dão as caras – e quando Weaving resolve fazer uma aparição surpresa em um arco de redenção adorável.
A Babá: Rainha da Morte é aprazível como pretende ser e nunca almeja se transformar num grande clássico do gênero – aliás, nem sabe como o fazer. Mesmo assim, é difícil não compará-lo com a pungente irreverência do capítulo inicial da franquia e perceber que, por mais que o coração esteja no lugar certo, as boas intenções de McG não mudam o fato de que essa sequência é menos “inspirada” do que deveria ser.
A Babá: Rainha da Morte (The Babysitter: Killer Queen – Estados Unidos, 2020)
Direção: McG
Roteiro: McG, Dan Lagana, Brad Morris, Jimmy Warden
Elenco: Judah Lewis, Hana Mae Lee, Robbie Amell, Bella Thorne, Andrew Bachelor, Emily Alyn Lind, Leslie Bibb, Ken Marino, Jenna Ortega, Samara Weaving
Duração: 101 min.
https://www.youtube.com/watch?v=LhgfYpj_4_Q
Crítica | Away - 1ª Temporada: A Solidão do Espaço
Espaço: a fronteira final.
O universo sempre foi matéria de exploração do homem – fosse na ciência, fosse na ficção. Desde que o mundo é mundo, pensadores e artistas voltavam sua atenção para o céu e para os astros que cintilavam ao longe, imaginando que seres habitavam os confins do vácuo. Desde H.G. Wells com seu revolucionário Guerra dos Mundos até Christopher Nolan com seu tour-de-force Interestelar, diversas narrativas apresentaram panoramas únicos do que os outros planetas escondiam em suas atmosferas e cenários inabitáveis, por vezes nos fazendo confrontar o desconhecido, por vezes colocando em perspectiva a pequenez egocêntrica do ser humano. E, agora, chegou a vez da Netflix nos apresentar a sua própria dramatização de uma perigosa viagem tripulada para Marte.
Intitulada Away, a série de ficção científica flerta com dramas cotidianos que ganham uma dimensão extremamente gratificante e frustrante para qualquer um que se aventure ao longo de seus dez episódios. Distendendo-se em minutos e mais minutos de uma coesa e clássica investida estética, a obra criada por Andrew Hinderaker carrega consigo uma solidez mimética que foge das atribulações circinais de construções do gênero, deixando claro qual será seu foco – e quais são as cautelas necessárias para que as tramas não se repitam entre si. Eventualmente, a produção esbarra em certos obstáculos técnicos que não conseguem dosar com exatidão as fabulosidades sci-fi com os íntimos arcos de cada protagonistas, mas isso não importa: o público permanece envolvido do começo ao fim, torcendo angustiado para que tudo dê certo no final.
Hilary Swank lidera um time estelar de astronautas como a Comandante Emma Green, que finalmente realizou seu sonho de ir para o planeta vermelho – apesar dos sacrifícios que teve que fazer. Ela deixa para trás seu marido e colega de profissão, Matt (Josh Charles), que não conseguiu ir na viagem em virtude de uma condição genética degenerativa, e sua filha adolescente, Alexis (Talitha Bateman), que lida com o fato de que a mãe os deixará para trás, quase incomunicável, por três longos anos. Logo de cara, percebe-se que o dilema principal da série é conciliar a vida pessoal e a profissional sem perder a sanidade no confinamento da nave Atlas e sem deixar que a pressão de seus companheiros afete o trabalho a que foi confiada.
Enquanto Swank brilha em uma das melhores atuações de sua carreira, o roteiro supervisionado por Hinderaker garante que cada membro da equipe espacial tenha seu momento de glória. A ideia aqui é afastar-se dos convencionalismos de tantos longas-metragens ambientados no extraterrestre, que fornecem mínimos esclarecimentos acerca da personalidade dos personagens em prol de colocá-los à mercê de forças cósmicas que não podem ser premeditadas e controladas. De fato, é de se esperar que certas escolhas rendam-se aos thrillers de sobrevivência – e os realizadores sabem disso e usam as fórmulas a seu favor.
Em outras palavras, não temos o básico conflito entre alienígenas demoníacos e mortais e a impotência humana: Emma, junto aos outros tripulantes, percebe e nos faz perceber, querendo ou não, que prevenções não significam muito quando estamos resistindo à vastidão do vácuo. Por mais que testes preparatórios tenham sido feitos, eles são colocados à prova quando se deparam com erros vitais para o prosseguimento da viagem, como uma pane no sistema de fornecimento de água, o racionamento de suprimentos, defeitos nos painéis de energia e, no topo de tudo isso, o prospecto agourento da morte. Afinal, ninguém nunca havia viajado tão longe – e não saber o que os aguarda é o que move a curiosidade dos espectadores e das próprias personas.
Como se não bastasse, o pano de fundo se desenrola no âmbito externo e interno em uma complexa e catártica coreografia. Na Terra, Matt defronta desilusões de sua incapacidade motora, que coloca em xeque até mesmo sua a carreira na NASA, enquanto Alexis é obrigada a amadurecer agora que sua mãe e melhor amiga está há milhões de quilômetros de distância e não pode servir como confidente. No espaço, Emma enfrenta as múltiplas divergências de sua equipe, como a teimosia protetora de Misha (Mark Ivanir) e o obsessivo autocontrole da inteligentíssima Yu (Vivian Wu), ambos tendo testemunhado uma prova de fogo (literalmente) que os faz duvidar da capacidade de liderança da comandante. Temos também o otimismo desenfreado do traumatizado Ram (Ray Panthaki) e a polidez ferrenha de Kwesi (Ato Essandoh).
A cereja do bolo vem, sem sombra de dúvida, com a categórica performance dos atores e atrizes que permeiam os capítulos. Cada lágrima colocada em cena é uma representação anafórica daquilo que foi deixado de lado para que a sociedade progredisse em sua incansável carestia pela dominação e pelo controle – como um amor perdido, um pai que se foi precocemente ou uma nação que conta com o sucesso e não aceita o fracasso. São essas minúcias reflexivas que aumentam a carga dramática da série e, por vezes, falam muito mais alto do que qualquer outra coisa. Porém, como vemos à medida que nos aproximamos do season finale, a cronologia expande-se em oito extensos meses que transformam uma aventura de tirar o fôlego em um rotineiro ciclo claustrofóbico.
Aliado a eventos pungentes que analisam a frágil psique humana – e que são refletidas em reviravoltas interessantes, ainda que limitadas às fronteiras que criam -, temos a preocupação visual do show, que tem em mente a sobreposição da urgência corriqueira e da melancolia isolatória. Por isso mesmo, vê-se a preferência pela acidez da paleta alaranjada, acompanhada pela sóbria prostração do verde, nutrindo referências de produções como Ad Astra. Em contraposição, é fantástico como os enquadramentos e as inclinações procuram ousar, transformando a nave (que é cultivada como protagonista ao lado de seus passageiros) em um labirinto sem fim e em uma prisão sem grades.
Away é uma das melhores iterações do ano e, mesmo com seus breves defeitos, não deixa de nos convida para uma viagem inesquecível e emocionante que não enxerga fronteiras e cujo limite é o infinito.
Away - 1ª Temporada (Idem, EUA – 2020)
Criado por: Andrew Hinderaker
Elenco: Hilary Swank, Josh Charles, Vivian Wu, Mark Ivanir, Ato Essandoh, Ray Panthaki, Talitha Bateman
Emissora: Netflix
Episódios: 10
Gênero: Ação, Drama
Duração: 50 min. aproximadamente
https://www.youtube.com/watch?v=3f_REapPwio
Artigo | As Raízes Histórias de Lovecraft Country
Lovecraft Country estreou ontem (16) na HBO e, sem sombra de dúvidas, foi um dos maiores lançamentos do ano ao capturar a essência não apenas de seu romance original, mas também do icônico escritor que o inspirou: H.P. Lovecraft. Criando uma atmosfera competente e envolvente do começo ao fim, a série mal chegou ao canal pago e já se tornou uma das favoritas dos fãs de gênero – ainda mais pela investida equilibrada entre a nostalgia e a contemporaneidade, recheando seu escopo sobrenatural com pungentes críticas sociais.
Entretanto, diferente de outras produções que mascaram suas verdadeiras análises sociológicas com metáforas e alegorias bem produzidas, a produção televisiva e o livro, no caso, valem-se de um escopo bastante verdadeiro que instaurou-se em meados do século passado nos Estados Unidos: a Era Jim Crow.
Para aqueles que não estão familiarizados com essa época da história, pense como uma construção análoga ao período da escravidão – travestida com um assertivo discurso que era aceito pelos supremacistas brancos norte-americanos e por grande parte do mundo que insistia em reproduzir discursos segregacionistas e neoimperialistas. Esse período foi marcado por leis racistas instauradas entre o final do século XIX e o início do século XX pelas legislaturas estaduais dominadas pelos Democratas e trazendo reminiscências dos Estados Confederados da América (uma união política do sul estadunidense que promovia a oligarquia agrária e a escravidão, como resposta às incursões abolicionistas de Abraham Lincoln e sua consequente vitória presidencial).
O princípio legal dessas práticas supracitadas pode ser resumido na premissa “separados, mas iguais”. A explicação era simples e condenatória: instalações e transportes públicos eram divididas entre as destinadas para os brancos e as destinadas para os negros – às vezes, nem mesmo existindo para as pessoas de cor. A ideia era ter um maior controle daqueles que não seguiam o padrão eurocêntrico imposto pelas doutrinas de expansão e invasão séculos atrás, institucionalizando desvantagens econômicas, sociais, educacionais e políticas principalmente para os afrodescendentes – que não tinham o direito de dividir o mesmo banheiro ou as mesmas salas de aula com as pessoas brancas.
Essas leis foram declaradas inconstitucionais apenas em 1954, pela Suprema Corte e pelo juiz Earl Warren. Porém, a promulgação de uma nova lei “igualitária” não foi adotada por vários estados durante muito tempo – como é mostrado na série. Logo no primeiro capítulo, o protagonista Atticus (Jonathan Majors) expressa sua satisfação de deixar para trás uma sociedade ainda compenetrada na validação das emendas de Jim Crow e retornar para sua casa, uma espécie de “antro paradisíaco” e seguro para os negros. Conforme o episódio se desenrola, percebe que o racismo e a condenação da comunidade afrodescendente permaneceu viva, colocando os nossos heróis como alvos de atitudes rechaçáveis e ameaças concretas de morte apenas pela cor de sua pele.
A verdade é que as leis supracitadas “saíram de circulação” com a instauração da Lei dos Direitos Civis em 1964 e a Lei dos Direitos de Voto, em 1965 – não que isso tenha implicado uma mudança considerável para o tratamento dos negros pelos brancos. Na verdade, as raízes históricas que solidificam a estrutura de Lovecraft Country apresentam um cenário que continua, na segunda década do século XXI, discriminatório por razões supremacistas – como o genocídio da população negra em território nacional, mais especificamente, pelo assassinato de George Floyd, Breonna Taylor e Ahmaud Arbery nos Estados Unidos em 2020. A sutil comparação entre a produção e a realidade contemporânea tem a intenção de nos fazer refletir sobre questões como abismo sociocultural e privilégios raciais – transportando-nos para uma época marcada por mazelas e marginalizações.
Mas o respaldo realista não se limita apenas às inflexões sociais, alastrando-se para as artísticas com força descomunal. Misha Green, responsável pela adaptação televisiva, prova seu conhecimento acerca dos conceitos de contracultura e de apropriação cultural inúmeras vezes, inclusive quando traz clássicos nomes do cenário musical para pincelar a backstory e a personalidade dos personagens: temos, por exemplo, a adoração de Letitia (Jurnee Smollett) pelo lendário guitarrista B.B. King, um dos principais nomes do R&B e do rock’n’roll; temos a presença ilustre de Big Maybelle na homenagem de “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On”, um dos clássicos do blues cinquentista. E, em um aspecto mais categórico, o poderoso recorte do discurso do escritor, ensaísta e ativista James Baldwin (“o sonho [americano] existe às curtas do negro americano”).
Lovecraft Country usa as incursões sobrenaturais como impulso para as revelações e as explorações da monstruosidade das práticas racistas e, sem cair nas ruínas do panfletarismo político (algo que deveria fazer, de qualquer forma), nos apresenta a práticas que não julgávamos possíveis de existir. Há, por exemplo, uma sequência em que o trio principal se vê no centro de uma sundown town (cidade do pôr do sol), condados ou cidades que praticavam deliberadamente a segregação racial até mesmo depois do fim da Era Jim Crow, exigindo a saída da população negra quando o sol se posse no horizonte – caso contrário, eles cometeriam atrocidades inimagináveis (incluindo tortura e assassinato) para manter seu território branco por completo. Em outra sequência, temos a estereotipada e submissa imagem da mulher negra estampando um painel da marca Aunt Jemima – que a coloca na situação de serviçal e de responsável pelas refeições dos brancos.
Emblemática é a cena em que uma fila de negros espera sob o sol escaldante do meio-oeste estadunidense um “ônibus de cor”, abaixo de uma propaganda do supracitado sonho americano – e essa é apenas a cereja do bolo de uma releitura necessária dos problemáticos textos de Lovecraft, denunciando o que precisa ser denunciado e fazendo algo que, hoje, é mais necessário que nunca.
Artigo | O Legado de Avatar - A Lenda de Aang
É muito difícil encontrar alguém que nunca tenha ouvido falar de Avatar: A Lenda de Aang – e mais difícil ainda encontrar alguém que não tenha se apaixonado pela animação. Exibida pela Nickelodeon entre os anos de 2005 e 2008, a série animada criada por Michael Dante DiMartino e Bryan Konietzko e supervisionada pelo lendário roteirista Aaron Ehasz carrega consigo um impacto inigualável que atravessa gerações e, mais do que nunca, mostra-se extremamente necessária tanto como narrativa crítica quanto como base para explorações artísticas em vários gêneros cinematográficos e televisivos.
Pouco tempo depois de seu aniversário de dez anos, a premiada produção – que levou para casa cinco Annie Awards e um Emmy Award ao longo de três anos – provou o que muita gente já imaginava: sua atemporalidade. Voltando a conquistar a afeição dos pequenos com a divulgação da versão em Blu-ray e com a chegada da série às plataformas de streaming, a popularidade de Avatar alcançou níveis surpreendentes, sendo até mesmo revisitada pelos fãs que a acompanharam religiosamente desde o episódio piloto. A verdade é que, através de temas bastante pertinentes para análises sociais e antropológicas sobre autoritarismo, preconceito e supremacia (introduzindo o pensamento crítico para as crianças e levando-os a refletir sobre a tênue linha que se estende entre o bem e o mal).
Mais do que isso, a narrativa faz um ótimo uso das concepções da ficção fantástica para criar um mundo único e simples, passível de entendimento para qualquer um que aceite o convite de se aventurar nesse universo. Afastando-se da obviedade de franquias do gênero que ganhavam o mundo – como Harry Potter e O Senhor dos Anéis -, a dupla idealizadora da obra sempre foi apaixonada por animes japoneses, filmes de ação de kung-fu, ioga, filósofos orientais e tudo que provinha de países asiáticos, especialmente da China e do Japão (via IGN). O belíssimo, narcótico e complexo resultado colocou em voga construções do Oriente com o máximo de respeito possível, drenando influências dos dogmas hinduístas, taoístas e budistas, das artes plásticas e musicais medievais locais e até mesmo usando cenários reais para compor as ambientações – como a Grande Muralha e a Cidade Proibida chinesas, ou então as locações da Tribo da Água, inspiradas nas culturas inuit e sireniki.
Mas vamos à história: a trama principal gira em torno de Aang, um jovem garoto de doze anos que permaneceu cem anos congelado em um iceberg junto ao seu companheiro animalesco, um bisão voador chamado Appa. Ao ser resgatado pelos irmãos Katara e Sokka, da Tribo da Água, descobrimos que Aang, por ser o último sobrevivente dos Nômades do Ar, é o Avatar, um ser de poder quase infinito com habilidades de dominar todos os elementos naturais do mundo em que vivem – e o único capaz de terminar a derradeira guerra iniciada pela Nação do Fogo e por seu comandante, o Senhor Ozai. Porém, as coisas não são tão simples como parecem e, além do fato de ser uma criança sem qualquer treino profissional, sua ausência não premeditada deixou tudo mais complicado – e lhe deu apenas dois meses para se tornar um expert bélico antes da batalha final.
É claro que, de cara, o transbordante enredo parece difícil de acompanhar. Mas, espalhando-se ao longo de 61 breves episódios de vinte minutos cada um, a trama tem tempo o suficiente para se expandir e se retrair como quiser, investindo nas mais diversas incursões em prol de permitir que nos apaixonemos por cada persona levada às telinhas. Como já mencionado, a imprescindível temática serve como uma tragicômica reverberação do que já presenciamos ou conhecemos através dos livros de história – e, utilizando-se de arquétipos e de arcos irretocáveis que fornecem aos protagonistas e coadjuvantes camadas e mais camadas de conturbações pessoas e externalizações traumáticas, entendemos o real propósito DiMartino e Konietzko.
Aang, Katara e Sokka são forçados a amadurecer perante forças malignas que erguem-se no horizonte e que pretendem destruir quaisquer obstáculos à sua frente – seja pelo crescente domínio da Nação do Fogo, seja pelo exilado príncipe Zuko, que tomou para si a missão de capturar o Avatar, levá-lo de volta ao pai e recuperar sua honra perdida. A dialógica construção com tantas produções audiovisuais das últimas décadas é o ponto-chave para nos sentirmos confortáveis com o que é-nos apresentado – mas ganha dimensões inesperada quando percebemos que as principais peças desse medonho e condenável jogo não passam de crianças, obrigadas a sair de suas condições etárias e imporem-se em prol de ideologias divergentes e objetivos conflitantes.
De um lado, temos a bruta ambição de Zuko, alimentada pelo ódio de ter sido humilhado na frente de todos que conhecia e de nunca ter tido o apoio de Ozai em sua breve vida; de outro, temos a solidão de Aang e sua drástica realização de que não tem com quem contar e que tudo o que conhecia não existe mais. As personalidades distintas ganham um capítulo mais fervoroso quando ambos os protagonistas representam duas extremidades de uma mesma linha – a pacífica e a beligerante. Nos vários momentos em que os inimigos se encontram no mesmo lugar, Aang recusa-se a matá-lo, permanecendo intacto até o final da terceira temporada, em que sua relutância é o último obstáculo a ser enfrentado; Zuko usa da força para se provar digno de seus oponentes, mas percebe, interiormente, que seu descontrole pode ser sua ruína – explicando com maleabilidade considerável o motivo de se unir ao Avatar no ciclo resolutivo.
Há algo resplandecente em deixar que o próprio roteiro ganhe vida, infundido em uma mitologia criada ao longo de séculos e mais séculos de tradição. Desde as diferenças artísticas gritantes entre os quatro Reinos (Água, Terra, Ar e Fogo) até os valores defendidos por seus membros, nota-se que a distinção e a valorização da diversidade vêm em primeiro plano, nem que seja para reforças os ideais fascistas de supremacia racial defendidos pela Nação do Fogo. Ozai, na verdade, entra em guerra por acreditar que seu povo é o mais valioso de todos, talvez pelo fato de conseguirem conjurar chamas do nada – algo que não acontece com as outras tribos. Sua mentalidade fechada e controversa é o motivo pelo qual Azula, sua filha e irmã de Zuko, torna-se uma psicopata mortal e uma vilanesca presença que pavimenta caminho entre Aang e seu destino.
Os próprios membros de um determinado reino diferem-se entre si, visto que alguns não têm poderes especiais e outros são capazes de realizar as dobras – manipulação dos elementos naturais. Os estilos de luta são derivados de diversas artes maciais chinesas: as dobras da água, por exemplo, derivam dos movimentos de alinhamento, estrutura e visualização do t’ai chi; as da terra buscam inspiração no hung gar, principalmente pelas poses firmes que conversam com a solidez do elemento em questão; as do fogo são simbologias para o bak sil lam, luta que faz uso constante dos braços e das pernas, bem como das mudanças direcionais; e, por fim, as do ar se relacionam com o ba gua, que drena movimentos circulares e dinâmicos – tudo isso canalizado para uma homenagem aos clássicos filmes asiáticos dos anos 1960 e 1970.
Eventualmente, cada detalhe é pensado com minúcia extrema, contribuindo para representações que unem-se em um ciclo interminável e histórico. Com base nisso, as reviravoltas presentes no roteiro mostram que nem tudo é o que parece ser e, conforme os protagonistas são jogados aos leões em obrigatórios e fundamentais amadurecimentos, temas mais anfigúricos e obscuros (no melhor sentido dos termos é claro). Passando longe de influências circinais e cansativas – e desconstruindo a imagética clássica para uma iconoclasta crítica até mesmo à utopia social -, a delineação de cada segmento é chocante, arrepiante e puerilmente elegíaca (por mais antagônico que isso seja).
Dando origem à também aclamada, A Lenda de Korra, que gira em torno da sucessora de Aang e que infelizmente não teve a mesma aceitação do público, Avatar modificou as estruturas outrora engessadas dos enredos infanto-juvenis e adultos, mesclando-os de modo aprazível do começo ao fim. Sua originalidade teve influência em diversas produções contemporâneas, como O Príncipe Dragão, O Vazio e Caçadores de Trolls, e, mesmo uma década depois de seu lançamento, continua se provando valiosa para a arte audiovisual.
Crítica | Black Is King - Beyoncé e o Maior Pastiche Cultural do Século
“Preta é a cor da pele do meu verdadeiro amor”.
Essa poderosa frase proferida no início de Black Is King é a amálgama de tudo que Beyoncé Knowles-Carter ousa propor. Mais do que isso, o discurso do qual uma das maiores artistas da atualidade e uma das principais porta-vozes da comunidade afrodescendente se vale atravessa gerações em um pastiche irretocável que celebra a importância da ancestralidade e de como a cultura africana se faz mais presente do que nunca na indústria mainstream – não do jeito que pensamos, e sim de modo a se livrar das amarras eurocêntricas e a glorificar uma riqueza artística que passa longe de nossos olhos.
Desde que Beyoncé resolveu deixar para trás seu legado na música pop ainda em 2013, ela alcançou uma maturidade criativa que ninguém poderia imaginar. Seja com seu álbum homônimo, com Lemonade ou com suas apresentações fundidas no icônico documentário Homecoming, a cantora e compositora abraçou suas raízes de forma absoluta e nunca mais as deixou ir embora. E, seguindo os passos de sua participação do live-action de O Rei Leão, que encantou públicos ao redor do mundo, estava na hora de ela fazer história mais uma vez com sua própria releitura do clássico filme. Mas não da forma que esperaríamos, e sim trazendo a trágica obra arquitetada pelos estúdios Walt Disney ao complexo conflito entre o passado, o presente e o futuro – principalmente no tocante aos obstáculos enfrentados pelos negros.
Em uma comovente jornada sinestésica e coming-of-age, a artista não se retém em nenhum momento: cada cena que constrói é uma joia audiovisual, seja para nos presentear com os diversificados panoramas do continente africano fora do espectro panfletário, seja para nos chocar com irreverências cênicas e reviravoltas que fogem do convencionalismo, arrancando metáforas de um âmago marcado pela amargura e pela necessidade de gritar. O traslado imagético que transpõe para breves 85 minutos retrai-se e expande-se com naturalidade aplaudível, dando um significado único ao que entendemos como “multiculturalismo”. Mas não se engane: apesar da bonança promovida pela atmosfera do longa-metragem, suas sequências são carregada com críticas veladas e ironias mascaradas que denunciam o que precisa ser denunciado – e o que já deveria ter entrado como pauta de discussão há muito tempo.
Quando pensamos em ancestralidade africana, somos logo arremessados para os enviesados livros de história embebidos em visões imperialistas e em uma perspectiva unidimensional, ou seja, que não engloba todos os lados de uma mesma narrativa. Aqui, deseja-se (e consegue-se, em grande parte do filme) mudar isso: suas escolhas são pungentes e delineadas com clareza interlocutória invejável, reflexo de uma mente que nunca se deixou levar pelos outros. Não é surpresa que a composição estética seja ministrada com cautela, dando vida a progressões narcóticas, tanto musicais quanto visuais, deixando-se oscilar pelo tempo que for pedido.
Black Is King tem como principal artifício a mistura cultural: Beyoncé, liderando um grupo diverso de pessoas que tiveram suas histórias apagadas, emerge como Cleópatra e Hathor, como Maria e Madona, como mãe e filha. Ela é dotada de um emblema que não se reduz apenas à sua presença, mas espalha-se como símbolo de renascimento e de permanência que ninguém pode apagar. E, enquanto receptáculo de um poder quase hegemônico, dança através do gbese e do hip-hop conforme reencontra sua identidade, convidando os outros a se juntarem a ela em um compasso descompassado que não tem quaisquer equívocos. Como bem pontuado no terceiro ato, “as pessoas não se lembram de quem era, de quem são”; suas identidades foram apagadas por forças imprevisíveis e aterrorizantes e, mais do que nunca, está na hora dessa majestosa herança sair do esquecimento e ser enaltecida da melhor forma possível.
É claro que o álbum visual serve complemento para a interessante produção de The Lion King: The Gift, em que a artista é acompanhada de dezenas de artistas (inclusive sua filha, Blue Ivy) para homenagear uma história que não é apenas marcada por dores. Entretanto, o resultado final é muito maior do que todas as nossas expectativas e se transforma em uma monumental análise antropológica que se apodera da ficção fantástica, com a ficção científica, com o épico bíblico e com o documental. Há flertes com as clássicas histórias da mitologia católica, como Moisés, e uma designação de reconhecimento para os símbolos adinkra; acompanhada de nomes como Naomi Campbell, Lupita Nyong’o e sua velha amiga Kelly Rowland, Beyoncé não deixa nada de fora e imprime sua visão até mesmo nas vibrantes colorações dos mosaicos etíopes, nas coreografias egípcias e nas vestimentas sul-africanas.
A performer vai além do que já foi mencionado e, em uma incursão que tangencia o avant-garde, destrói os preceitos engessados das fábulas e dos contos atemporais para reerguê-los a seu bel-prazer. Ao mesmo tempo em que as inflexões são bem diferentes daquilo a que estamos acostumados, há um resiliente laço que une essas investidas, permitindo que acompanhemos uma trama de amor e ódio, de guerra e de paz. No final das contas, Beyoncé reitera o que todos nós sabíamos: que é uma artista imbatível e única dentro do que se propõe a fazer. Talvez como uma premeditação da importância de sua nova investida cinematográfica, o título é apenas a abertura sinfônica de uma obra-prima régia – e, como ela mesmo diz, “nenhum rei morre de verdade”.
Black Is King (Idem – Estados Unidos, 2020)
Direção: Beyoncé Knowles-Carter
Roteiro: Beyoncé Knowles-Carter, baseado livremente em O Rei Leão
Elenco: Beyoncé Knowles-Carter, Kelly Rowland, Naomi Campbell, Blue Ivy Carter, Lupita Nyong'o
Duração: 85 min.
https://www.youtube.com/watch?v=69MO7yU0d70