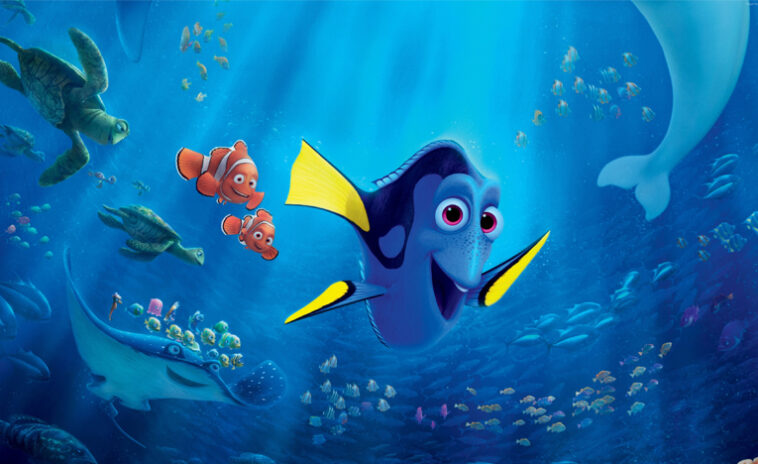Crítica | Mad Max: Estrada da Fúria
Faz trinta anos desde que Max Rockatansky apareceu nas telonas no bizarríssimo Mad Max: Além da Cúpula do Trovão. Trinta anos de hiato para George Miller absorver, aprender e estruturar o grande retorno que o personagem merecia, apesar dos diversos problemas que permearam todo esse período de pré-produção.
O novo Mad Max é na verdade um híbrido. Um meio termo entre reboot e continuação. Miller, criador do gênero pós-apocalíptico – principalmente o que tange o wasteland, pega algumas características do filme clássico de 1979 para inserir no novo de 2015. O passado do protagonista ainda é o mesmo, um ex policial que perdeu mulher e filho, inserido em um cenário hostil do pós-apocalipse gerado pelo fim dos combustíveis fósseis. O resto do filme é completamente novo.
Max, após ser sequestrado, encontra-se em uma situação inesperada na Cidadela de Immortan Joe (Hugh Keays-Byrne). Uma das mulheres do vilão, Imperatriz Furiosa, fugiu com um caminhão-tanque acompanhada de suas outras esposas. A partir disso, Joe lança uma campanha de guerra com todos os seus soldados para recuperar suas noivas. Em meio a uma perseguição enlouquecida, Max escapa e passa a ajudar Furiosa a escapar da loucura de Immortan Joe e sua trupe.
George Miller, em parceria no texto com Brendan McCarthy e Nick Latouris, tem uma abordagem completamente diferente aqui. Não há perda de tempo para explicar sobre quem é Max ou até mesmo do apocalipse. Aliás, este é um roteiro muito atípico para grandes produções. Os diálogos são escassos, o desenvolvimento de personagens é quase inexistente, não há o menor didatismo sobre a mitologia apresentada. Trata-se de um guia para orientar algumas reviravoltas – bem previsíveis por sinal, e as incríveis sequências de ação.
Mas mesmo atípico, o roteiro é formulaico. Sua trama inteira gira em torno de um McGuffin e usa diversas vezes recursos arbitrários para motivar as atitudes heroicas de Max – deus ex machina. Entretanto, este filme é o exemplo mais claro de como fazer uma obra de arte com artifícios carregados de preconceito.
Entretanto, mesmo com um andamento excelente no ritmo da história, o roteiro peca por um dos motivos que listei acima: a falta de exploração desta nova mitologia. Aqui, é sugerido que ocorreu uma guerra nuclear no planeta. Logo, a radiação deu origem a diversos mutantes e outros seres deformados. Somos apresentados a vislumbres de uma organização militar, uma nova ordem social, soluções para a fome e sede, a uma cultura/religião nova que venera a imagem do volante em sua, digamos, santidade. Os rituais dos Garotos de Guerra e suas deficiências genéticas também. Entre muitas outras coisas interessantíssimas que constroem o universo diegético desta retomada de Mad Max. É uma verdadeira lástima que Miller nos ofereça algo tão rico para apenas deixá-lo de lado ou tratar apenas como alegorias visuais. O espectador clama em conhecer um pouco mais daquela cultura insana que bebe das fontes do Heavy Metal e da mitologia nórdica.
Porém, isto nunca acontece. O diretor simplesmente não encaixa um bendito diálogo entre Furiosa e Max ou em outros personagens para apresentar de alguma forma o que há por trás daquilo tudo, alguma origem. Existem duas alternativas para o porquê disso. Ou não houve interesse real de Miller em explorar esses elementos ou é apenas alguma brecha para serem desenvolvidos no próximo filme. De qualquer forma, este é o único ponto negativo do filme.
De resto, tudo é incrível. A história é satisfatória e os personagens, em sua superficialidade, são fascinantes. Isso se deve muito às atuações espetaculares de Nicholas Hoult com seu Nux e Charlize Theron interpretando Furiosa – de longe as figuras mais complexas do elenco. Até mesmo o quinteto de beldades mostra algo além de seus dotes.
Aliás, ainda acho engraçada a proposta do universo de Mad Max orbitar à falta de combustíveis fósseis sendo que todos os possantes veículos ostentação que preenchem a tela devem consumir incontáveis litros de gasolina por quilômetro. Mas reconheço que isso não é demérito, só algo bem contraditório.
Este novo Max de Tom Hardy tem pouquíssimas semelhanças com o de Mel Gibson. Miller trouxe uma proposta inédita para o personagem. Max é alguém que praticamente perdeu sua humanidade. Ele fala pouco e as palavras custam a sair de sua boca. Tem uma dificuldade tremenda em formar frases. A solidão pesa. Fora isso, por meio de flashbacks bregas, o personagem é assombrado por algo sinistro envolvendo crianças. Novamente, o diretor usa isso apenas como recurso de motivação. Nada é explicado, apenas sugerido – uma pena.
Apesar de Hardy manter boa atuação, algumas vezes, durante suas falas, o ator puxa um sotaque carregadíssimo, além de uma entonação que lembram muito o trabalho de voz que ele havia feito para seu antigo papel como Bane, o vilão de O Cavaleiro das Trevas Ressurge. Nada que comprometa, claro, porém é preocupante ver alguém com talento caindo em vícios de atuação.
Na direção, George Miller finalmente tem a tecnologia e orçamento desejados para fazer o filme de seus sonhos. E ele consegue. Nada falha aqui. É uma aula de como fazer um orçamento de 100 milhões de dólares parecer 250.
A ideia de fazer um longa inteiro para uma constante perseguição é fenomenal merecendo destaque somente para isso – importante lembrar que outros filmes já se utilizaram disso como Encurralado, Corrida Contra o Destino e Need for Speed. Entretanto, ele surpreende, tem sua identidade própria e entrega mais do que poderíamos pedir. As sequências de ação são majestosas, belíssimas em sua complexidade de construção e exalam o espírito demente da insanidade radical de seus personagens sedentos por violência. O retorno do bom e velho exploitation mora neste Mad Max do século XXI. Fora isso, mesmo com duas horas de pura adrenalina, Miller consegue sustentar a montagem sem perder o fôlego. O resultado disso, o filme não cansa.
Toda a concepção visual é marcante. Em vez de trabalhar com os tons dessaturados e opacos provenientes na fotografia de filme do gênero, Miller, em conjunto com o fotógrafo John Seale, usa tons saturadíssimos e contrastados. Seus vermelhos, cinzas, beges e azuis saltam da tela e enchem os olhos.
Mas não somente a fotografia de Seale e os enquadramentos majestosos de Miller que tornam o visual tão apelativo. O design de produção acerta em tudo a respeito de figurino, maquiagem – utilizando até graxa, e, principalmente, os carros. Cada um concebido para ser único e ter sua função de combate. É quase impossível encontrar algum veículo igual a outro o que agrega muito valor pra obra. Aliás, quase todos os efeitos são feitos com praticáveis. Ou seja, a computação gráfica é mínima. O resultado disso é fenomenal. Dá pra sentir o peso dos veículos em cada colisão ou capotamento.
Miller também continua sua marca de autor com a utilização de personagens na terceira idade, mas aqui também há o empoderamento das mulheres. O filme é completamente girl power do início ao fim tanto que Max é apenas um coadjuvante assumido. Furiosa é a protagonista aqui, muito melhor explorada, assim como o quinteto das noivas de Immortan Joe.
Diesel, Graxa e Sangue
O retorno de Mad Max para as telonas é pavimentado pela estrada do sucesso. Nunca antes a franquia fora tão explosiva, interessante e rica em detalhes como agora. Os poucos pecados que Miller comete envolvem justamente não explorar essa mitologia inédita ou seu suposto protagonista monossilábico e inserir algumas críticas bem rasas ao capitalismo perpetuando a relação esquizofrênica de diversos cineastas com Hollywood.
Tirando isso, o filme é incrível – o melhor do ano até agora. A ação é quase ininterrupta, épica, bem filmada e coreografada. Existem diversas referências aos filmes anteriores para o deleite dos fãs – incluindo o clássico Interceptor V8. Até mesmo a trilha sonora de Tom Holkenborg possui grande presença com sua música eletrônica, sintetizadores e percussão inspirada em ritmos tribais – como sempre, graças à longa parceria, o compositor bebe na fonte de Hans Zimmer.
George Miller provou de uma vez por todas que é um nome importantíssimo para o cinema mundial. Isto aqui é entretenimento de ótima qualidade com valor artístico expressivo.
Em clara referência a própria história da franquia, o personagem Nux, vocifera “I live! I die! I live again!”. Realmente, Mad Max viveu. Mad Max morreu. E agora, Mad Max vive novamente mais louco do que nunca!
Mad Max: Estrada da Fúria (Mad Max: Fury Road, EUA/Austrália - 2015)
Direção: George Miller
Roteiro: George Miller, Brendan McCarthy e Nick Latouris
Elenco: Tom Hardy, Charlize Theron, Nicholas Hoult, Hugh Keays-Byrne, Rosie Huntington-Whiteley, Josh Helman, Zoë Kravitz, Nathan Jones, Riley Keough, Abbey Lee, Courtney Eaton, Megan Gale, Melissa Jaffer, Iota
Gênero: Ação
Duração: 120 min
https://www.youtube.com/watch?v=hEJnMQG9ev8
Crítica | A Era do Gelo: O Big Bang
Após o retorno mitológico da turma de Procurando Nemo aos cinemas, também neste ano tivemos a volta da trupe Sid, Manny e Diego para as telonas. Porém, desde 2002, muita coisa mudou. Mesmo apresentando um encantador primeiro filme do qual carrego memorias afetivas queridas, não consigo negar que a saga foi perdendo notória qualidade, apesar do sopro de alívio que foi A Era do Gelo 3 após o péssimo segundo filme. As coisas saíram de seu rumo de vez com Carlos Saldanha fugindo do núcleo criativo. A Era do Gelo 4, mesmo divertido, era mais um exemplar de obra fraca e rapidamente esquecível. Este novo A Era do Gelo: O Big Bang não colabora muito para elevar a franquia para a qualidade de seu primeiro filme.
Scrat, em suas peregrinações rotineiras para encontrar o encaixe perfeito para sua noz, acaba ativando um disco voador congelado em um iceberg. Preso dentro da nave, o esquilo parte para o espaço. Sem saber controlar o dispositivo de modo apropriado, entra em colisão com diversos asteroides. Nisso, infelizmente, o maior de todos eles entra em rota de colisão com a Terra. Observando o gigantesco meteoro, Manny, Sid, Diego, Vovó, Crash, Eddie, Ellie, Shira, Amora, Julian e Buck partem para tentar resolver o problema que pode levar toda a vida no planeta para a extinção. Além dessa ameaça astronômica, Manny e Ellie são obrigados a lidar e conviver com seu genro e convencer Ellie a não se separar de sua família após o casamento com Julian. Fora isso, um bando de dino-aves persegue Buck atrapalhando o progresso do grupo até seu destino final.
O pessoal da Blue Sky realmente está raspando o tacho com o roteiro deste A Era do Gelo. Absurdamente simples, o texto foi escrito por quatro pessoas – um número bastante alto considerando a fraca qualidade de sua história. Apesar da ideia de mandar Scrat ao espaço parecer absurda, ao menos há uma boa justificativa disso dentro do primeiro filme. Em determinado momento, Manny, Sid, Diego e o bebê entram em uma caverna congelada onde se deparam com dinossauros congelados e também uma nave alienígena. Logo, dentro do escopo maior, sim, mesmo que absurda, a ideia já tinha rendido uma boa piada há quatorze anos.
Agora, a partir de um esquete de trinta segundos, se fez um longa de noventa e quatro minutos. Como é de se esperar, a história é verdadeiramente raquítica na qual é devidamente difícil manter o interesse com o que se passa na tela, apesar de algumas boas e poucas piadas inteligentes. A narrativa, mesmo se baseando no absurdo, não cativa muito bem simplesmente por um singelo motivo que faz toda a diferença: os personagens estão perdendo sua essência.
Isso é algo muito grave para uma franquia de cinco filmes até então. É como se víssemos o ogro Shrek virar algo muito distinto do que ele é. Manny não é mais tão ranzinza, Sid não serve para muita coisa além de encaixar muitas piadas anacrônicas que envolvem sites de relacionamento ou outras referências pop contemporâneas aos anos 2010. Com Diego, talvez tenhamos o núcleo mais empobrecido do longa inteiro. Os roteiristas não trabalham com interesse nele, o transformam em um personagem apêndice que não contribui em nada para a narrativa. Nem mesmo com a namorada Shira, tigresa vinda do filme anterior, há um algum trabalho inspirado ou diálogos que mostrem um pouco mais do namoro dos dois. A dupla rende apenas uma boa piada no fim inteiro.
Aliás, de personagens verdadeiramente úteis para a aventura temos apenas Manny e Buck – muito mais afetado e histérico do que o visto em A Era do Gelo 3 – já que se comportam como os líderes do grupo guiando o resto dos bichos para a montanha que, segundo uma profecia clichê gravada em rocha, pode ser a solução para salvar o mundo. O retorno de Buck, a carismática doninha domadora de dinossauros, já é um peso a mais na quantidade gigantesca de personagens que esse longa possui. Mesmo com ele, as boas ideias não dão as caras, já que o intuito do personagem é apenas ser caricato pela graça da caricatura. Graças a essa reinserção de Buck, ainda surgem mais três personagens que cumprem o papel desnecessário de antagonistas. Nem mesmo o design das dino-aves conseguem salvar os novos personagens já que são bastante semelhantes com os raptores vistos em O Bom Dinossauro.
Também não há carisma ao redor da família de répteis voadores já que seu plano maléfico de dominação global é deveras estúpido – algo que até mesmo os roteiristas tentam elaborar piadas, mas que acabam soando como desperdício de tempo de tela.
Como a jornada até a montanha por si só não consegue fugir do marasmo – é impressionante a falta de habilidade dos escritores em conseguirem tornar o gênero generoso dos road movies em algo tão enfadonho – eles inventam um drama clichê e preguiçoso com Manny, Ellie, Amora e Gavin. É algo tão batido e reciclado que remonta diretamente às piadas vindas com a relação nada amistosa entre genro bobão e sogro vigilante mal-humorado já vista na trilogia Entrando Numa Fria. Partidas de esportes que refletem disputas de egos, situações desesperadoras para desencorajar a noiva a se afastar da família, a prevaricação pré-casamento, a conquista da confiança, entre outros clichês tão notórios do gênero estão presentes nesta subtrama nada divertida.
Ainda insistindo em Gavin e Manny, os roteiristas falham em realmente criar um momento dramático apostando em algum diálogo mais denso ou até mesmo com Manny, Ellie e Amora. No fim, a inserção do personagem surfista/skatista de Gavin é totalmente gratuita, nada inspirada, forçando um conflito bobo que não consegue mover a emoção do espectador.
Não satisfeitos com o “drama” do casamento de Amora, a ameaça do meteorito e as trapalhadas das dino-aves antagonistas, os escritores ainda insistem em concentrar mais dois núcleos no filme. De tempos em tempos, acompanhamos o ponto de vista de Scrat fazendo suas trapalhadas no espaço. Felizmente, as passagens são divertidas conseguindo fazer o humor do filme brilhar um pouco. Porém, é importante frisar que os esquetes cômicos que o esquilo concentra sempre são baseadas no slapstick, a comédia que vem do sofrimento físico de outrem. A verdade é que o talento da equipe em trabalhar com Scrat remonta ao magnífico legado de Chuck Jones com os Looney Tunes, principalmente na dupla Pernalonga e Patolino. Logo, quem aprecia esse humor, certamente será recompensado pelas novas piadas.
Como a história que acompanha o núcleo na Terra é tão raquítica – praticamente só a personagem da avó de Sid salva o filme, o esquilo astronauta acaba ganhando muito mais tempo em tela. Entretanto, a partir do momento que isto é notado, é difícil ignorar o sentimento de vergonha alheia, afinal um filme com tantos personagens apostar tanto em um esquilo silencioso é um sinal mais do que claro de que essa franquia já não tem mais nada a dizer.
Já mais próximo ao fim do filme, temos enfim a apresentação de Brooke, a preguiça fêmea que vive numa caverna de cristais “zen”, apaixonada por Sid. Aqui, finalmente há a apresentação de uma boa ideia, mesmo que ela seja cliché e remonte à Cocoon, porém, por total falta de habilidade, o núcleo também se torna desinteressante e péssimo em questão de minutos. Tudo isso ocorre após a apresentação de um personagem irritante chamado Shangri-Lhama. Novamente uma ideia que também nos faz recordar, no decorrer da exibição, de filmes melhores. No caso, Zootopia.
Mesmo que Shangri-lhama seja chatíssimo, felizmente, sua participação é curta. O difícil é aturar a dupla histérica constituída por Crash e Eddie ao longo de quatro filmes. Os gambás realmente foram concebidos para não evoluírem em nada mesmo com tantas obras. As piadas são as mesmas, sempre baseadas em escatologias, trocadilhos fracos e slapstick comedy totalmente desprovido de inspiração.
Na direção do longa, a dupla Mike Thurmeier e Galen T. Chu, ao menos conseguem levar o filme adiante sem muita dificuldade. Não chegamos de fato a ficar cansados assistindo à esse novo A Era do Gelo. Ele consegue até mesmo ser um pouquinho divertido. Mas assim como o quarteto de roteiristas, a dupla custa a mostrar domínio inspirado com a câmera ou através de enquadramentos inteligentes.
Tirando um ótimo plano sequência durante a cantoria para reapresentar Buck aos espectadores, os diretores se limitam a mimetizar o que Carlos Saldanha já havia feito nos filmes anteriores. Ou seja, uso intenso de inserções musicais, slow motion, ótima decupagem para descrever a ação e planos simples de timing cômico correto para desenvolver as piadas. Ou seja, na técnica, mesmo que pouco surpreendente, o trabalho é corretíssimo e até apostam em algumas coreografias musicais interessantes.
Na tecnologia da animação, há aqui mais um exemplar surpreendente de avanço tecnológico. Seja na física que afeta o cenário durante a chuva de meteoros, na pelugem dos bichos, na exuberante vegetação, nos cristais translúcidos, no uso impressionante do efeito tridimensional e até mesmo nas próprias animações fluidíssimas dos animais.
Esse fator da animação ser tão bem-feita é primordial para que a comédia corporal dê certo. Os destaques ficam nos personagens que mais dependem desse humor como Scrat, Sid, Crash, Eddie e Buck. São favorecidos também pela game sempre espetacular que a Blue Sky apresenta nas expressões faciais para seus animais antropomorfizados.
Assim como a qualidade dos filmes A Era do Gelo cai gradativamente a cada sequência, o mesmo acontece com a dublagem brasileira. Não digo do desempenho dos dubladores que sempre fazem um trabalho bom, mas sim da localização do texto. Esse filme é, de longe, um dos que mais conta com a presença de gírias. É uma quantidade realmente absurda a ponto de empobrecer a língua portuguesa já que, por exemplo, os personagens nunca dizem que precisam “sair” ou “fugir” de um lugar, mas sempre “vazar”. Além de outras frases que já tem data de validade como “Tá tranquilo, tá favorável” ou outra besteira do tipo.
A Era do Gelo: O Big Bang remove toda as dúvidas que os fãs da franquia poderiam ter: a série está atingindo o fundo do poço. Entretanto, é óbvio que não se trata de um longa insuportável. Assistir à animação é fácil, até mesmo agradável – tirando a cena que apresenta o Shangri-Lhama. Mas vejo que ao contrário de outras franquias de empresas concorrentes, A Era do Gelo foi se infantilizando cada vez mais, adquirindo retratos ainda mais superficiais apostando em humor preguiçoso. Como é um longa bastante colorido, bem realizado tecnicamente e, por vezes, divertido, a obra tem um público seleto muito jovem, o das crianças que ainda estão na primeira infância. Caso seja um pouco mais velho, fica o aviso: é bem provável que não se divirta tanto quanto as criancinhas que estejam na sala de exibição.
Sinceramente, uma pena ver um desenho tão carismático e cheio de potencial se contentar com tão pouco.
Crítica | Procurando Dory - Inesquecível história do esquecimento
É com plena certeza que afirmo que Procurando Nemo foi o filme que eu mais vi nos cinemas em toda a minha vida. Eu adorava a grandiosa jornada de Marlin e Dory pelos sete mares repletos de perigos a fim de encontrar seu filho perdido. Claro que mesmo contando uma história relativamente simples, só fui encontrar os verdadeiros brilhos da obra depois de certa idade. Ainda é um marco tecnológico e narrativo para a Pixar. Foi a primeira vez que a equipe abordou temas muito complicados como a morte, a deficiência e a depressão os moldando de modo leve e aprazível, repleto de carisma e fofura.
Com a compra da Pixar por parte da Disney, a política interna da empresa se alterou. Antes levando apenas projetos originais – com exceção de Toy Story 2¸ o prisma de negócios mudou com Carros 2 e Universidade Monstros indicando até mesmo uma crise criativa após uma leva significativa de filme razoáveis com exceção de Toy Story 3 e Divertida Mente. Agora, depois de treze anos, finalmente a produtora lança a tão aguardada sequência de Procurando Nemo. Mas Procurando Dory se aproxima mais da era de ouro do consagrado estúdio ou cai na safra chamada disneylizada da Pixar? Digamos que é um misto (quase) perfeito desses dois mundos.
Dory agora vive no recife com Marlin e Nemo, ocasionalmente ajudando o professor Raia como sua assistente. Porém, após alguns sonhos esquisitos, ela se dá conta de que sua família está desaparecida. Em um súbito momento de loucura, a peixinha se lança a cruzar o mar aberto tentando encontrar sua família. A partir de um fragmento de memória, ela se recorda que eles vivem em um instituto de vida marinha em Morro Bay. Tentando convencer Dory a ficar no recife, Marlin e Nemo acabam partindo com ela para uma nova aventura que revelará uma jornada relativamente curta, mas muito complicada graças a diversos encontros e desencontros.
Procurando Dory é um filme importante para quem esperou tanto tempo por ele, mas certamente é mais importante para Andrew Stanton. Após a recepção fria da crítica e do fracasso monumental de bilheteria de John Carter, o diretor/roteirista se afastou das telas por quase quatro anos retornando agora com a sequência de Procurando Nemo. Novamente, assim como no original, seu trabalho é excelente na construção de seus personagens principais.
A escolha de Dory é bastante curiosa, afinal não é fácil construir uma narrativa baseada em personagens com problemas de memória – que dirá uma história voltada para as crianças. Felizmente, estamos falando da Pixar, estúdio mestre em simplificar o complexo. O modo que Stanton opta para reconstruir a memória de Dory não foge aos clichês de filmes baseados nesse tipo de personagens como Amnésia ou A Identidade Bourne.
Dory se recorda de sua família e infância a partir de frases importantes ou imagens fortes nos jogando diretamente para um ligeiro flashback – te afirmo que não são poucos. O manejo técnico de Stanton é tão gracioso que o uso recorrente dessa característica não chega a incomodar, mas sim ajuda a remontar com competência o passado da protagonista até o fim do filme, literalmente.
Ao contrário de Procurando Nemo, um grandioso filme repleto de drama melancólico, Stanton opta mais na verve cômica inerente à personagem. Assim cada filme tem sua própria atmosfera distinta e apropriada para seus protagonistas. E garanto a vocês, o trabalho é divertidíssimo. De longe, um dos filmes mais engraçados da Pixar ao lado de Divertida Mente e Monstros S.A.
Como era de se esperar, muitas coisas são espelhadas do antecessor. Stanton recria situações do primeiro filme com frequência – algo que pode te provocar nostalgia ou desapontamento. Isso vai desde o começo dramático, à algumas emboscadas de outros peixes e até mesmo a reviravolta principal do filme. Muitos personagens novos também sofrem dessa repetição que os transformam em misturas ou versões do “universo paralelo” de cada um deles.
Por exemplo, Hank, o polvo que auxilia Dory a se movimentar entre as exibições do instituto marinho é bastante parecido com Gil. Um pouco mais cínico e ácido acompanhado de uma motivação que só se diferencia por ser exatamente a oposta do peixe do filme anterior – enquanto Gil ansiava para voltar ao mar, o molusco antissocial faz de tudo para entrar em cativeiro. Entretanto, por mais surpreendente que pareça, Hank é um dos personagens mais interessantes e legais do filme.
Como Stanton explora mais a fundo uma narrativa carente de antagonista, Hank “preenche” esse espaço, mais se assemelhando mais como um anti-herói do que um vilão propriamente dito. Já que sempre contracena com Dory, as suas cenas são impagáveis justamente por conta do roteirista trabalhar tão bem os dois personagens antagônicos em diálogos enérgicos. Dory, sempre sonhadora, otimista e alegre enquanto Hank permanece rabugento, irritadiço e impaciente. Uma dicotomia manjada, mas encantadora.
Os outros novos personagens, Destiny e Bailey são meramente coadjuvantes cumprindo a tabela de carisma deixada pela ausência do tubarão Bruce – nem todos os peixes do clássico retornam aqui. Talvez o único revés que o longa comporta, além da repetição de temas e situações, é o trabalho com Marlin e Nemo. Diante dessa quantidade enorme de personagens, a narrativa dividida entre os pontos de vista de Dory e Marlin acaba prejudicada, já que os peixes palhaço ganham pouco espaço na sequência. Muito disso se deve a interação nem tão interessante entre pai e filho, mas há certo trabalho de desenvolvimento de personagem para Marlin.
Mas há muito mais do que os olhos podem ver aqui em Dory. Stanton insere o drama rotineiro de busca assim como frisa as características psicológicas conturbadas de seus personagens. Repare que diversos personagens buscam algo ou alguém: Dory busca seus pais, Nemo e Marlin buscam Dory, Hank busca uma vida confortável e livre de perigos no cativeiro, Bailey tenta resgatar seu sonar há muito tempo perdido que por sua vez complementará a deficiência visual da simpática tubarão baleia Destiny.
Não só isso, assim como em Nemo, quase que totalmente todos os peixes comportam características de mazelas psicológicas: Dory tem seu problema de perda de memória recente, além de ser marcada por episódios maníacos – Stanton pende para o drama do “Alzheimer” nas cenas mais densas no drama, Marlin é inseguro ainda resguardando certa melancolia em episódios depressivos e Hank, apático de personalidade paranoica, além de outros personagens maníacos possessivos ou psicóticos que dão as caras no longa.
Fora os distúrbios psiquiátricos, Stanton também delineia as dificuldades sobre a deficiência física seja com Destiny e sua visão comprometida, com Bailey e seu sonar defeituoso e até mesmo com Nemo, embora com o pequeno peixe-palhaço nada é frisado como no primeiro longa. Porém, ao contrário de trabalhá-los com uma narrativa expansiva como a de Nemo, ele prefere inserir Dory como uma personagem aglutinadora que une tudo e todos. O discurso inteiro evoca união, companheirismo, laços de amizade e, acima de tudo, lança aos céus a importância da família – inclusive com simbologias visuais emocionantes. Aliás, importância esta que o diretor vem trabalhando desde Nemo. O laço familiar de Dory com seus pais, Hank, Marlin e Nemo é a força maior desse longa.
A técnica apresentada por Stanton e sua equipe em Procurando Nemo foi um marco visual tecnológico. Até hoje, o longa é belo com animações e texturas que não envelhecem. Diante disso, a equipe tecnológica da Pixar recebeu um desafio monstruoso ao atualizar efeitos atemporais. E conseguiram, com alguma margem de refinamento, sim. A verdade é que o trabalho gráfico de Nemo e Dory são bastante similares alterando ou aperfeiçoando algumas coisas. O mais evidente é o trabalho espetacular que fizeram com a animação do polvo Hank. Seja nas expressões cínicas sempre reforçadas pelas sobrancelhas, pelo movimento independente de seus tentáculos, no rastro de gosma deixado por ele enquanto se movimenta, no brilho dos olhos expressivos cheios de alma, na contração de suas ventosas e até mesmo na estonteante habilidade de camuflagem. É nele onde a tecnologia mais brilha.
De resto, as diferenças mais se concentram no uso de profundidade de campo que agora está muito maior aproveitando detalhes em terceiro plano renderizados com precisão. Até mesmo a iluminação dinâmica com feixes de luz e luzes cáusticas – as altas luzes que brilham na areia e que se movimentam com as ondas, estão muito mais definidas e naturais. De resto, efeitos de física na areia, espirros d’água, texturas de detalhadas de escamas e dégradés nos peixes também foram um pouco aprimorados.
O diretor movimenta muito mais sua câmera do que havia feito no filme anterior, trabalha com breves planos sequência, além de manter os sempre majestosos enquadramentos que marcaram o primeiro filme capturando toda a beleza marítima e subaquática. Assim como em Nemo, Stanton usa a paleta de cores com muito afinco assim como a mudança na visibilidade e cor das águas nas quais os peixes nadam conforme o filme avança – todas refletindo o emocional ou reforçando a atmosfera da cena.
A melhor metáfora visual, porém, ocorre durante o ponto crucial da narrativa para Dory quando ela enfrenta um grande perigo: esquecer de tudo que havia feito até então. O diretor usa enquadramentos simples, de câmera parada, elaborando planos e contraplanos apostando no vazio e no sombrio.
Quando coloca Dory perto do limiar do enquadramento, decidindo se parte para o mar aberto ou retorna para a costa com algas, Stanton nos implica todo a apreensão e sentimento de perigo que a personagem possa enfrentar caso faça a escolha errada. O mar aberto de água turva sem nenhum elemento físico é a representação perfeita do vazio do esquecimento enquanto as algas, ainda que sombrias, firmam raízes para a segurança. É de uma linha sutil de linguagem que acompanha a obra inteira.
É através dessa técnica que o diretor também elabora mensagens ecológicas sutis, belas e, mais importante, nada panfletárias. Com características de cenário, de elementos que os peixes trombam durante a jornada, ele faz seus avisos sobre poluição dos mares e implicações de animais em cativeiro. O mote de seu filme é repetido muitas vezes pela voz de Marília Gabriela (Sigourney Weaver na versão original). O clímax disso tudo se dá em uma bela sequência em slow motion ao som da clássica What a Wonderful World de Louis Armstrong.
Depois, ainda se preocupando com seus personagens e oferecendo um fim muito digno para esta fábula, consegue unir toda a história de Marlin e Dory de modo cíclico no cenário do paredão – local que mais incutia medo no traumatizado peixe-palhaço, mas a partir de circunstâncias muito mais serenas e seguras do que era mostrado no primeiro filme. Um final realmente belo.
Apesar de ser um filme mais próximo dos padrões Disney, Procurando Dory tem muito do espírito que fez a Pixar brilhar por tantos anos e se consagrar nas artes. As boas ideias, a comédia, o espírito que cativa tanto adultos como crianças, a belíssima trilha musical de Thomas Newman, as boas ideias de Andrew Stanton, os personagens carismáticos estão lá, além do ótimo trabalho da dublagem brasileira. No entanto, Dory é muito mais do que apenas isso. Suas profundas mensagens definem que a Pixar nos trouxe uma inesquecível história sobre o esquecimento.