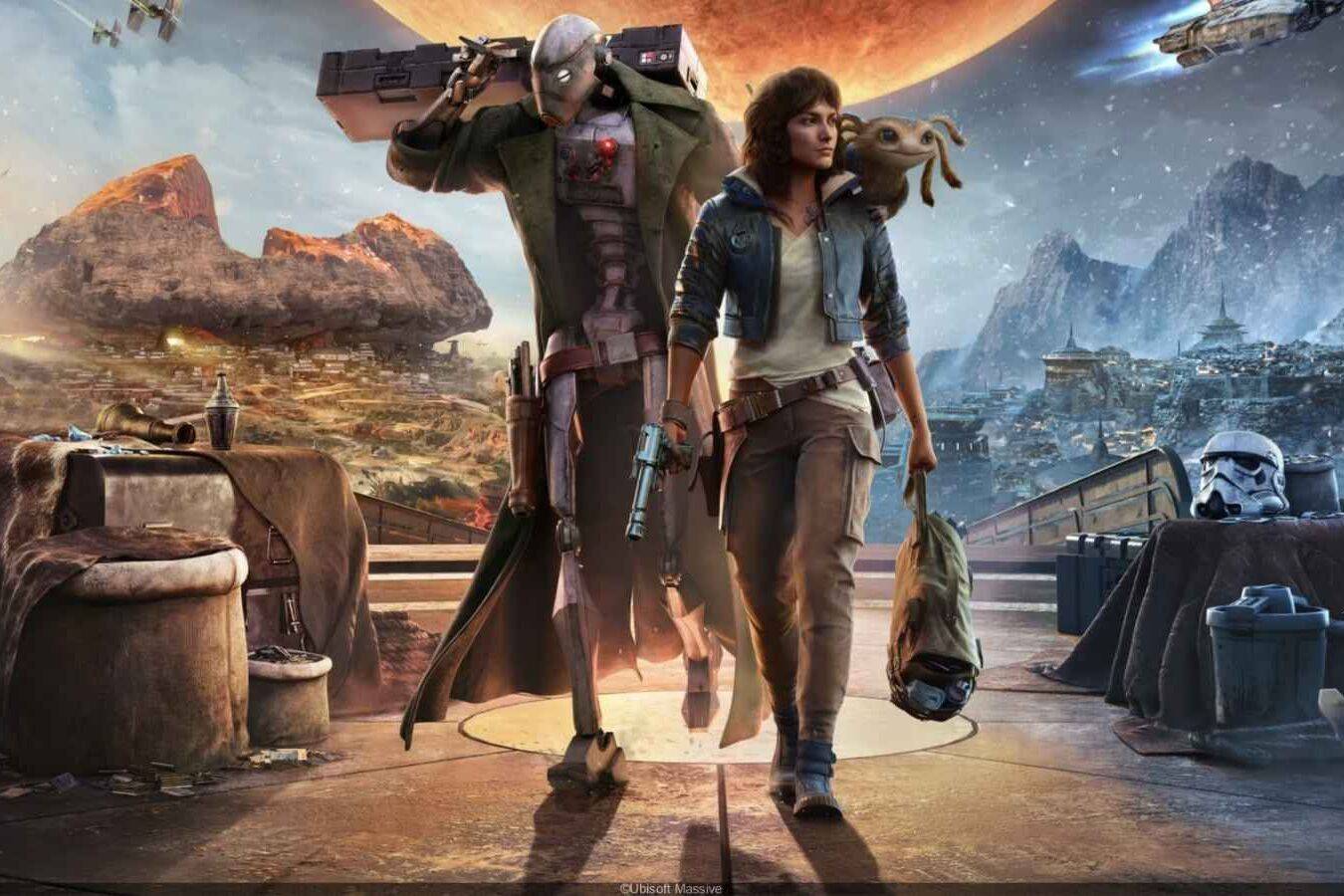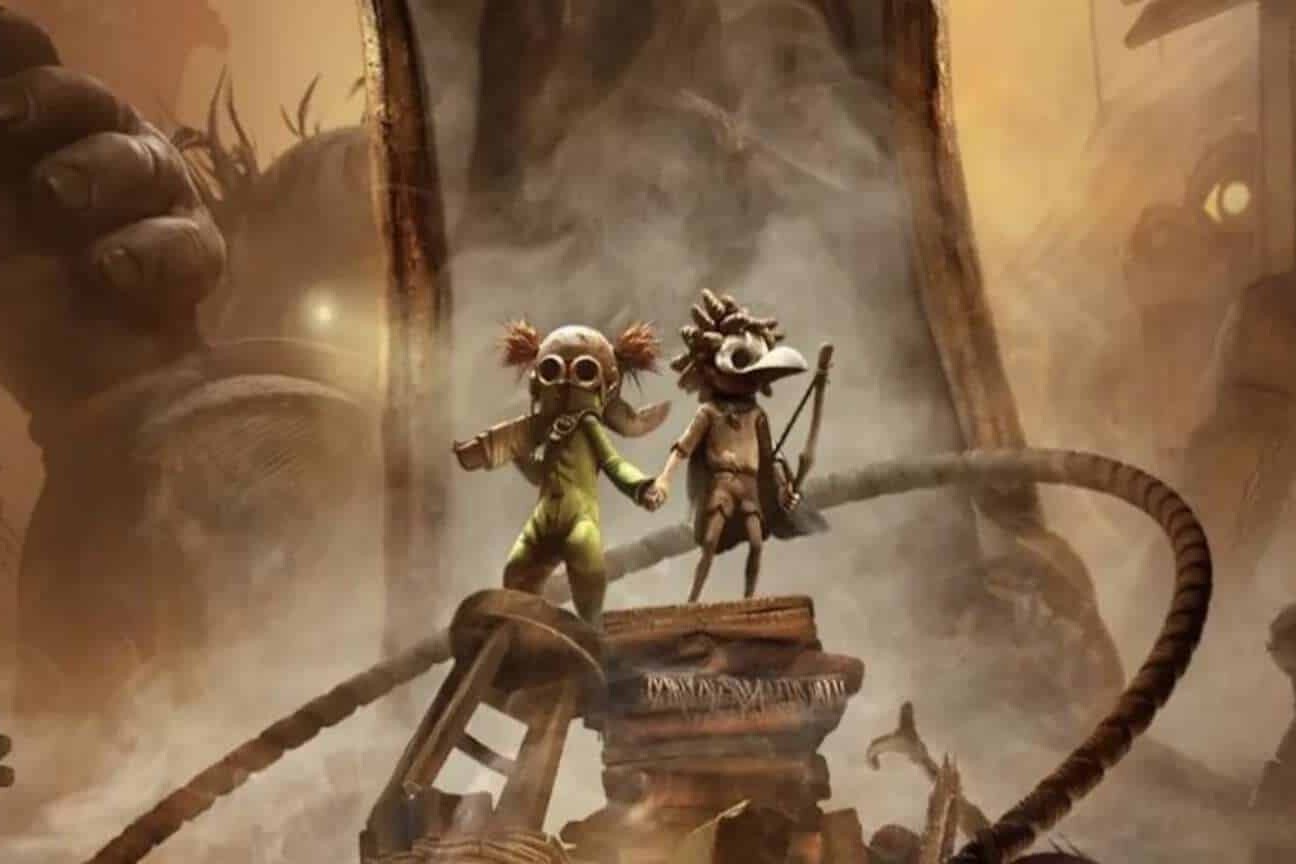Crítica | O Sobrevivente oferece ação intensa em sátira da sociedade do entretenimento
O Sobrevivente vai bem até o desfecho, apoiado numa atuação carismática de Powell, no cinismo…
Review | Tales of Xillia traz nostalgia com novo fôlego
Tales of Xillia Remastered consegue algo raro: fazer o velho soar novo, e o familiar parecer…
Review | Dragon Quest I & II HD-2D Remake dá aula de como se preservar um clássico
O remake honra a razão pela qual Dragon Quest sambou por décadas no panteão dos JRPGs: é…
Review | Persona 3 Reload chega ao Switch 2 com muita qualidade, mas com performance abaixo do esperado
Persona 3 Reload permanece um dos melhores JRPGs da história e um remake exemplar que merece ser…
Review | Digimon Story: Time Stranger é um JRPG com coração de ouro e pernas de chumbo
Digimon Story: Time Stranger traz uma das melhores jornadas da saga, mas diversos tropeços bizarros…
Review | Star Wars Outlaws para Nintendo Switch 2 é um trunfo técnico quase inacreditável
Star Wars Outlaws no Switch 2 é mais do que um port; é uma redenção. O jogo, agora livre dos bugs e…
Review | Little Nightmares III estreia trazendo bons pesadelos compartilhados
Little Nightmares III consegue ser ao mesmo tempo familiar e novo: ele retém boa parte da fórmula…