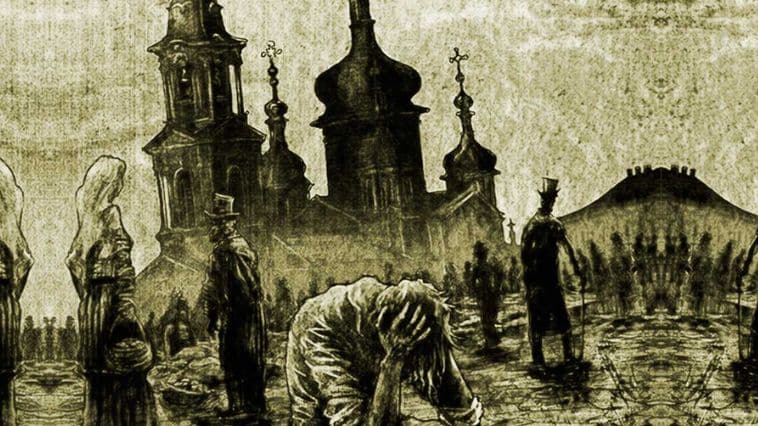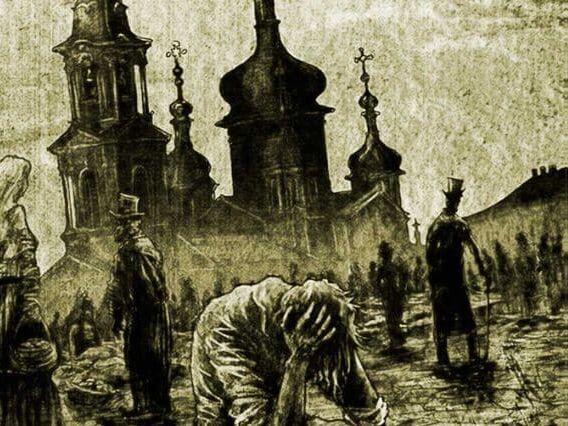Muitas vezes, a cultura do cancelamento foi mais explícita. Os nacionais-socialistas queimavam livros em praça pública, e o bloco soviético simplesmente não permitia que livros fossem publicados e comprados. Mas o mal é insidioso. O que era admitido, cada vez mais agora é através de subterfúgios. E modernamente o fenômeno tomou outra cara. Simplesmente a mídia ignora aquilo que não quer que os outros saibam. No Brasil o fato ainda é pior, pois a mídia tradicional é de cunho absolutamente marxista. Mas, com o avanço das redes sociais e canais de internet, muitas pessoas com articulação intelectual mais profunda conseguem descobrir o que é cancelado. Opiniões verdadeiras, entretanto politicamente incorretas, são boicotadas por uma militância estúpida e filisteia. Porém, o assunto é batido. A diferença, talvez, é que agora, com o acesso mais plural às informações faz com que o busílis fique cada vez mais explícito.
A estratégia da esquerda é de sempre vituperar aquilo que não lhe interessa. É uma questão ideológica, nunca a questão é sobre a qualidade daquilo que fazem apupos. Poderíamos citar inúmeras obras que passaram por isso, como o caso recente do filme Top Gun: Maverick que, obviamente, deu errado, pois o filme é um sucesso de bilheteria. Mas vamos nos restringir à literatura nesse texto.
Dostoiévsky foi um dos maiores escritores da literatura mundial. A sua influência, no final do século XIX, foi enorme, a ponto de até Nietzsche lhe tecer elogios. Suas obras são reeditadas constantemente e sua qualidade é inegável. Isso nem a URSS conseguiu negar, tratando com respeito os seus livros e sua figura. Entretanto, há uma grossa omissão sobre sua figura. Dostoiévsky, depois de pertencer a grupos terroristas e quase ser morto por conta disso, tendo sua pena sido comutada para uma deportação para a Sibéria, virou um conservador e religioso, que apoiava a monarquia russa, o Tsar. Uma de suas obras fundamentais é o livro Os Demônios, que ombreia com os mais conhecidos Os Irmãos Karamazóv e Crime e Castigo. Mas é um livro que tentam fazer esquecê-lo.
A começar pelo título. Em edições antigas no Brasil o título era Os Possessos. Evidentemente, não precisa ser um exorcista para perceber, há uma diferença enorme entre um demônio e alguém que é possuído por um. No segundo caso, a culpa é de um terceiro. E culpar terceiros pelas suas faltas é o mote do esquerdismo, o alicerce no qual todo o marxismo está baseado. Não acredita em mim? O próprio tradutor da edição brasileira feita pela Editora 34, Paulo Bezerra, explica que a palavra em russo para possessos não é aquela do título original do livro. Assim começa a saga não do livro, mas do seu cancelamento.
E a razão é óbvia. Os Demônios é a obra que melhor analisa a mente revolucionária. Em resumo, se trata de um grupo, numa pequena cidade da Rússia, que comete um assassinato contra um dos seus. Durante o regime militar brasileiro, a questão do justiçamento, ou seja, matar um próprio ente do grupo por algum sinal de discórdia, era uma constante. Uma parte do número de mortos pela ditadura não foi feito pelos militares, mas sim pelos próprios terroristas. Isso não é restrito aos grupos brasileiros nem russos, é um modus operandi dessas corjas. No Brasil, engravidar poderia ser um desses motivos. No livro de Dostoiévsky. Chatóv é morto por supostamente ter saído do movimento, ser um traidor com informações “valiosas”. Essa conexão com a realidade, seja brasileira, seja russa, faz da obra uma coisa viva, moderna. O escritor fez o livro como resposta a um caso real ocorrido na Rússia, onde um sujeito chamado Ivanov foi morto pelo grupo de Nechayev, um revolucionário niilista que teve ligações com Bakunin. Queria escrever um libelo contra o niilismo, o radicalismo e as ideias progressistas. Apesar desse caráter, em nenhum momento a obra resvala para a propaganda, para a mera acusação sem fundamentos.
Quando se lê uma obra do escritor russo, a profundidade psicológica é tão gigantesca que em nenhum momento sente-se uma tipificação. Piotr, o líder dos terroristas, apesar da sua maldade intrínseca, age por ego, é um jovem tentando sua autoafirmação. Em um momento do livro, confessa a Nikolai, por quem nutre uma grande e estranha admiração, que tudo o que importava para ele próprio era Nikolai. As personagens são complexas, complicadas, com gestos mesquinhos e de grandeza. Nikolai, que é uma espécie de contraponto a Piotr, não se pode dizer que é um herói. Compare Dostoiévsky a Máximo Górki. No livro A Mãe, esse último também escreve sobre um grupo de revolucionários. Mas Górki é um militante (que inclusive participou do regime soviético e foi homenageado dando seu nome a um belo parque em Moscou). O livro de Górki transpira isso o tempo inteiro. As personagens são rasas, uns são bons, pobres e sofredores, outros ricos e maus. Tudo é plano, sem ambiguidades. Em nenhum momento você encontra isso em Os Demônios. E é por isso que ele é uma obra-prima enquanto o outro é uma propaganda com talento.
Investigando a mente das pessoas, Dostoiévsky traça um retrato ímpar. Não é só a política, são as pessoas. Há inúmeros detalhes. Nunca um movimento revolucionário obtém êxito se a sociedade o rejeita por completo. No livro, a esposa do governador, Yúlia Mikháilovna, trata Piotr e seu movimento como ideias novas, como algo curioso, inocente. Além da leniência com o movimento, ela também faz uma festa beneficente. Qualquer semelhança com os ricos e as grandes empresas com as “causas” nos dias de hoje, obviamente, não é mera coincidência. O politicamente correto ganhou muita força na nossa época, mas as atitudes que o subsidiam já está há muito tempo entre nós. E boa parte desse pensamento existe na própria elite. Basta lembrar de Philippe Égalité, um nobre francês que se converte ao jacobinismo e, em uma atitude vil, acaba por votar pela morte do próprio primo, o Rei Luís XVI. Como revolucionário está interessado em ideologia, não em seres humanos, Égalité também é guilhotinado pelos próprios companheiros de partido. E a grande lição de Os Demônios é desmascarar essa mentalidade, cujo seio provém da Revolução Francesa.
Por falar nessa, o segundo livro que tentaram sumir é O Conde de Chanteleine, de Júlio Verne. Esse é um caso ainda mais escandaloso de cancelamento. Conhecidíssimo por seus livros de ficção científica, Verne escreveu esse livro antes do sucesso. Com este, seria muito fácil publicar quaisquer livros. Mas seu editor, que era protestante e republicano fanático, achou o livro muito pró-clero e pró-monarquia, e o cancelou. A história é tão assustadora que o livro só veio a ser publicado em 1994.
Ficar esquecido por tanto tempo foi uma pena, pois o livro tem qualidades notáveis. É curto, com boa escrita e trama bem urdida. E, principalmente, desmonta o mito da Revolução Francesa como algo construtivo e justo, além de relembrar a Guerra da Vendéia, que é algo realmente heroico e vítima de abusos colossais, tal como o Holodomor na Revolução Russa.
Embora se omita por conveniência, a Revolução Francesa foi de uma violência inaudita. E foi um movimento da capital, Paris, muito mais que do interior, que era mais conservador. Tanto que Charlotte Corday, a girondina que assassinou Marat, no auge do período do Terror, vem da província para fazê-lo. Além de Charlotte, outros focos de resistência aos desmandos de Paris foram vistos em Lyon e na região da Vendéia, que foi a maior força em guerra civil na França revolucionária. Os combatentes dessa região não eram, como fazem querer crer, nobres inconformados, mas clero, nobreza, camponeses e povo unidos contra a arbitrariedade parisiense. E esse é o pano de fundo onde se desenvolve a trama.
Lendo o livro, não é difícil de perceber os motivos de seu cancelamento. Mostra os revolucionários como são, seres desprovidos de qualquer piedade e bom senso. Mostra relações de um nobre, o Conde, com um servo, Kernan, que lhe é fiel, assim como seus outros servos. As pessoas, intumescidas pela visão marxista de mundo, muitas vezes esquecem que relações entre servos e nobres, patrões e empregados, podem ser muito mais complexas que apenas uma relação de poder e entre quem paga e quem recebe. No mundo real, as coisas são mais complexas, e a fidelidade de Kernan sobrepassa quaisquer ligações materiais. O único servo pelo qual o livro dedica uma visão negativa é Kerval, um antigo servo que virou revolucionário e que, como todo frustrado insuflado de poder, deseja a vingança mais mesquinha contra seu antigo patrão.
Desse modo, o livro exalta as pessoas simples contra a opressão dos jacobinos. Para se ter uma ideia, estes (que, como todo revolucionário, tem absoluto desprezo pela Igreja) resolve que novos padres devam ser nomeados pela Revolução. A Igreja, na Vendéia, tinha uma importância muito grande, seja pela fé das pessoas, seja pelo seu papel na caridade. Então, obviamente, impor padres mais afeitos às causas que ao papel doutrinador gerava tensão.
Verne, durante a narrativa, faz uma oposição entre o povo da Vendéia, leais, companheiros, unidos, contra os jacobinos, desleais, mesquinhos e vingativos. Alguém poderia falar que isto é um tanto quanto idealizado, mas perto do A Mãe, parece a conversa de um adulto contra uma criança. Boa parte da obra dos autores de esquerda cai em falsa inocência, em um didatismo pretensamente pueril. Basta ver A Vida de Galileu, do Bertold Brecht, que é didático como um livro de primário, ou ainda a descrição do acampamento coletivo Weedpatch Camp, criado por Roosevelt, no livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, que mais parece uma descrição do Paraíso. Seguramente Verne é muito mais esperto que isso e sua militância pela Vendéia, se que é existe, é infinitamente mais discreta que a dos outros livros citados neste parágrafo.
Por fim, o último livro que tentam fazer desaparecer é Um Conto de Duas Cidades, uma obra-prima de Charles Dickens. O curioso aqui é que Dickens, na visão mais simplista, é visto como um “crítico da Revolução Industrial”. Esta é a visão do escritor inglês que recebemos. Mas a verdade é que Dickens é um verdadeiro artista, não um ideólogo de quinta categoria. E Um Conto de Duas Cidades mostra isso. O livro é uma narrativa que mostra Londres e Paris na época da Revolução Francesa. E a visão da revolução não é nada positiva nele. Baseado no livro de Thomas Carlyle sobre o período, percebe-se que a Londres da monarquia é um lugar muito mais hospitaleiro que a França da República. Não estou afirmando que Dickens defende a monarquia, longe disso. Só estou fazendo um contraponto. O livro é sobre a história das pessoas, não da ideologia. Mas, ao ter como pano de fundo este período turbulento da história, as conclusões são inevitáveis.
Apesar de parecer uma visão diferente, muitas vozes, na época, se levantaram contra os desmandos da revolução francesa. O filósofo Edmund Burke, por exemplo. Mas isso raramente é mencionado, e o retrato dela é como se fosse um livro do Górki, pueril, como se os revolucionários fossem anjos a salvar as pessoas dos maléficos reis tiranos. A realidade, que pode ser apreendida pelo livro, foi muito diferente disso.
No maio de 1968 também há algo parecido. Assim como Burke, Roger Scrouton, filósofo contemporâneo, depois de um encantamento pelo movimento, percebeu que era uma falácia. Mesmo Pier Paolo Pasolini, que era comunista, divisou que o maio de 68 era uma brincadeira de estudantes, e criticou o movimento. A história de repete.
Isto posto, percebe-se que a Revolução Francesa é um assunto por demais controverso. O historiador Simon Schama pontua, em seu livro Cidadãos que, para a população em geral, o que tiveram com o movimento foi uma situação pior do que a de antes. Também frisa que o movimento atrasou o início da Revolução Industrial na França. Ou seja, perpetuou a pobreza. E a coisa só não foi ainda pior pois Napoleão, mal ou bem, deu um basta no descalabro e deu uma reorganizada no país. Tivesse isso não ocorrido, a França provavelmente teria o destino da Rússia, que de um país dos que mais prosperava no período anterior à Primeira Guerra Mundial virou um feudo de mafiosos na atualidade. Mais ainda, para sanar as finanças públicas que se aceleraram absurdamente no período revolucionário, Napoleão teve que fazer da guerra e do saque a sua política econômica.
No exterior, Um conto de duas cidades é um livro bem conhecido. No Brasil, pouco se fala dele, o que é uma pena, pois se perde a oportunidade de ler um livro com uma estrutura absolutamente bem montada, narrativa ágil e cativante. Mas, ainda que lá fora seja mais divulgado, é impressionante a diferença de vezes em que Oliver Twist, por exemplo, foi mais adaptado ao cinema que a livro por aqui referido. Mas é fácil de entender: enquanto o Oliver Twist preenche a sanha esquerdista de destruir os imensos legados da Revolução Industrial (embora Dickens seja muito mais complexo que isso), o outro joga lama na reputação da Revolução Francesa.
E, para qualquer um que já estudou as sociedades e a economia, é inegável que a Revolução Industrial foi muito mais importante para a erradicação da pobreza e uma melhora nas condições de vida da humanidade do que a Revolução Francesa.
Escritores do século XIX, que vivenciaram o desenvolvimento da indústria, nem sempre tinham uma visão negativa sobre ela e os capitalistas. Victor Hugo, que era um socialista, faz de Jean Valjean, em Os Miseráveis, o perfil, tão comum na era do liberalismo clássico, do menino pobre que se enriqueceu virando um industrial. Em Tempos Difíceis, Dickens faz da personagem de Stephen Blackpool, que é a mais digna do livro, ser um operário que é contra a greve. Bounderby, o industrial, rival de Blackpool também fora um menino pobre que enriquecera através da indústria. Ainda que Bounderby seja retratado como mesquinho e iníquo, o seu rival, o líder sindical Slackbridge, não tem um retrato muito mais favorável.
Assim, grandes escritores são muito mais sutis e observadores do que os patrulheiros ideológicos nos querem fazer crer.
Esses são pequenos exemplos de como a rede de cancelamento atua. Estamos citando aqui casos específicos na Literatura, mas o ato grassa por todas as manifestações culturais. Veja o caso de Samantha Monteiro, que por participar da campanha de Paulo Maluf (provavelmente mais como um trabalho do que por afinidade ideológica) teve sua carreira praticamente interrompida. Sua carreira até então meteórica, com a atuação como Lady Macbeth numa das melhores peças dos últimos 30 anos no Brasil, o Trono de Sangue, de Antunes Filho, não foi o suficiente para evitar o dano. Só reapareceu agora, com outro nome. Outras atrizes que passaram pelo mesmo ostracismo foram Tereza Rachel e mesmo Cláudia Raia, ambas pelo apoio a Fernando Collor de Mello na eleição de 1989. Enquanto a primeira, infinitamente mais talentosa, nunca foi reabilitada, a segunda recuperou seu destaque ao apoiar o candidato que o cancelamento permite, e que curiosamente era o rival de Collor em 89.
Adriano S. Barbuto é diretor de fotografia, professor de cinematografia e gosta de ir ao cinema, ler, ouvir música e assistir óperas. E fazer longas caminhadas.