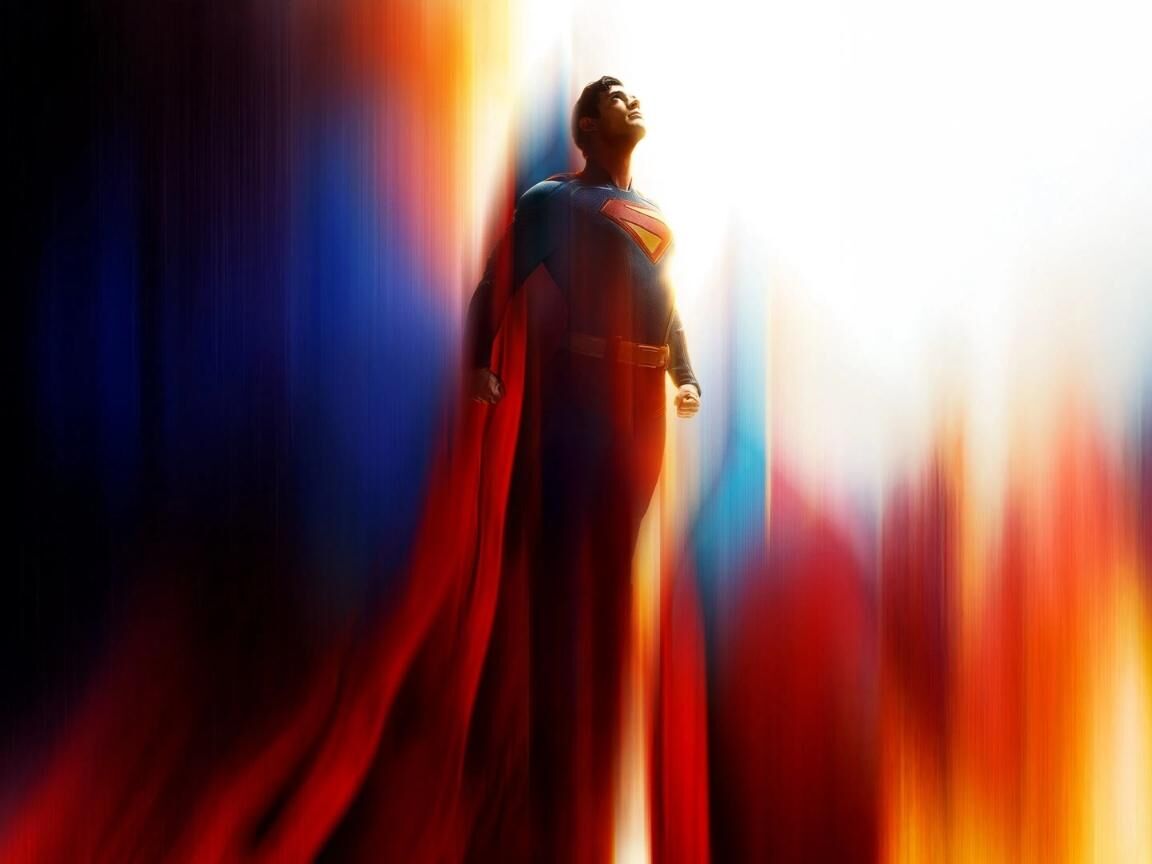Todo filme de super-herói tem uma particularidade que talvez não se aplique a nenhum outro (sub)gênero cinematográfico: cada filme se comunica muito mais com a “subcultura” de sua comunidade (dos super-heróis e HQs em geral) que com o próprio cinema (e os filmes em si). Na prática, isso significa que o filme presta pouco tributo e não perde muita energia em se posicionar dentro da estética cinematográfica propriamente dita, focando em fatores que são quase externos a cada produção: notadamente, como os aficionados irão reagir a personagens e situações que – não raro – eles conhecem de trás para frente; e, ato contínuo, como cada filme vai se ramificar (ou já faz parte de uma ramificação anterior) com outras séries e narrativas (sejam elas cinematográficas, literárias, etc.).
Se, por um lado, tal constatação faz com que filmes de super-herói tenham uma autêntica vida própria dentro da indústria, ao mesmo tempo o aspecto especificamente “fílmico” de cada novo título tem menos importância do que teria em outros gêneros. A comunidade parece ter suas próprias regras e volume suficiente para levantar ou enterrar cada nova produção – sendo esta um “bom” ou um “mau” filme. Certamente, o novo Superman de James Gunn lançado agora em 2025 se situa em algum lugar (discreto) entre uma coisa e outra.
A abertura do filme é promissora: nos primeiros 10 minutos, estamos diante de um espetáculo essencialmente cinematográfico – aqui significando que a linguagem cinematográfica é o “motor” da narrativa, suas engrenagens internas aparecem em pleno funcionamento: expectativa e recompensa, alternância entre som e silêncio, a dança de quadros balanceada entre vazio e movimento, tudo está ali. Há uma identificação natural pelo protagonista agonizante, a entrada do cão Krypto (talvez efetivamente a melhor coisa do filme todo) é divertida e triunfal. Tudo combina, tudo bate, lembrando até o clássico Superman original de Richard Donner. Há atmosfera e suspense, cada plano aguarda pacientemente o seguinte para entrar, não atropelando o anterior numa edição aleatória e desenfreada.
Pois bem: isso dura menos de 10% da metragem toda. O restante do tempo, James Gunn (diretor e roteirista) irá basicamente repetir todos os cacoetes que aquele gênero tornou célebres, numa monotonia aguardada e que – possivelmente – satisfaz a comunidade. É impossível não pensar por um instante o que seria se um cineasta tivesse a mesma coragem de Christopher Nolan ou Todd Phillips em trazer o heroi invencível para o realismo ficcional, numa narrativa crua e cuja dimensão humana superasse a mera listagem de fraquezas (coisa que será feita aqui com o protagonista) em direção a uma ambiguidade verdadeira. Fica para outra oportunidade.
Roteiro se ocupa de diferentes núcleos e o protagonista fica perdido no meio deles
É aborrecido tentar descortinar a trama de um típico filme de super-herói como este, uma vez que qualquer respiro pode revelar um spoiler escondido que não diz muito ao espectador comum mas soaria como uma ofensa aos aficionados. O protagonista começa, atravessa e termina o filme em apuros (quando não em conflito íntimo ou literalmente apanhando na cara mesmo) porque Gunn quer provar que ele é “humano” ou algo parecido. Em alguns momentos, essa fixação torna o personagem quase num coadjuvante de seu próprio enredo, tentando se achar numa sucessão atabalhoada de outros personagens e núcleos, além de uma mal-sucedida e superficial trama paralela de natureza “geopolítica” que não escapa da caricatura.
Os personagens que gravitam em torno do Super-Homem vão de uma Lois Lane (Rachel Brosnahan) propositalmente desglamourizada (e que faz suspirar de saudade por Margott Kider), o (anti)herói desbocado que aparece pela milionésima vez em uma roupagem que acaba sendo indiferente de tantas vezes repetida, até o cãozinho que rouba as cenas, seja ele em carne e osso ou elaborado efeito digital. É o maior acerto da produção (embora muitas vezes ele pareça ser mais forte que o próprio tutor, o que beira o ridículo). O vilão Lex Luthor, por sua vez, emula algum tipo de magnata da tecnologia com pouca dimensão humana (apesar da interpretação de qualidade habitual de Nicholas Hoult, um ator mais interessante que o próprio David Corenswet, que se esforça para tirar algo de cenas em que ele pouco faz além de se contorcer).
Ser “divertido” e “relevante” não é para qualquer filme, Gunn
Quando o roteiro se arrisca e abordar temas que, na cabeça de Gunn, “posicionam” a produção dentro da discussão contemporânea, esbarra na própria limitação do texto (na questão dos “imigrantes”, do qual o protagonista seria um exemplo) ou na inverossimilhança – quando, por exemplo, tenta agrupar num mesmo contexto temporal a existência de “bots” em redes sociais e a importância de um jornal (ainda) impresso, duas realidades díspares e que confundem a cabeça do espectador mais atento: afinal, estamos em 2025 ou 1985?
Nenhum dos defeitos do filme provavelmente atrapalha o deleite da comunidade, que vai ao cinema menos pelo espetáculo cinematográfico em si e mais para conferir como sua própria cultura será alimentada – num jogo de reações condicionadas e que pouco contribui para a arte do cinema, mas por outro lado mantém a indústria viva e aquecida.
Cineasta, roteirista e colaborador esporádico de publicações na área, diretor do documentário “O Diário de Lidwina” (disponível no Amazon Prime e ClaroTV), entre outros.