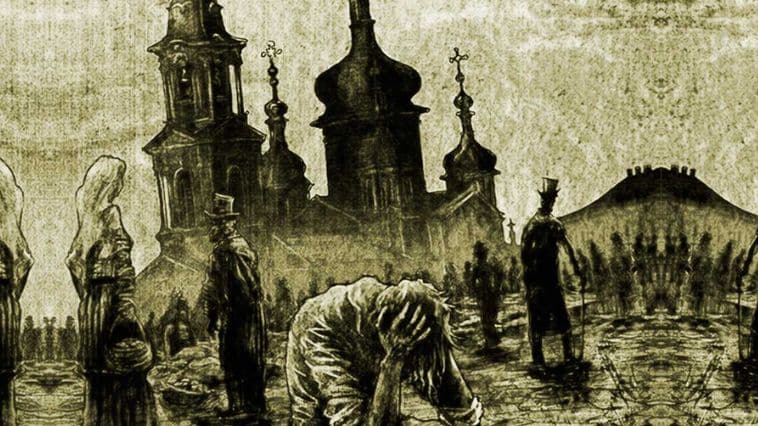Hitchcock, o diretor e produtor de Psicose – Parte final
Após Psicose
Como dissemos, Psicose foi uma reviravolta na carreira de Hitchcock. Tendo que pagar do próprio bolso seu filme, tomou o caminho da simplicidade e ousadia. Resultou num homem ainda mais rico e aclamado. Pelos direitos do filme e de seu programa de TV, vira o terceiro maior acionista da Universal. O milionário, porém, no auge, passa a ter problemas.
Alguns acham que o sucesso havia subido à cabeça, e Hitchcock queria agora fazer filmes para os críticos, provar a eles também que tinha seu valor, já que ao público não havia quaisquer dúvidas. Para outros, o público, depois de Psicose, aguardava por outra coisa tão impactante como. Os filmes rarearam, três projetos fracassaram antes de rodar Os Pássaros. Marnie, confissões de uma ladra (Marnie, Alfred Hitchcock, 1964) naufragou nas bilheterias, ainda que seja um belo, triste e desprezado filme. A idade e a distância entre as gerações, também iam pesando.
Ao contrário de muitos diretores, que gostam mais do glamour da profissão que do cinema propriamente dito, Hitchcock amava este. Acompanhava os filmes novos, e sua vida era dedicada a seus projetos. Enquanto pesquisava locações para The short night, Hitchcock teve que declinar de ser diretor. Aí entra uma figura que aparece no filme de Sacha Gervase en passant, Lew Wasserman, que era da MCA e depois da Universal. Para aqueles que sempre acreditam que o produtor é sempre o malvado e o diretor a vítima, segue uma bela história.
The Short Night estava sendo produzido, e passava por uma série de dificuldades. Uma delas era que Wasserman descobrira que Hitchcock estava com sérios problemas de saúde. O produtor diz que, se Hitchcock pudesse tomar o voo para filmar em Helsinki, o filme iria continuar. Wasserman diz que se tivessem que perder alguns milhões de dólares e fazer Hitchcock feliz, que assim o fosse. É o melhor dinheiro que poderíamos perder. O projeto continuou. Um dia, porém, Hitchcock convoca seu ex-assistente de direção, agora diretor de produção, Hilton Green, para uma conversa. É quando, quase com lágrimas nos olhos[1], declina do projeto e do cinema, pois não ia conseguir fazer mais filmes do jeito que queria. Para Green, “foi o dia mais triste da minha vida”. O homem que não tinha hobbies, que nada mais sabia fazer, estava derrotado. Green, ao relatar a notícia para Wasserman (que nas suas palavras era um homem durão), nota que este chora, dizendo que sabia que um dia aquilo aconteceria[2]. Deixar de filmar era o passo para a morte, que tão bem foi retratada por ele. A partir de agora ela deixava de ser mise en scène e se tornaria real.
Conclusão
Psicose ilustra bem o diretor que foi Alfred Hitchcock. Ninguém, como ele, soube aliar arte e comércio. Não há nenhum outro diretor tão aclamado que tenha feito tanto sucesso, e não há nenhum diretor de tanto sucesso que tenha sido tão aclamado. Para o operador de câmera Leonard South, que por muitos anos trabalhou com ele, “Hitchcock era uma rara combinação de grande artista, técnico e homem de negócios”[3].
Hitchcock, ele mesmo, não se considerava um homem de negócios. Porém, seus melhores amigos eram executivos[4]. Apesar da negativa, Hitchcock sabia negociar. Assim como barganhou com os executivos da Paramount para poder realizar Psicose, o diretor negociava salários com seus subordinados, sempre aproveitando de sua fama para pagar salários mais baixos[5], já que trabalhar com Hitch era sinônimo de status. Hitchcock também foi um dos primeiros diretores a parar de receber salário do estúdio, trocando por receber como empresário, o que evitava as altas incidências de imposto como pessoa física[6].
O que muitas pessoas esquecem é que um diretor não é apenas alguém que planeja e dirige filmes. Ele é também alguém que tem que lutar por seu trabalho, e boa parte do trabalho de dirigir um filme é, em certo sentido, político. Fazer com que a equipe trabalhe para o filme é uma das funções primordiais do diretor. Dentre todas as fontes que consultamos praticamente ninguém reclama de Hitchcock dentro do set. Ele fazia com que as pessoas se sentissem como parte do filme, dizendo coisas do tipo “como nós vamos fazer...”[7], no plural, e não no singular, como se apenas ele fosse fazer. Quando as pessoas se preocupavam demais, ele respondia o mencionado usual “É apenas um filme”[8].
Assim, por todas estas características, a feitura do filme Psicose acaba por revelar a essência do diretor inglês, e se mostra de profundo interesse àqueles que se tem curiosidade pelos meandros do cinema e da direção deste. Tendo ido do cinema mudo ao sonoro, do preto e branco para as cores, de desenhista de subtítulos para diretor consagrado, Alfred Hitchcock de certa forma resume a trajetória do cinema no século XX.
Em suma, ninguém resumiu tanto a natureza essencial do cinema, arte e comércio, como ele.
[1] In Plotting ‘Family plot’ (Laurent Bouzerau, 2003).
[2] CHANDLER, Charlotte. Op. cit. p. 323-326.
[3] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 200.
[4] SPOTO, Donald. Op. cit. P. 477.
[5] Idem. Op. cit p. 416.
[6] Idem. Op. cit. p. 479.
[7] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 110.
[8] CHANDLER, Charlotte. Op. cit. p. 194.
Hitchcock, o diretor e produtor de Psicose – Parte 4 (dentro do set)
Hitchcock como diretor dentro do set
Pelo que se depreende, Hitchcock era o contrário de uma prima donna. No filme de Sacha Gervasi há uma piada que poucos perceberam. Alguém pergunta a Janet Leigh como era trabalhar com Hitch, e ela diz que é fácil, principalmente depois de ter trabalhado com Orson Welles. Se Orson era mesmo o chato que transparece pelo diálogo não consegui descobrir, mas Hitchcock era muito diferente do diretor de cinema usual. Não gritava, não excedia as horas de filmagem, não ficava controlando o trabalho de todos, aceitava sugestões, chegava antes do horário estipulado para o início da filmagem. E, por vezes, era capaz de gestos realmente grandiosos, como quando no último dia de filmagem de Janela Indiscreta, e que era o aniversário da atriz que fazia a bailarina (Miss Torso), prepara uma festa surpresa para ela dentro do set ao final da filmagem, em um bolo em forma de torso[1]. Apesar de simpático, Hitchcock era uma pessoa reservada, sempre fazendo com que as pessoas mantivessem uma distância da sua intimidade.
As histórias são muitas, mas vou me ater àquelas relacionadas à direção de fotografia, que é minha área. Como exposto acima, o diretor teve problemas com sua equipe de TV. E não foi diferente com seu diretor de fotografia de Psicose, John Russell. Não problemas sérios, mas problemas típicos de filmagem. E não tiram o mérito de Russell, que foi nominado ao Oscar pelo filme. Russell, por sua experiência na TV, era rápido, o que explica o fato de ter trabalhado em outro filme rápido e financiado pelo próprio diretor, Park Row (Samuel Fuller, 1952), rodado em apenas 14 dias[2]. Mas nem sempre suas soluções eram aquelas que satisfaziam Hitchcock. Numa diária, Hitchcock desconfiou que um refletor estivesse aparecendo em quadro. Pediu ao continuísta para conferir na câmera, já que ele mesmo quase nunca olhava por ela. O continuísta confirmou. Hitchcock se dirige a Russell e pergunta se o refletor aparecia. O fotógrafo garante que não. A cena é filmada. No outro dia, ao assistir ao copião, o continuísta vê o refletor. Vê-se obrigado a relatar a Hitchcock. Este chama Russell, e o continuísta fica constrangido, pois era amigo do diretor de fotografia. Hitchcock diz a Russell que acabou de ver o copião e que o refletor estava lá. O continuísta admira Hitchcock, pois não o delatou, e chamou a responsabilidade para si[3].
Um problema similar ocorreu quando da filmagem da cena onde Vera Miles descobre a mãe. Hitchcock queria que a primeira, ao se assustar, batesse a mão em uma lâmpada. Hitchcock queria que esta, ao se movimentar, produzisse flares (o efeito que o raio de luz gera ao atravessar as objetivas, provocando por vezes um “espalhamento” de luz na imagem). Rodaram a cena e Hitchcock perguntou a Russell se o feito estava lá. O diretor de fotografia disse que sim. Ao checar o copião, Hitchcock viu que não era verdade. Foi ao assistente de direção, Hilton Green, e disse que ele, Green, não havia conseguido registrar os flares e que tinham que filmar novamente. Green estava bem ao lado de Russell, e foi uma maneira gentil do diretor chamar a atenção de seu diretor de fotografia[4].
Muitos atores reclamavam que Hitchcock não lhes dava atenção, mas a verdade é que o método do diretor era um pouco diferente do habitual. Hitchcock se preocupava com a câmera, sendo o ator mais um elemento dentro da linguagem visual. Não estava interessado nas emoções prévias do ator, na composição da personagem, em toda esta questão que o Actor´s Studio trouxe. Quando Kim Novak, uma das que reclamavam, pergunta sobre suas motivações no filme, ele responde que eles não deveriam ir muito fundo naquilo, pois “era apenas um filme”[5]. Para ele, o importante era o olhar neutro, pois acreditava que a emoção estava no modo como ia concatenar as imagens. E não podemos dizer que seu método não funcionasse, pois Tippi Hedren, escolhida por Hitchcock a partir de um comercial[6], tem uma bela atuação em seu primeiro filme, Os Pássaros, ganhando um Globo de Ouro como estreante. O lado bom era que permitia ao ator aplicar suas próprias ideias, respondendo em geral um “Tente isto!” às sugestões deles.
Hitchcock, tendo exercido várias funções em sua carreira, entendia muito da técnica. É por isso que raramente olhava pela câmera, pois tinha boa ideia do que estava enquadrando. Os problemas técnicos o desafiavam. Ao sugerir ao fotógrafo Ted Tetzlaff uma solução de luz, ouviu como resposta: “Ah, então o papai se interessa pela técnica?”[7]. Sim, se interessava, e cria um estratagema mecânico para a cena onde a personagem em Psicose[8] se perde na estrada, ou quando soluciona com maquete o custoso plano da vertigem nas escadas em Um corpo que cai. Ou, ainda, quando filma, em Psicose, o gesto ralentado do torso com câmera a menos quadros por segundo, a fim de que o movimento na tela ficasse na velocidade normal, permitindo à atriz que não mostrasse os seios, o que fatalmente ocorreria em um movimento brusco do corpo na cena do chuveiro[9].
Psicose foi praticamente todo filmado com uma lente 50 mm, provavelmente para efeitos realísticos, visto que é a lente que mais se aproxima da perspectiva do olho humano. O diretor de arte do filme disse que Hitchcock desenhava em um bloquinho o que queria, e o quadro ficava muito similar ao desenho com a lente apropriada[10].
Obviamente há muitos que detratam Hitchcock, principalmente na sua relação com Tippi Hedren, explorada pelo livro The dark side of a genius: the life of Alfred Hitchcock, de Donald Spoto. Mas não é possível auferir, de nenhum relato, caso de histerias e estrelismo perpetrados por ele dentro do set, algo em geral comum entre diretores. Hitchcock, afinal, era um Sir.
[1] CHANDLER, Charlotte. Op. cit. p. 218.
[2] IMDB. Trivia for Park Row. Disponível em: . Acesso em: 10 maio 2013.
[3] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 101 e 102
[4] In The making of ‘Psycho’ (Laurent Bouzereau, 1997).
[5] CHANDLER, Charlotte. Op. cit. p. 242.
[6] SPOTO, Donald. The dark side of genius: the life of Alfred Hitchcock. Nova Iorque: Da Capo Press, 1999. p. 449.
[7] TRUFFAUt, François. Op. cit. p. 171
[8] REBELLO, Stephen. Op. cit. p 110.
[9] GOTTLIEB, Sidney (Ed.). Hitchcock por Hitchcock: coletânea de textos e entrevistas. Rio de Janeiro: Imago Ed., 1998. p. 318.
[10] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 111
Hitchcock, o diretor e produtor de Psicose – Parte 3 (o produtor e diretor)
No elenco, nenhuma grande estrela do primeiro escalão. Mesmo o preto e branco, que o próprio Hitchcock justificava como uma opção estética para evitar o impacto da cor do sangue na tela[1], foi uma saída para cortar custos, segundo Joseph Stefano, o roteirista do filme[2]. Movimentos de câmera mais sofisticados tiveram que ser descartados. Hitchcock pretendia abrir o filme com uma tomada de helicóptero, em plano único, mostrando Phoenix e o casal dentro do quarto, mas quatro dias de tentativas[3], custos e a dificuldade inerente de uma tomada deste tipo na época o fizeram abdicar dela. Hitchcock só conseguiu realizar uma tomada similar mais efetiva vários anos depois, quando em Frenesi (Frenzy, Alfred Hitchcock, 1972) ele abre o filme com um plano que percorre o Tâmisa, em Londres até um discurso, que foi feito a partir de um helicóptero, quando a tecnologia para este tipo de tomada estava mais apurada.
Abro um parêntese aqui para comentar um aspecto um pouco idealizado em Hitchcock como diretor. Apesar de ser mesmo um diretor meticuloso, que planejava e, muitas vezes, desenhava seus filmes antecipadamente, Hitchcock mudava, sim, alguns planejamentos antes ou mesmo durante as filmagens. Em geral, por razões orçamentárias. Temos este exemplo em Psicose, e também quando cancela alguns planos que seriam feitos dentro de um carro alegórico para economizar US$ 30 mil[4] durante a filmagem de Ladrão de casaca (To catch a thief, Alfred Hitchcock, 1955). É este pragmatismo, tão útil dentro do cinema, aliado a um grande rigor, que faz dele um cineasta que conseguiu manter-se proeminente durante muito tempo dentro de uma indústria que constantemente se altera.
Porém, no que era essencial, Hitchcock não fazia economia burra. Gastou quase uma semana inteira, das cinco de filmagem[5], para a cena do chuveiro, onde também construiu um cenário com quatro paredes móveis e com a parte da banheira destacável[6], de modo que pudesse filmar de qualquer ângulo as quase 80 posições de câmera a famosa cena do assassinato. Fez o maravilhoso plano onde a câmera sai do olho de Janet Leigh morta e, em um travellings e panorâmicas para trás, vai até o quarto. Este plano ainda hoje é um desafio técnico, pois sair de um close tão fechado para um plano mais aberto traz desafios de foco e de movimento extremamente complicados, tanto que Hitchcock recorreu a trucagens para poder fazê-lo a contento. Refez algumas cenas, como a Mãe sendo descoberta[7]. Hitchcock não queria desperdiçar seu dinheiro, mas não queria por conta disso deixar seu filme pior.
E as inovações não se deram apenas na filmagem. Sabendo do final surpreendente que tinha em mãos, Hitchcock fez de tudo para promovê-lo. Não permitiu que tirassem as fotos tradicionais de divulgação e, avançando ainda mais que Clouzot, que apenas gentilmente pedia ao seu público nos créditos que não revelasse a trama, Hitchcock conseguiu fazer um pacto com os exibidores para que não permitissem que ninguém entrasse após o início da sessão, algo que era corriqueiro à época.
O resultado de tudo isto foi um sucesso estrondoso. Hitchcock conseguiu ir fundo na mente dos espectadores, descortinando seus medos mais profundos. O filme ao qual ninguém acreditava foi mal de crítica (em seu início), porém virou um grande sucesso de bilheteria. Pessoas desmaiavam e entravam em frenesi em algumas sessões, havia desmaios, uivos, cartas contra o filme, condenação pela Igreja Católica. As filas eram enormes. No mercado doméstico, o filme só perdeu para Ben-Hur (William Wyler, 1959), mas este custou 16 vezes mais[8]. Rendeu US$ 15 milhões no mercado doméstico no primeiro ano de exibição. O filme sintonizava uma época, como o Laranja Mecânica (A Clockwork Orange, 1971) de Stanley Kubrick, e a similar paúra deflagrada por Tubarão (Jaws, Steven Spielberg, 1975).
Com o sucesso do filme ao passar dos anos, a crítica reconhece o valor do filme, e Psicose vira cult.
O sucesso do filme traz dois problemas para o inquieto Hitchcock. “Agora eu tenho que fazer outro correndo por causa dos impostos”[9], reclama o diretor, que dizia ser “...um democrata, mas quanto ao meu dinheiro, sou um republicano. Não sou hipócrita”[10]. O outro era fazer outro filme tão impactante, o que resultou no maior hiato de sua carreira, três anos até um novo filme ser lançado. E Os Pássaros (The birds, 1963) foi o último filme aclamado de modo unânime que fez. Curiosamente, Psicose, seu maior sucesso, foi um divisor de águas na carreira do cineasta inglês. O que é quase uma tragédia shakespeariana.
[1] TRUFFAUT, François. Hitchcock/Truffaut: entrevistas, edição definitiva. São Paulo, Companhia das Letras, 2004.
[2] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 59.
[3] Idem. Op. cit. p. 98.
[4] In Writing and casting ‘To catch a thief’ (Laurent Bouzereau, 2002).
[5] CHANDLER, Charlotte. Op. cit. p. 260 e 264.
[6] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 119.
[7] Idem. Op. cit. p. 149.
[8] Idem. Op. cit. p. 178-182.
[9] REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 190.
[10] TRUFFAUt, François. Op. cit. p. 329.
Hitchcock, o diretor e produtor de Psicose – Parte 2 (o produtor e diretor)
Psicose e a reinvenção
Psicose é um filme assustador. Quando visto da primeira vez, sua trama absolutamente inesperada, sua fotografia em preto e branco e suas personagens nos fazem sentir um medo atávico, vindo das entranhas de nossa psique. Fora o fato de ser um filme excelente, mítico, que provocou reações histéricas e apaixonadas quando de seu lançamento, o que mais nos interessa aqui não é a análise do filme em termos de conteúdo, mas sim da sua feitura.
O que o filme Hitchcock e o livro que o originou, Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose, de Stephen Rebello, demonstram é uma história fascinante por trás das telas.
Hitchcock vinha de um sucesso estrondoso, Intriga Internacional (North by Northwest, 1959). Mesmo assim, resolveu dar uma guinada na carreira. As motivações podem ser várias. O sucesso de crítica de As diabólicas (Les diaboliques, Henry-Georges Clouzot, 1955), o sucesso de filmes de terror de baixo orçamento, a própria necessidade que tem os grandes artistas de se reinventarem. Este último ponto é o que me interessa. Como disse no quinto parágrafo deste texto, Hitchcock nasceu em um país que tinha um nível de liberdade individual e econômica inimaginável aos dias de hoje. Isto provavelmente estava impregnado em sua cabeça.
Apesar de parecerem coisas distantes, negócios e arte não são estanques. Uma sempre teve relação com a outra, seja por conta de mecenatos, como por conta de pessoas e artistas que buscam lucrar com suas obras, assim como incentivos estatais e subsídios. Enquanto as duas últimas são eivadas por interesses escusos, as outras são regidas pela lei da oferta e procura, e pelo conceito de “destruição criativa”, de Schumpeter. Este diz que o empresário constantemente tem que inovar, a fim de enriquecer e permanecer. Não seria Psicose um perfeito exemplo disto?
Abstraindo um pouco o conceito, quando Hitchcock parte para novos rumos com seu filme, quando Beethoven vende e negocia a sua Missa solemnis a vários editores[1], eles não seriam como empresários (o que Hitchcock efetivamente o era) que tentam inovar num mercado em competição? Muitos críticos comparavam As Diabólicas aos filmes de Hitchcock, e Hitchcock ele mesmo se intrigava dos motivos pelos quais os filmes de terror de baixo orçamento dos anos 1950 conseguiam fazer sucesso[2]. Este conceito de disputa explica muito melhor a dinâmica das sociedades modernas de que a interpretação marxista que usualmente se aplica na análise da arte, como a Escola de Frankfurt.
Partindo destes conceitos, fica mais fácil entender a feitura de Psicose. Hitchcock quer algo novo, surpreendente. “Hitch nunca procurava casualmente ‘alguma coisa diferente’. Ele era incansável”[3]. Acha a história em um livro baseado em um caso real. Porém, a busca pela novidade traz consequências. A principal delas é que é uma história brutal, versando sobre travestismo, complexo de Édipo e tensões sexuais. Mais: Hitchcock sabe que seria um filme dos anos 60, e que isto implicaria em incorporar uma boa dose de erotismo[4]. Na Hollywood da virada dos anos 1960, era pedir muito. Os executivos argumentavam por qual motivo Hitchcock não continuava na mesma linha, com grandes filmes em Technicolor; por que trocar isto por algo tão baixo?[5] O resultado final foi que Hitchcock teve que botar dinheiro do próprio bolso no filme, apenas garantindo que a Paramount o distribuísse. A própria casa em que morava entrou como hipoteca. Era o artista/empresário arriscando alto pela reinvenção.
Fora dos esquemas tradicionais, a saída era fazer o filme por um custo muito menor. Para se ter uma ideia, Intriga Internacional custou US$ 3,3 milhões[6], e Psicose US$ 850 mil[7]. Não há milagres. Para chegar a isto, Hitchcock teve que abrir mão de muita coisa. Para um homem tímido e reservado, acostumado a trabalhar sempre com as mesmas pessoas, a solução foi trabalhar com a equipe que filmava os programas de TV que Hitchcock apresentava. O que não foi fácil, segundo Leonard South, operador de câmera do filme:
Hitchcock era um cara muito assertivo, mas não agressivo. Ele era bondoso demais para magoar os sentimentos de Jack Russell. Ligou para mim dizendo: “Lenny, eles decididamente não me entendem”. Referindo-se ao pessoal da Universal-Revue que só estava acostumado a fazer episódios para a TV. Ele descreveu um movimento de câmera bastante sofisticado que a equipe queria fazer de um jeito que ele considerava totalmente inaceitável. Nós conversamos sobre a tomada literalmente passo a passo para que ele pudesse explicar como fazê-la de forma adequada. No início, a realização de Psicose foi uma luta terrível para ele[8].
1) COOPER, Barry (org.). Beethoven: um compêndio. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1996. p. 131.
2) REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 40.
3) Apud REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 35.
4) Como bem analisou Roger Corman, o sucesso dos filmes europeus nos EUA se devia ao sexo, e que quando os filmes americanos fizessem isto os primeiros sumiriam. In BISKIND, Peter. Op. cit. p. 141.
5) REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 41.
6) Idem. Op. cit. p. 34.
7) CHANDLER, Charlotte. It’s only a movie: Alfred Hitchcock – a personal biography. Londres: Simon&Schuster, 2006 p. 264.
8) Apud REBELLO, Stephen. Op. cit. p. 101.
Hitchcock, o diretor e produtor de Psicose – Parte 1 (o diretor)
Hitchcock como o maior diretor
Alfred Hitchcock é, muito provavelmente, o maior diretor de todos os tempos. Para dirimir eventuais dúvidas, nesta avaliação entra o conceito de direção, e não de cineasta. Um diretor é aquele que organiza a mise em scène, não necessariamente aquele que faz os filmes que gostamos ou não. Estabelecendo que quem faz filmes é cineasta, e quem manipula a linguagem audiovisual é diretor, a discussão fica desanuviada para nossos propósitos.
Nem sempre Alfred Hitchcock é o escolhido em votações como melhor diretor, principalmente entre votações de críticos. Porém, em geral, quando a votação é feita entre diretores, ele reina inconteste. O que diz muito sobre nossa afirmação primeira.
O que faz de Alfred Hitchcock um cineasta ímpar? Em primeiro lugar, nenhum outro diretor consegue trabalhar a linguagem audiovisual como ele faz. Seus travellings e movimentos de câmera conseguem avançar a narrativa como nenhum outro consegue fazer. Os melhores filmes de Hitchcock, quando resumidos verbalmente, não possuem a força dramática de quando assistidos, confirmando o uso sui generis que consegue fazer da linguagem cinematográfica. Poderíamos citar uma miríade de exemplos, como a cena do tiro num concerto no Albert Hall em O homem que sabia demais (The man who knew too much, Alfred Hitchcock, 1956), a revelação da chave em Interlúdio (Notorious, Alfred Hitchcock, 1946), o assassinato no chuveiro em Psicose (Psycho, Alfred Hitchcock, 1960). Para sair um pouco do óbvio, acho brilhante a sequência onde James Stewart e Doris Day descobrem o paradeiro de seu filho sequestrado no filme de 1956. Uma parte da sequência pode ser vista aqui. Esta cena ilustra bem Hitchcock como diretor. É um trecho que só se resolve dramaticamente enquanto assistida. O diálogo não narra a cena. Quem nos conta é a câmera, em seus cortes e movimentos, o uso da música, os olhares, a manipulação do espaço diegético. Em 7 minutos, você tem constrangimento (o fato de Doris Day, em evento para a elite britânica, cantar uma música de criança), os pais resolvendo seus problemas por si próprios, uma sequestradora que, pungida pelo sentimento materno, se apieda da situação e da criança e a libera do infortúnio. Tudo isto nos é dito de maneira puramente audiovisual, emocionante, inteligente e instigante. É isto que Hitchcock realiza e que os outros raramente conseguem, e que faz com que os outros diretores o admirem. Cary Grant, ator parceiro do diretor, achava, durante a filmagem de Intriga Internacional (North by Northwest, 1959), que o filme não tinha sentido, e em Janela Indiscreta (Rear Window, 1954) um executivo da Paramount só o entendeu depois de pronto[1]. Os melhores filmes de Hitchcock parecem ser obras puramente audiovisuais. Além disso, Hitchcock foi um cineasta de sucesso nas bilheterias.
Entretanto, entre os críticos, Hitchcock não reina absoluto. Os motivos são vários, desde o fato de que críticos, em geral, privilegiam o conteúdo, passando pelo fato de que o gênero policial e de crime nunca teve muito prestígio intelectual, culminando em um preconceito ideológico pelo fato de Hitchcock fazer sucesso, ser rico, conservador e trabalhar em Hollywood. “Sr. Friedkin, o senhor não está de gravata”[2], foi o comentário que Hitch fez ao diretor William Friedkin quando este estreava na direção dos programas de TV do mestre inglês, o que demonstra bem sua formalidade.
Alfred Hitchcock nasceu em Londres, filho de um comerciante de classe média, numa Inglaterra que, até o advento da Primeira Guerra, era o país mais próspero e de maior liberdade comercial no planeta. Uma nação de lojistas (e o pai de Hitchcock era um deles), nas palavras de Napoleão. O que o francês via com desprezo, era justamente o que fazia a força de um povo, que pelo comércio conseguiu se manter independente de um poder centralizador do Rei / Estado.
Num país de maioria protestante, Hitchcock era católico. Em um tempo onde a maioria era magra, ele sempre foi rechonchudo. Interessado por engenharia e filmes, se vê compelido a trabalhar e acaba num estúdio de uma companhia subsidiária americana desenhando letreiros de filmes mudos. Sua evolução é rápida, e acaba indo para Hollywood na virada dos anos 1940. Seu percurso coincide com o percurso da livre iniciativa, que passa da Inglaterra para sua criação, os EUA.
A motivação para o presente texto
Sou um admirador de Hitchcock de longa data, e posso dizer que ele foi decisivo em minha formação. Quando tinha em torno de 14 ou 15 anos, encontrei a primeira edição brasileira de seu livro de entrevistas com Truffaut em uma livraria, durante uma viagem. A leitura deste livro, junto com o relançamento de cinco de seus filmes nos anos 80, dos quais tive a oportunidade de assistir três em um cinema comercial em São Carlos (o que demonstra a incrível pobreza intelectual pela qual passa o Brasil, onde atualmente o acesso à cultura clássica é praticamente nulo em uma cidade no interior...) fez com que eu decidisse estudar Cinema, o que não era um norte da minha vida até então.
Tendo visto 54 de seus 55 filmes, lido algumas biografias, assistido a uma série de making ofs e realmente gostar de seu trabalho posso dizer, sem falsa modéstia, que sou quase um especialista nele.
Por fim, o fato decisivo que me leva a escrever este foi a exibição do filme Hitchcock (Sacha Gervasi, 2012), filme que consegue manter o interesse entre o público mesmo falando de um assunto absolutamente sem conotação popular: uma filmagem.
[1] REBELLO, Stephen. Alfred Hitchcock e os bastidores de Psicose. Rio de Janeiro: Intrínseca, 2009. p. 43.
[2] Apud BISKIND, Peter. Como a geração sexo-drogas-e-rock’n’roll salvou Hollywood. Rio de Janeiro, Intrínseca, 2009. p.221.
O moderno Index Librorum Prohibitorum
Muitas vezes, a cultura do cancelamento foi mais explícita. Os nacionais-socialistas queimavam livros em praça pública, e o bloco soviético simplesmente não permitia que livros fossem publicados e comprados. Mas o mal é insidioso. O que era admitido, cada vez mais agora é através de subterfúgios. E modernamente o fenômeno tomou outra cara. Simplesmente a mídia ignora aquilo que não quer que os outros saibam. No Brasil o fato ainda é pior, pois a mídia tradicional é de cunho absolutamente marxista. Mas, com o avanço das redes sociais e canais de internet, muitas pessoas com articulação intelectual mais profunda conseguem descobrir o que é cancelado. Opiniões verdadeiras, entretanto politicamente incorretas, são boicotadas por uma militância estúpida e filisteia. Porém, o assunto é batido. A diferença, talvez, é que agora, com o acesso mais plural às informações faz com que o busílis fique cada vez mais explícito.
A estratégia da esquerda é de sempre vituperar aquilo que não lhe interessa. É uma questão ideológica, nunca a questão é sobre a qualidade daquilo que fazem apupos. Poderíamos citar inúmeras obras que passaram por isso, como o caso recente do filme Top Gun: Maverick que, obviamente, deu errado, pois o filme é um sucesso de bilheteria. Mas vamos nos restringir à literatura nesse texto.
Dostoiévsky foi um dos maiores escritores da literatura mundial. A sua influência, no final do século XIX, foi enorme, a ponto de até Nietzsche lhe tecer elogios. Suas obras são reeditadas constantemente e sua qualidade é inegável. Isso nem a URSS conseguiu negar, tratando com respeito os seus livros e sua figura. Entretanto, há uma grossa omissão sobre sua figura. Dostoiévsky, depois de pertencer a grupos terroristas e quase ser morto por conta disso, tendo sua pena sido comutada para uma deportação para a Sibéria, virou um conservador e religioso, que apoiava a monarquia russa, o Tsar. Uma de suas obras fundamentais é o livro Os Demônios, que ombreia com os mais conhecidos Os Irmãos Karamazóv e Crime e Castigo. Mas é um livro que tentam fazer esquecê-lo.
A começar pelo título. Em edições antigas no Brasil o título era Os Possessos. Evidentemente, não precisa ser um exorcista para perceber, há uma diferença enorme entre um demônio e alguém que é possuído por um. No segundo caso, a culpa é de um terceiro. E culpar terceiros pelas suas faltas é o mote do esquerdismo, o alicerce no qual todo o marxismo está baseado. Não acredita em mim? O próprio tradutor da edição brasileira feita pela Editora 34, Paulo Bezerra, explica que a palavra em russo para possessos não é aquela do título original do livro. Assim começa a saga não do livro, mas do seu cancelamento.
E a razão é óbvia. Os Demônios é a obra que melhor analisa a mente revolucionária. Em resumo, se trata de um grupo, numa pequena cidade da Rússia, que comete um assassinato contra um dos seus. Durante o regime militar brasileiro, a questão do justiçamento, ou seja, matar um próprio ente do grupo por algum sinal de discórdia, era uma constante. Uma parte do número de mortos pela ditadura não foi feito pelos militares, mas sim pelos próprios terroristas. Isso não é restrito aos grupos brasileiros nem russos, é um modus operandi dessas corjas. No Brasil, engravidar poderia ser um desses motivos. No livro de Dostoiévsky. Chatóv é morto por supostamente ter saído do movimento, ser um traidor com informações “valiosas”. Essa conexão com a realidade, seja brasileira, seja russa, faz da obra uma coisa viva, moderna. O escritor fez o livro como resposta a um caso real ocorrido na Rússia, onde um sujeito chamado Ivanov foi morto pelo grupo de Nechayev, um revolucionário niilista que teve ligações com Bakunin. Queria escrever um libelo contra o niilismo, o radicalismo e as ideias progressistas. Apesar desse caráter, em nenhum momento a obra resvala para a propaganda, para a mera acusação sem fundamentos.
Quando se lê uma obra do escritor russo, a profundidade psicológica é tão gigantesca que em nenhum momento sente-se uma tipificação. Piotr, o líder dos terroristas, apesar da sua maldade intrínseca, age por ego, é um jovem tentando sua autoafirmação. Em um momento do livro, confessa a Nikolai, por quem nutre uma grande e estranha admiração, que tudo o que importava para ele próprio era Nikolai. As personagens são complexas, complicadas, com gestos mesquinhos e de grandeza. Nikolai, que é uma espécie de contraponto a Piotr, não se pode dizer que é um herói. Compare Dostoiévsky a Máximo Górki. No livro A Mãe, esse último também escreve sobre um grupo de revolucionários. Mas Górki é um militante (que inclusive participou do regime soviético e foi homenageado dando seu nome a um belo parque em Moscou). O livro de Górki transpira isso o tempo inteiro. As personagens são rasas, uns são bons, pobres e sofredores, outros ricos e maus. Tudo é plano, sem ambiguidades. Em nenhum momento você encontra isso em Os Demônios. E é por isso que ele é uma obra-prima enquanto o outro é uma propaganda com talento.
Investigando a mente das pessoas, Dostoiévsky traça um retrato ímpar. Não é só a política, são as pessoas. Há inúmeros detalhes. Nunca um movimento revolucionário obtém êxito se a sociedade o rejeita por completo. No livro, a esposa do governador, Yúlia Mikháilovna, trata Piotr e seu movimento como ideias novas, como algo curioso, inocente. Além da leniência com o movimento, ela também faz uma festa beneficente. Qualquer semelhança com os ricos e as grandes empresas com as “causas” nos dias de hoje, obviamente, não é mera coincidência. O politicamente correto ganhou muita força na nossa época, mas as atitudes que o subsidiam já está há muito tempo entre nós. E boa parte desse pensamento existe na própria elite. Basta lembrar de Philippe Égalité, um nobre francês que se converte ao jacobinismo e, em uma atitude vil, acaba por votar pela morte do próprio primo, o Rei Luís XVI. Como revolucionário está interessado em ideologia, não em seres humanos, Égalité também é guilhotinado pelos próprios companheiros de partido. E a grande lição de Os Demônios é desmascarar essa mentalidade, cujo seio provém da Revolução Francesa.
Por falar nessa, o segundo livro que tentaram sumir é O Conde de Chanteleine, de Júlio Verne. Esse é um caso ainda mais escandaloso de cancelamento. Conhecidíssimo por seus livros de ficção científica, Verne escreveu esse livro antes do sucesso. Com este, seria muito fácil publicar quaisquer livros. Mas seu editor, que era protestante e republicano fanático, achou o livro muito pró-clero e pró-monarquia, e o cancelou. A história é tão assustadora que o livro só veio a ser publicado em 1994.
Ficar esquecido por tanto tempo foi uma pena, pois o livro tem qualidades notáveis. É curto, com boa escrita e trama bem urdida. E, principalmente, desmonta o mito da Revolução Francesa como algo construtivo e justo, além de relembrar a Guerra da Vendéia, que é algo realmente heroico e vítima de abusos colossais, tal como o Holodomor na Revolução Russa.
Embora se omita por conveniência, a Revolução Francesa foi de uma violência inaudita. E foi um movimento da capital, Paris, muito mais que do interior, que era mais conservador. Tanto que Charlotte Corday, a girondina que assassinou Marat, no auge do período do Terror, vem da província para fazê-lo. Além de Charlotte, outros focos de resistência aos desmandos de Paris foram vistos em Lyon e na região da Vendéia, que foi a maior força em guerra civil na França revolucionária. Os combatentes dessa região não eram, como fazem querer crer, nobres inconformados, mas clero, nobreza, camponeses e povo unidos contra a arbitrariedade parisiense. E esse é o pano de fundo onde se desenvolve a trama.
Lendo o livro, não é difícil de perceber os motivos de seu cancelamento. Mostra os revolucionários como são, seres desprovidos de qualquer piedade e bom senso. Mostra relações de um nobre, o Conde, com um servo, Kernan, que lhe é fiel, assim como seus outros servos. As pessoas, intumescidas pela visão marxista de mundo, muitas vezes esquecem que relações entre servos e nobres, patrões e empregados, podem ser muito mais complexas que apenas uma relação de poder e entre quem paga e quem recebe. No mundo real, as coisas são mais complexas, e a fidelidade de Kernan sobrepassa quaisquer ligações materiais. O único servo pelo qual o livro dedica uma visão negativa é Kerval, um antigo servo que virou revolucionário e que, como todo frustrado insuflado de poder, deseja a vingança mais mesquinha contra seu antigo patrão.
Desse modo, o livro exalta as pessoas simples contra a opressão dos jacobinos. Para se ter uma ideia, estes (que, como todo revolucionário, tem absoluto desprezo pela Igreja) resolve que novos padres devam ser nomeados pela Revolução. A Igreja, na Vendéia, tinha uma importância muito grande, seja pela fé das pessoas, seja pelo seu papel na caridade. Então, obviamente, impor padres mais afeitos às causas que ao papel doutrinador gerava tensão.
Verne, durante a narrativa, faz uma oposição entre o povo da Vendéia, leais, companheiros, unidos, contra os jacobinos, desleais, mesquinhos e vingativos. Alguém poderia falar que isto é um tanto quanto idealizado, mas perto do A Mãe, parece a conversa de um adulto contra uma criança. Boa parte da obra dos autores de esquerda cai em falsa inocência, em um didatismo pretensamente pueril. Basta ver A Vida de Galileu, do Bertold Brecht, que é didático como um livro de primário, ou ainda a descrição do acampamento coletivo Weedpatch Camp, criado por Roosevelt, no livro As Vinhas da Ira, de John Steinbeck, que mais parece uma descrição do Paraíso. Seguramente Verne é muito mais esperto que isso e sua militância pela Vendéia, se que é existe, é infinitamente mais discreta que a dos outros livros citados neste parágrafo.
Por fim, o último livro que tentam fazer desaparecer é Um Conto de Duas Cidades, uma obra-prima de Charles Dickens. O curioso aqui é que Dickens, na visão mais simplista, é visto como um “crítico da Revolução Industrial”. Esta é a visão do escritor inglês que recebemos. Mas a verdade é que Dickens é um verdadeiro artista, não um ideólogo de quinta categoria. E Um Conto de Duas Cidades mostra isso. O livro é uma narrativa que mostra Londres e Paris na época da Revolução Francesa. E a visão da revolução não é nada positiva nele. Baseado no livro de Thomas Carlyle sobre o período, percebe-se que a Londres da monarquia é um lugar muito mais hospitaleiro que a França da República. Não estou afirmando que Dickens defende a monarquia, longe disso. Só estou fazendo um contraponto. O livro é sobre a história das pessoas, não da ideologia. Mas, ao ter como pano de fundo este período turbulento da história, as conclusões são inevitáveis.
Apesar de parecer uma visão diferente, muitas vozes, na época, se levantaram contra os desmandos da revolução francesa. O filósofo Edmund Burke, por exemplo. Mas isso raramente é mencionado, e o retrato dela é como se fosse um livro do Górki, pueril, como se os revolucionários fossem anjos a salvar as pessoas dos maléficos reis tiranos. A realidade, que pode ser apreendida pelo livro, foi muito diferente disso.
No maio de 1968 também há algo parecido. Assim como Burke, Roger Scrouton, filósofo contemporâneo, depois de um encantamento pelo movimento, percebeu que era uma falácia. Mesmo Pier Paolo Pasolini, que era comunista, divisou que o maio de 68 era uma brincadeira de estudantes, e criticou o movimento. A história de repete.
Isto posto, percebe-se que a Revolução Francesa é um assunto por demais controverso. O historiador Simon Schama pontua, em seu livro Cidadãos que, para a população em geral, o que tiveram com o movimento foi uma situação pior do que a de antes. Também frisa que o movimento atrasou o início da Revolução Industrial na França. Ou seja, perpetuou a pobreza. E a coisa só não foi ainda pior pois Napoleão, mal ou bem, deu um basta no descalabro e deu uma reorganizada no país. Tivesse isso não ocorrido, a França provavelmente teria o destino da Rússia, que de um país dos que mais prosperava no período anterior à Primeira Guerra Mundial virou um feudo de mafiosos na atualidade. Mais ainda, para sanar as finanças públicas que se aceleraram absurdamente no período revolucionário, Napoleão teve que fazer da guerra e do saque a sua política econômica.
No exterior, Um conto de duas cidades é um livro bem conhecido. No Brasil, pouco se fala dele, o que é uma pena, pois se perde a oportunidade de ler um livro com uma estrutura absolutamente bem montada, narrativa ágil e cativante. Mas, ainda que lá fora seja mais divulgado, é impressionante a diferença de vezes em que Oliver Twist, por exemplo, foi mais adaptado ao cinema que a livro por aqui referido. Mas é fácil de entender: enquanto o Oliver Twist preenche a sanha esquerdista de destruir os imensos legados da Revolução Industrial (embora Dickens seja muito mais complexo que isso), o outro joga lama na reputação da Revolução Francesa.
E, para qualquer um que já estudou as sociedades e a economia, é inegável que a Revolução Industrial foi muito mais importante para a erradicação da pobreza e uma melhora nas condições de vida da humanidade do que a Revolução Francesa.
Escritores do século XIX, que vivenciaram o desenvolvimento da indústria, nem sempre tinham uma visão negativa sobre ela e os capitalistas. Victor Hugo, que era um socialista, faz de Jean Valjean, em Os Miseráveis, o perfil, tão comum na era do liberalismo clássico, do menino pobre que se enriqueceu virando um industrial. Em Tempos Difíceis, Dickens faz da personagem de Stephen Blackpool, que é a mais digna do livro, ser um operário que é contra a greve. Bounderby, o industrial, rival de Blackpool também fora um menino pobre que enriquecera através da indústria. Ainda que Bounderby seja retratado como mesquinho e iníquo, o seu rival, o líder sindical Slackbridge, não tem um retrato muito mais favorável.
Assim, grandes escritores são muito mais sutis e observadores do que os patrulheiros ideológicos nos querem fazer crer.
Esses são pequenos exemplos de como a rede de cancelamento atua. Estamos citando aqui casos específicos na Literatura, mas o ato grassa por todas as manifestações culturais. Veja o caso de Samantha Monteiro, que por participar da campanha de Paulo Maluf (provavelmente mais como um trabalho do que por afinidade ideológica) teve sua carreira praticamente interrompida. Sua carreira até então meteórica, com a atuação como Lady Macbeth numa das melhores peças dos últimos 30 anos no Brasil, o Trono de Sangue, de Antunes Filho, não foi o suficiente para evitar o dano. Só reapareceu agora, com outro nome. Outras atrizes que passaram pelo mesmo ostracismo foram Tereza Rachel e mesmo Cláudia Raia, ambas pelo apoio a Fernando Collor de Mello na eleição de 1989. Enquanto a primeira, infinitamente mais talentosa, nunca foi reabilitada, a segunda recuperou seu destaque ao apoiar o candidato que o cancelamento permite, e que curiosamente era o rival de Collor em 89.
Mamonas Assassinas e a força do "impresario"
O atualmente em cartaz Mamonas Assassinas – O Filme não é uma grande obra do ponto de vista cinematográfico. Entretanto, é uma bela lição sobre o papel do mercado na chamada cultura.
Antes, uma pequena explanação. Assistir a um filme, melhor ainda, a qualquer apresentação cultural, é algo muito pessoal. Depende do nosso humor em determinado dia, dos nossos interesses e da qualidade da obra em si. Isto posto, embora o filme apresente uma série de problemas, mesmo assim ele se torna uma das coisas mais interessantes dentre os filmes nacionais recentes. Principalmente porque a história do grupo em questão é deveras interessante.
Para quem é nascido nesse milênio talvez não fique claro o quão meteórico foi o sucesso desses garotos. Suas músicas tocavam em todos os cantos, eles apareciam em todos os canais de TV; qualquer pessoa, gostasse ou não, conhecia suas músicas. Eu nunca me esqueço de um dia estar em um bar, no banheiro, e quando a banda local tocou Robocop Gay os homossexuais do recinto entraram em polvorosa, dançando loucamente. Foi realmente um fenômeno midiático. Este fato por mim presenciado ainda diz muito sobre uma característica que a geração Z desconhece – o humor em retratar tipos, como os gays, como nessa música. Na época do politicamente correto como a atual, soa quase subversivo. Assim como Os Trapalhões, que tiravam sarro de tudo e de todos, cuja história é parcialmente retratada no filme Mussum, o Filmis (Sílvio Guindane, 2023). Humor politicamente correto não existe.
Como o texto está abrindo muitas pontas, é melhor parti-lo para melhor compreensão.
O rock dos anos 80
Os anos 80 foram de profunda crise econômica, e consequentemente perda do poder de compra. No entanto, um certo ar de liberdade pairava com a redemocratização. Nesse contexto surge o chamado rock dos anos 80. Em oposição a uma MPB saturada e envelhecida, incapaz de se renovar, essas bandas tinham um caráter juvenil e mais ingênuo, resvalando em um humor leve do qual a MPB sempre foi incapaz, pois sempre se viu como pretensamente séria. O rock, ao contrário, era leve, e fez um sucesso danado. Os Paralamas do Sucesso, Titãs, Kid Abelha, Blitz faziam músicas com letras bobas, absolutamente despretensiosas, que satisfaziam as necessidades de um mundo adolescente em expansão. Tão ingênuas que costumava se brincar que o Kid Abelha era o QI de Abelha, num belíssimo trocadilho.
Uma banda que se destacou, por seu humor mais ácido e politicamente incorreto, foi o Ultraje a Rigor. Críticas ao próprio universo pop e a geração dos millennials (música Rebelde Sem Causa e Eu me amo), ao comportamento masculino e feminino adolescente (Ciúme), à geração economicamente perdida dos anos 80 (Inútil), chamar veladamente uma mulher de galinha (Marylou), aos farofeiros (Nós Vamos Invadir tua Praia), o Ultraje soltava tapas e humor sem filtros para todos os lados.
Mas ao entrar nos anos 80 o mundo mudou, e as bandas idem.
Conforme algumas bandas começam a entrar nos anos 90, a inocência se esvai. Como em qualquer fenômeno cultural de mercado, seus integrantes passam a achar que o sucesso é fruto de sua genialidade. Como exemplo, podemos citar os Titãs. Em uma de suas primeiras músicas, havia versos como “Não posso mais viver assim ao seu ladinho/ por isso colo o meu ouvido no radinho /... de pilha / pra te sintonizar sozinha, numa ilha”. Rimas pobres, mas de uma ingenuidade cativante. Mas nos anos 80 começam a se considerar intelectuais, e passam a querer fazer versos concretistas. Assim, deixam a inocência dos anos 80 para entrar na verborragia inócua da MPB.
A menção aos anos 80 não é gratuita. De certa forma, os Mamonas recuperam a inocência e o humor do rock dos anos 80, e o público reage a isso. O humor politicamente incorreto remete ao Ultraje, mas com um acréscimo cênico maior, vide no filme a decisão de usar roupas diferentes a cada música.
O papel do impresario
Os mais incautos vão achar que a grafia está errada, mas não. Impresario eram os produtores italianos de óperas, que fez da ópera italiana a mais relevante no mundo nos séculos XVIII e XIX. Basta lembrar no filme Amadeus (Milos Forman, 1984) quando um membro da corte austríaca se espanta com o fato de Mozart querer fazer uma ópera em alemão, e não em italiano, que era o tradicional. Ao contrário de outros países, a ópera na Itália era predominantemente popular. Assim, sua resiliência era atrelada aos gostos populares e às apresentações. Desse modo, se forma uma rede de produtores que contratavam músicos e cantores e produziam os espetáculos. A concorrência era brutal, os cantores viviam uma espécie de star system, com altos salários, os compositores disputavam com suas obras as preferências dos produtores. No filme Il Boemo (Petr Václav, 2022) se percebe bem esta dinâmica entre o compositor em busca dos produtores das óperas, e também sua relação com as divas e todo o universo musical da época. Não sem razão, isso produziu uma forma de arte popular de primeiro nível, com admiradores como Stendhal, que chegou a escrever uma biografia sobre Rossini tal seu afã pelo compositor (nos livros Cartuxa de Parma e O Vermelho e o Negro há referências sobre o espetáculo operístico).
Stendhal não escolheu Rossini ao acaso. Ele era um paradigma. Garoto pobre, músico talentoso, assim como Mozart uma pessoa com altíssimo talento cênico, compôs uma infinidade de óperas, chegando a compor mais de uma por ano. Se você pegar uma partitura de ópera, vai ficar assustado com o trabalho envolvido. Assim, Rossini trabalhava como um louco. Dizem que tinha uma linha de produção, onde compunha a parte principal e as partes menos significativas, como os recitativos, eram feitas por seus ajudantes. O mesmo que faziam os grandes pintores (é daí que vem a expressão, que se vê nos museus em relação à autoria, “do ateliê do pintor X”) e o mesmo que fazem os músicos de cinema que trabalham muito, como Hans Zimmer. Enfim, muito antes da preconceituosa Escola de Frankfurt tascar a existência de uma indústria cultural, essa prática existia há muito. Muitos trabalham, um assina. E foi esse mercado que permitiu a Rossini se aposentar aos trinta e poucos anos de idade, apenas se dedicando aos prazeres da vida. Virou um bon vivant, a ponto de um filé receber o seu nome em homenagem.
Um dos aspectos interessantes e instrutivos do filme sobre os Mamonas é que fica claro que boa parte do sucesso do grupo foi devido ao Enrico, o impresario do filme, que no mundo real foi Rick Bonadia. É esta personagem que percebe o verdadeiro talento da banda e do seu vocalista - o humor. Originalmente, de acordo com o filme, os membros do Mamonas tinham uma banda chamada Utopia, e seu objetivo era fazer o “verdadeiro” rock, ser uma banda de rock progressivo. É Enrico que percebe que, continuassem nesse caminho, seriam apenas mais uma banda, e se explorassem a irreverência, se fossem mais autênticos, poderiam explodir.
Fica claro assim que a sacada, o golpe de gênio, foi dessa figura. Nisso o filme, que em muitos momentos é ingênuo, acaba por ser justo. Boa parte do sucesso das coisas que conhecemos são realizados por pessoas de fora do palco, por mentes que conseguem perceber o gosto do mercado, que investem e buscam retorno financeiro e satisfação própria. Sem os impresari, não existiriam os Rossinis, Verdi, os Mamonas, boa parte dos filmes clássicos, etc. Muitas vezes, o impresario participa inclusive da formação do conjunto, como o Led Zeppelin (que foi formado pelo músico e empreendedor Jimmy Page) e Os Trapalhões (Dedé agrega Mussum e Zacarias ao grupo), como se nota no filme Mussum – o Filmis.
De forma nenhuma isso desmerece a figura que está no palco. O que queremos dizer é que a equação sucesso só é possível se o talento encontra alguém capaz de ganhar dinheiro com tal, de viabilizar o empreendimento.
Assim ocorre na música, assim ocorre no cinema. Sem a intermediação do fator mercado, que geralmente é representado pelo produtor, os realizadores acabam por perder o centro racional. Os filmes acabam por ficar por demais erráticos, e os diretores livres demais, sem freios. Alguns fazem disso um trunfo, mas a verdade é que, em geral, as pessoas se perdem dentro das próprias liberdades criativas, cegadas pelo próprio ego exacerbado.
Conclusão
Desse modo, assistir ao filme dos Mamonas se revela quiçá interessante. Há nele uma visão positiva sobre as forças do mercado e do empresariado. Ademais, as músicas do grupo, que obviamente perpassam o filme inteiro, são deliciosas.
Ao contrário da onda recente de filme sobre a MPB, onde se sente o cheiro de mofo, neste percebe-se a irreverência, o lado anárquico e engraçado da banda. E se reavalia o fenômeno que foi a sua curta carreira.
Como sempre ocorre no país, onde se há um desprezo pelos fenômenos de mercado, havia entre a elite intelectual um desprezo pelos Mamonas. E isso é fácil de entender. A intelligentsia brasileira, ladeada pela mídia tradicional, é absolutamente esnobe, e tem uma postura de desprezo pelo lado mais pop. O mais curioso é que o contraponto que oferecem não é a música erudita, que seria o mais racional em termos de qualidade. Não!- é a MPB. O que obviamente é uma coisa absolutamente de filisteu.
Essa elite intelectual, que tem formação e referências falhas, tira da postura apenas o esnobismo, não o conhecimento. A história é longa. Reclamaram quando da introdução da guitarra na música popular; quando Caetano Veloso gravou a música Sonhos, do Peninha, que era considerado por essas pessoas como um cantor brega, houve falsa indignação e por aí vai. Mas essas pessoas são tão pobres culturalmente que, uma vez que o mestre intelectual aceita, elas também o fazem, agindo como cordeiros intelectuais. E aí Peninha virou cult.
E isso parte de uma premissa completamente errônea: a de que existe MPB e pop. Oras, toda música brasileira de consumo é popular. A diferenciação entre MPB e pop é ridícula, esnobe, filisteia. Mas é o jeito do pessoal da universidade ficar achando que tem um gosto mais depurado que a maioria das pessoas. No Twitter, é fácil ver ministro do STF, achando que está fazendo referência intelectual, citar músicas da MPB como se tivessem um grande valor. E o mais curioso é que a chamada MPB, ao menos os que se chamam por isso, é letra morta desde os anos 80. A inovação, o sangue novo, era o rock, os Mamonas, o sertanejo.
Não sou apenas eu quem conclui isso. José Paulo Paes, que era um poeta, crítico, ensaísta e tradutor (porém independente, não ligado ao meio acadêmico) fez o mesmo, escandalizando o repórter. Ele colocou o Mamonas, ao qual admirava, em pé de igualdade a Chico Buarque em uma entrevista. O óbvio ululante.
Portanto, assistir ao filme é uma experiência no mínimo instrutiva.
Artigo | Berlim: Muro, túneis e filmes
Ao viajante que conhece outras capitais da Europa, como Paris e Roma, travar conhecimento com Berlim é pouco impactante, até mesmo decepcionante, no início. Em alguns lugares, como na Potsdamer Platz, a sensação é que você está em uma cidade de um tigre asiático ou China. Não há prédios antigos, o que se vê é uma profusão de prédios envidraçados e espaços abertos. A arquitetura moderna, sem estilo, sem alma.
Conhecendo-se mais a fundo a cidade é possível encontrar bairros charmosos. Mas não há comparação com as outras capitais mencionadas e, mesmo na Alemanha, Leipzig, por exemplo, é uma cidade que te faz voltar mais no tempo que Berlim. Seria então a capital alemã uma cidade sem atrativos para um viajante?
Definitivamente não. A cidade tem vida, uma animação maior que na maior parte das cidades europeias, um pouco como Londres. Mas o mais interessante é que, ao se caminhar pelas ruas, a todo instante você é surpreendido por restos, painéis e textos sobre seu famoso muro, talvez tua triste e mais destacada característica.
Muro: contextualização
Para entender o Muro, é necessário recuar até a Segunda Guerra Mundial. Depois de um início fulminante, em que boa parte do mundo começou a perder a esperança de triunfo dos países livres (com a exceção sempre honrosa de Churchill), a Alemanha começa a ceder no front oriental e ocidental. Nessas operações, a Alemanha é bombardeada pesada e severamente. É isso que explica o fato que Berlim e muitas outras cidades da Alemanha parecerem tão modernas. Elas foram praticamente reconstruídas. Há fotos por cidade a cidade de Berlim que demonstram a situação no pós-guerra. A mais impressionante de todas é ver o Tiergarten, aquele imenso parque urbano cravado no meio da cidade, como um imenso campo não de árvores, mas de escombros. Uma pálida ideia do que foi o bombardeio pode ser vista na Igreja Memorial Kaiser Guilherme, uma igreja preservada no modo como ficou após os ataques. No cinema, há bons registros da cidade no filme Alemanha Ano Zero (Roberto Rosselini, 1948).
Uma vez derrotada, e com o avanço dos exércitos aliados, pelo Oeste, e pelo soviético, a Leste, dentro do território alemão, o país se viu dominado agora por interesses diversos. Ex-aliados estratégicos, EUA, Inglaterra, França e URSS agora se veem com interesses diversos. Os três primeiros querendo restaurar, via democracia, uma Europa destruída; a URSS querendo ampliar seu domínio político e econômico. O general Patton e Churchill, percebendo os perigos que a URSS representavam, pensaram em defenestrá-la da Europa. Não foi o que ocorreu. Interesses acomodados, os países do Leste Europeu ficaram sob o jugo de Stálin e a Alemanha dividida entre os dois blocos. Berlim, que é uma cidade mais a Leste, estaria em território soviético, mas também acabou ficando dividida. O filme Test for the West: Berlin (Franz Baake,1962), que ganhou um Urso de Prata em 1962 no Festival de Berlim, dá uma ideia das complicações políticas que os russos impuseram no pós-guerra e a situação da cidade. Pode ser visto aqui:
https://www.youtube.com/watch?v=B2aD29JdXzA
Desse modo, Berlim virou uma cidade absolutamente atípica. Sistemas monetários diferentes, polícias diferentes, administrações diferentes e um só povo. Como era de se esperar, a parte ocidental, com o passar dos anos, começa a destacar-se por sua pujança econômica, principalmente depois de Ludwig Erhard, um político e economista liberal, começar a desamarrar a economia alemã. Nos anos 50 a economia alemã ocidental engrena. Como o povo se interessa muito mais por dinheiro que por ideologia, os cidadãos começam a afluir para a Berlim Ocidental. Aquele pedaço de terra vira uma ilha de prosperidade volteada pelo atraso oceânico ao seu entorno.
Como um burocrata comunista nunca fica confortável ao ver a felicidade alheia, a RDA (República Democrática Alemã, socialista) tem uma ideia inimaginável: construir um muro em torno da Berlim Ocidental. Sim, é isso mesmo. Os muros e muralhas, que defendiam as cidades na Antiguidade e na Idade Média, são novamente utilizados. De uma forma original, agora: o Muro não serviria para o inimigo não entrar, mas sim para o “amigo” não sair. Em resumo: um cidadão da Berlim Oriental que quisesse ir à Ocidental não poderia mais fazê-lo como normalmente se usava. Agora tinha o Muro, e ele teria que passar por postos de controle. Marx, que sempre teve certa fascinação pela Idade Média, foi de certa forma homenageado pelos discípulos alemães, com uma solução medieval às avessas em pleno século XX.
Como sempre, a canetada de um burocrata causa situações bizarras. Havia pessoas que moravam na Berlim socialista, mas que eram empregadas na capitalista. Casais que moravam em cada um dos lados, assim como famílias. Do dia pra noite, um Muro foi colocado entre eles. A divisão começou tímida, apenas fechando a ruas com arames farpados e barreiras.
O povo, entretanto, sempre dá um jeito em proibições arbitrárias. Se não pode pela rua, as janelas das casas que davam para o lado ocidental viraram palco de fuga. Bombeiros esticavam redes para que as pessoas pulassem das janelas mais altas (o bairro Mitte é pleno de prédios de altura média, 4 ou 5 andares, e era dividido pelo Muro) e caíssem em segurança do lado ocidental; alguns abnegados achavam pontos de fragilidade nos arames farpados e varavam-no. Quê? Isto está soando feliz demais, vamos cimentar as janelas e melhorar as barreiras, ataca o burocrata. Mas as barreiras ainda são transpostas.
Então vamos realmente fazer um Muro de verdade, de alvenaria. Mas não é que tem uns traidores que jogam seus carros contra os muros, quebrando-o e abrindo espaço para a fuga? Façamos outro tipo de muro (se você der um passeio pela East Side Gallery, um muro ainda preservado em Berlim onde há pinturas da época, você pode checar o último tipo de muro que foi construído, e que era imune à batida de um automóvel) e criemos um nowhere land à sua volta. Passou por ali, fogo nele! Na Bernauer Strasse há um interessante museu a céu aberto, que preserva a área onde ninguém poderia pisar. Esta chegou até a ser preenchida com areia, de modo que ficassem registradas quaisquer pegadas de alguém que ousasse chegar perto do Muro. Além dos cães que ajudavam na fiscalização.
Uns reagiam a essa situação com humor, talvez a válvula de escape mais comum nas situações desastrosas. Os alemães da RDA diziam que Adão e Eva eram de Berlim Oriental: tinham que dividir uma única maçã, não tinham roupas e faziam com que acreditassem que viviam em um Paraíso. Reagan, que colecionava piadas sobre a URSS, conta sobre três cachorros conversando. O cão americano dizia que latia e conseguia um pedaço de carne. Ao que o cachorro polonês responde: - O que é carne? Indignado, o terceiro cachorro, russo, dispara: - O que é latir?
Mas, além do humor, outros pensamentos corriam. O povo senta, cogita e conclui que fugir pelo Muro realmente virou uma tarefa quase impossível. Mas privar a liberdade leva a soluções drásticas, criativas. Impossível por cima? Possível por debaixo. E aqui na verdade começa o cerne do nosso texto. Por cima do papel. E pelos túneis de Berlim.
Túneis
Então as pessoas começam a cavar túneis que atravessassem o muro por baixo, saindo de alguma casa da Berlim Ocidental, passando pelo terreno vazio e indo terminar em alguma outra casa na Berlim Oriental. Em geral, a escavação começava pelo lado ocidental, pois era mais seguro para quem o intentasse.
É importante frisar que o Muro não foi algo digerido facilmente pelos berlinenses. Para quem é de fora, as imagens das pessoas, em 1989, subindo, quebrando e comemorando no Muro podem soar normais, algo festivo, com a Nona Sinfonia de Beethoven tocando, mas para eles o significado era mais oculto e vingativo.
As manifestações contra o Muro eram comuns e, em boa parte das vezes, opunha o povo contra os burocratas, não só russo-alemães orientais como aos aliados. É difícil julgar política externa, pois ela é provavelmente a maior arte do possível que há. Isto posto e entendido, nem sempre somos obrigados a concordar ou seguir. E foi mais ou menos esta a reação do povo alemão. Muitas vezes, o governo aliado não via com bons olhos as tentativas de fugas e construção de túneis por parte da população. Havia dois temores. Primeiro, de que Berlim fosse invadida pelos comunistas. Se você olhar em um mapa (esse mostra todo o muro que rodeava a Berlim Ocidental dentro da RDA : https://www.google.com/maps/d/viewer?hl=de&mid=19OMZvuXI0bNyCy-tEzsEglB7UmY&ll=52.51619108416378%2C13.302673689229936&z=10), é possível entender que realmente Berlim Ocidental era um enclave de capitalismo inteiramente rodeado por socialismo. Era uma situação geográfica extremamente frágil.
Não podemos desmerecer essa preocupação, que fazia muito sentido. O segundo, mais polêmico, era que os aliados não queriam provocar nenhum incidente que atrapalhasse o status das relações entre os dois blocos. Majoritariamente, essa era a posição americana da administração Kennedy.
Na verdade, era uma decisão muito similar à de Chamberlain no período que antecedeu à Segunda Guerra Mundial, tão criticado por Churchill, no famoso “entre a desonra e a guerra, escolheste a desonra, e terá a guerra!”. Mais ainda: a História acabou por provar que toda a vez que o Ocidente não cedeu à URSS, ele se saiu bem. O próprio Kennedy, quando da instalação dos mísseis em Cuba, ameaçou e levou; assim como Reagan, em uma estratégia genial, investiu na competição militar, ignorando a Détente de Nixon e tendo, como resultado, a erosão do sistema soviético.
Mas não importa se os burocratas estivessem errados ou certos. O que importa é que o povo sentia a questão de outra maneira. Os alemães iam da euforia quando achavam que o Ocidente ia fazer algo por eles, como quando JFK diz o famoso “Ich bin ein Berliner” (“Eu sou um berlinense”) em um palanque e é ovacionado, até a decepção com a resposta de um soldado no Checkpoint Charlie (uma passagem entre as duas Berlim controlada pelos EUA, que é um ponto turístico muito famoso na atual), que decepcionou dizendo “Nicht unser bier” (“Não é problema nosso”) quando os ocidentais viram um oriental ser alvejado no Muro e correram para pedir ajuda. Esta história é tão comovente que gerou vários protestos.
Peter Fechter, um pedreiro, tentara pular o muro junto a um amigo. Esse conseguiu, mas Fechter (https://en.wikipedia.org/wiki/Killing_of_Peter_Fechter ) foi alvejado, por trás, pelos soldados comunistas, que sequer prestaram socorro imediato, deixando-o ficar gritando por ajuda e sangrar praticamente até a morte, por longo tempo. Perto do ocorrido foi se juntando uma multidão revoltada, primeiro arremessando itens contra os policiais da RDA, depois contra sua própria polícia enviada para dispersá-los e, por fim, contra as forças aliadas americanas, chamadas pelos protestantes de covardes.
Há, até hoje, um memorial em Berlim em honra ao jovem Fechter. “Estava com as mãos protegendo seus olhos e olhou para baixo, para o pé do Muro. E viu, caída, morta.... o rosto virado para o lado e com os cabelos sobre o rosto”. O trecho não se refere a Fechter, mas é o final do livro O Espião que saiu do Frio, de John Le Carré, que passa sua trama na cidade dividida, envolta a espiões e Guerra Fria, com a tensão entre os dois lados do Muro. A Arte imita a vida. E mostra que o que ocorreu ao pedreiro era algo relativamente corriqueiro.
Assim o Muro, malquisto e indigesto, teria que ser atravessado. Se por cima era mais e mais difícil, a solução passou a ser pelo solo. Houve várias tentativas, algumas de sucesso, outras com resultados ruins. A que nos interessa em questão foi muito bem-sucedida. Ela foi fruto da indignação das pessoas comuns contra arbitrariedade. Como disse, as pessoas simplesmente não se conformavam com o estado das coisas. A tentativa de fuga frustrada de Fechter e sua comoção geral não seriam em vão. Três estudantes, dois italianos (Domenico Sesta e Luigi Spina) e um alemão (Wolfhardt Schtrodter), indignados pela interrupção de estudo que um amigo comum aos italianos, Peter Schmidt, sofreu com a construção do Muro, resolveram colocar mãos à obra.
Num mundo hoje absolutamente dominado por estudantes de esquerda, é um pouco reconfortante ver que isso nem sempre foi verdade. Em Berlim, os estudantes se indignavam com aquela situação anacrônica e, desse modo, achar participantes para a empreitada não era difícil. O mais desafiador era evitar, dentre estes, informantes e mesmo espiões, ou ainda que a informação vazasse, visto que a Alemanha Oriental era o país que tinha, proporcionalmente, o maior número per capita de espiões e informantes. O filme A Vida dos Outros (Florian Henckel von Donnersmarck, 2006) dá uma ideia de como era a espionagem da Stasi, a polícia secreta da RDA. Entretanto, os estudantes eram criteriosos, e a informação nunca vazou.
Os filmes
Por outro lado a mídia, hoje majoritariamente progressista, era muito mais conservadora naqueles anos. A CBS e a NBC, que ouviam os relatos das várias tentativas de cruzar a fronteira e também sobre os túneis que eram ou poderiam se cavados, queriam e disputavam por dar o furo. É neste momento que entra em cena Piers Anderton, jornalista da NBC em Berlim. Ele consegue estabelecer contato com os estudantes e passa a gravá-los, na esperança de lançar um documentário sobre a construção do túnel. O que seria o relato de uma busca pela liberdade acaba por tornar-se um pesadelo burocrático. Mas não nos adiantemos.
Os estudantes, a partir de uma fábrica na Bernauer Strasse (uma das ruas que delimitava o Leste do Oeste), fazem contato para estabelecer uma passagem no Leste, uma casa que ficava do outro lado do Muro. Para tal, seria necessário um muro da ordem de uma centena de metros. Não seria muito para um tatuzão, mas a escavação era majoritariamente feita à mão. Furadeiras foram utilizadas no começo, mas quando entram em solo da RDA os guardas poderiam ouvi-los. Era um trabalho abissal, escavar, retirar a terra e guardá-la. Para escorar o túnel, 20 toneladas de madeira foram utilizadas e o fornecedor nada cobrou, pois era um ferrenho anticomunista.
Depois de muito trabalho, o túnel foi finalmente concluído, e a fuga foi um sucesso. No dia 14/09/1962 vinte e seis pessoas escaparam pelo túnel dos amigos. A família de Peter Schmidt, que desacreditava ter um futuro na Berlim Oriental, agora tinha a possibilidade de um futuro do outro lado.
O trabalho insano de cavar um túnel à mão não se compara ao de se fazer um filme. Mas, muitas vezes, distribuir um filme envolve questões complexas. E o documentário de Piers Anderton e NBC começou a trilhar suas próprias dificuldades. Enquanto o túnel enfrentou inundações, o filme baseado nele se defrontou com os burocratas. A verdade era uma só: eles tinham medo de “provocar” os russos. Principalmente a administração Kennedy, que não tinha uma relação muito boa com a imprensa, diga-se de passagem. Embora não pudesse admitir, o Departamento de Estado, através do seu secretário Dean Rusk, tentou de todas as maneiras boicotar o lançamento do filme. Mas a NBC, ao contrário da CBS, que capitulou frente às pressões (em outro projeto de documentário sobre outro túnel), estava se mantendo firme, tanto do ponto de vista dos seus jornalistas como dos seus executivos.
O governo americano jogava pesado, falando que o filme era contra os interesses nacionais, que era irresponsável e indesejável. Este tipo de atitude não era novidade no governo JFK, pois este sempre tentou intimidar fatos, como no caso da morte de Marylin Monroe, que foi amante dos irmãos Kennedy, e o governo fez de tudo para encobertar o caso, como pode ser visto no livro As Deusas, a vida secreta de Marylin Monroe, de Anthony Summers. Mesmo a eleição de Kennedy é envolta em traquinagens, com a suposta ajuda da Máfia, numa eleição que venceu por pouca margem de votos o candidato Nixon.. A campanha contra o documentário era tão forte que até um crítico da TV do New York Times falava contra o projeto, e continuou o fazendo mesmo depois de ele ser exibido.
Além de toda a questão geopolítica de Berlim, um outro evento complicou ainda mais a questão. Foi a crise dos mísseis de Cuba. Desse modo, o governo americano mais e mais queria evitar desgaste político. Mas a questão central não são os inúmeros problemas de política externa. O problema central é que, muitas vezes, a vontade das pessoas não é atendida pelo Estado. E não há dúvida: as pessoas devem lutar por aquilo que acreditam. Assim, lutar contra a imensa retirada das liberdades individuais, do direito de ir e vir das pessoas que o Muro representava estava acima de qualquer consideração de um burocrata.
Se o governo americano tinha receio de que um documentário atrapalhasse as relações políticas, é seu direito. Mas negar informação, via ameaças veladas e sub-reptícias, ao público, é canalhice. Ademais, visto historicamente, como já dissemos, toda a vez que os EUA enfrentou a URSS ele se saiu beneficiado. Na Crise dos Mísseis, quando Reagan lançou o Programa Guerra nas Estrelas, a URSS sempre capitulou em face de um ato mais enérgico do governo americano. Então, em retrospecto, provocar um inimigo com um reles documentário parece injustificável demais.
O mais curioso era que tanto o governo alemão, quanto o americano, que estavam contra a exibição do documentário da NBC, ajudavam a fazer propaganda para o filme Escape from East Berlin (Robeto Siodmak, 1962), e obviamente a NBC usou disso como argumento a favor dela.
O filme de Siodmak dá uma boa ideia de como era a questão da fiscalização ao longo do Muro e da vontade de escapar que era do imaginário das pessoas. Tem também a vizinha delatora, entre outros elementos da vida dos cidadãos da RDA. Tem um discurso mais incisivo contra o comunismo. Faz jus, pois foi produzido pela MGM, e Mayer, como pode ser visto no filme Mank (David Fincher, 2020) era outro anticomunista ferrenho. Na ficção as pessoas também escapam, mas as filmagens tiveram problemas.
As tomadas internas ocorreram na UFA, o icônico estúdio alemão responsável por clássicos do Expressionismo. Entretanto, nas externas, contam que os Vopos (Volkspolizei, a polícia do povo da RDA) jogavam fachos de luzes para atrapalhar a gravação, “...de uma maneira que a luz dos refletores a arco ficavam leitosos e embaçados”. Mais uma vez utilizo do livro do Le Carré, uma ficção, para fazer analogia com uma situação verdadeira.
Mas voltemos ao documentário da NBC. Com a Crise com Cuba evoluindo, aliada aos contatos que a RCA, controladora da NBC, possuía com o governo americano, fez a pressão ficar tão forte que a emissora adiou o lançamento. O jornalista Piers Anderton e Reuven Frank, produtor, ficaram arrasados, temendo que o documentário iria ser suspenso por completo. Entretanto, no dia 10 de dezembro de 1962, um mês e meio depois da primeira tentativa, o documentário foi exibido, com o patrocínio da Gulf Oil. E foi um sucesso de crítica. Com exceção do já mencionado crítico do New York Times, a imprensa foi unânime em ver os valores do filme e teve uma audiência espetacular. A NBC, corajosa, acabou por ter seus esforços recompensados.
Visto hoje, o documentário padece dos problemas dos documentários antigos. A falta de som direto, com depoimentos das personagens, faz com que toda a informação esteja contida na narração, tornando-o didático demais. Mas era desse modo que os documentários eram feitos à época, pois as câmeras autoblimpadas estavam ainda surgindo, o que inviabilizava a captação do som de um modo portátil.
Entretanto, ainda hoje o conteúdo clama mais que a estética. É emocionante ver as pessoas saindo do túnel de encontro às câmeras, um tanto perdida pela tensão, alívio e pelo futuro. Há que se destacar o trabalho de câmera, que foi realizado pelos irmãos Duhmel. Eles tiveram que se esconder em um apartamento na Berlim Ocidental, e com lentes teleobjetivas filmavam a casa por onde os fugitivos iam se dirigir para a fuga. Eles gravam as pessoas chegando, os soldados da polícia oriental em ronda, interagem com a mãe e a filha criança fugitivas. Filma como pode, e não deixa escapar os detalhes. Um trabalho tão bem executado que os produtores agradecem especialmente a dupla no final do documentário.
Além de ponto de filmagem, o apartamento também servia de código aos fugitivos, pois o combinado era que se um lençol branco estivesse pendurado na janela estava tudo certo para a fuga. Caso contrário, era pra voltarem para a casa.
A mãe e criança que saem do túnel são a mulher e filha de Peter Schmidt, o alemão pelo qual os italianos se solidarizaram e tiveram a ideia da escavação. A missão foi cumprida. Schmidt, na festa de confraternização mostrada no filme, canta ao violão, em homenagem aos amigos italianos e ao tempo que viveu na Itália, a música Torna a Surriento, fazendo uma bonita homenagem aos amigos e encerrando o documentário de modo sentimental. Como diz Piers Anderton: - “do que eles devem estar fugindo para se arriscarem assim?”
É curioso como isso tudo hoje soa anacrônico. A mídia moderna é de um progressismo pueril, demonstrando uma leniência com o comunismo de modo servil. The Tunnel fica então como um exemplo de um tempo em que jornalistas, executivos e empresas, como a Gulf Oil, tomavam o ponto de vista do cidadão comum e fazia frente aos governos, apoiando a parte fraca. Não importa se há aspectos econômicos ou não por detrás, o que importa é que o indivíduo, perante o um Estado onipotente, tem o direito de exercer sua defesa e ser ajudado em tal empreitada por entes que, assim como ele, desejem liberdade de ação e econômica.
P.S: Para os curiosos, o filme da NBC pode ser conferido aqui: https://www.youtube.com/watch?v=_aOIhpxBloE&t=2801s .Boa parte das informações sobre a relação da NBC com o túnel foram tiradas do livro Os Túneis, de Greg Mitchell, que por sinal é leitura excelente e instrutiva.
Filme latinos no streaming
Se, por um lado, o advento do streaming trouxe alguns problemas, por outro traz algumas vantagens. Por problemas, percebemos uma queda no público dos cinemas, uma maior dificuldade em achar filmes clássicos e antigos. Pelo lado positivo, é possível ver alguns filmes que nunca passariam nos cinemas.
Sempre quando viajo tento fazer algumas outras coisas além dos habituais museus e caminhadas. Procuro ir aos concertos, óperas e ao cinema, quando a questão idioma permite. Na Europa, como há uma preponderância de filmes dublados, é um tanto quanto trabalhoso. Mas em países nórdicos e de língua alemã é fácil achar cinemas com idioma original ou legendados em inglês. Gosto também ver ir às cinematecas e ver filmes locais, aqueles que você nunca encontraria em um cinema brasileiro.
Numa dessas pequenas aventuras fui, na Cidade do México, ver um filme local chamado Volverte a ver (Gustavo Adrian Garzón, 2008). A experiência de ir a um cinema no México é curiosa. Ao mesmo tempo em que é similar à nossa, nos detalhes exibe-se a diferença. O multiplex é igual? Certamente. A pipoca? Idem. Mas quando você vai pegar seus temperos (aqui limitado a sal e um molho de pimenta) é possível encontrar jalapeños. Sim, colocam-se pedaços de pimenta na pipoca. E isso diz muito sobre o cinema: uma arte universal, entretanto com características locais. O filme, e isto é um dos pontos desse texto, é bem pueril. Dois jovens bonitos, ricos e famosos que, por algum motivo, são solteiros e solitários. Ela é locutora de rádio, desses programas românticos que passam na madrugada, linda e sexy. Ele empresário de sucesso. Obviamente, apesar dos percalços, vão se encontrar e amar.
Enquanto assistíamos, por vezes ríamos da ingenuidade do filme, achando que era uma espécie de ironia toda aquela melação, aquele novelão mexicano em forma de filme. Mas as jovens da plateia choravam copiosamente. Algo estava errado. Elas não o faziam, como nós em alguns momentos, pelo ardor da pimenta na língua. Elas choravam pelo filme. Em respeito, procuramos segurar nossos risos.
Isso me trouxe uma questão. Que a novela mexicana era daquele jeito pois o povo assim o era. O mexicano do dia a dia é simples, caloroso, emotivo. Desde o carregador de malas de um hotel que se emocionou com um elogio até o popular, num ponto de ônibus em Los Mochis, uma cidade pequena em Sinaloa, que explicava que, apesar da violência no estado por conta do tráfico, eles eram um povo ordeiro e decente. Nas ruas do México é comum ver lojas de vestidos para festas de debutantes, esse tipo de coisa. E, de certa forma, o povo brasileiro também partilha dessas características, que é um tanto latina. Entretanto, no Brasil, seu audiovisual se nega a representá-lo.
Vejam as novelas. Ao invés dos dramalhões amorosos, o que se vê hoje é uma sucessão de pautas. O traficante legal, a lésbica que engravida, a polícia rancorosa, o ouvinte de música clássica e o cinéfilo aparvalhados, etc. Os sentimentos simples foram deixados de lado pela ideologia. E no cinema é o mesmo. Com uma diferença: as novelas mantém um público (ainda que boa parte seja inercial, como minha mãe, que reclama dessas coisas, mas continua a ligar a tv no horário da novela) enquanto o cinema não. Todos esses filmes de pauta são ridicularizados pela bilheteria. Quando ousa sair do esquemão ideológico, um filme como Dois Filhos de Francisco (Breno Silveira, 2005) tem imensa recepção. Entretanto, como atualmente o cinema brasileiro em nada depende da receita dos ingressos, isso não é uma premissa. O que é não usual na história do cinema brasileiro. Nos anos 1970 e 80, minha mãe me levava para ver um monte de filmes brasileiros populares, em geral baseados em cantores ou músicas. Fuscão Preto (Jeremias Moreira Filho, 1983), O Menino da Porteira e Mágoa de Boiadeiro (Jeremias Moreira Filho, 1977 e 1978), filmes com Waldick Soriano e Roberto Leal, Estrada da Vida (Nélson Pereira dos Santos, 1980), etc, etc. Além das reprises, de tempos em tempos, de Dio, come ti amo (Miguel Iglésias, 1966) e Marcelino Pão e Vinho (Ladislao Vajda, 1955). Eram todos sucessos.
Assim, é óbvio que um filme popular latino acaba tendo que partilhar alguma dessas características. É o que se percebe em outros dois filmes que, salvo estando no país de origem, seria praticamente impossível de assistir sem o streaming. E, nessas “viagens” dentro da rede, acabei deparando com um filme da República Dominicana, país do qual seguramente eu não havia visto um filme sequer, e do qual o máximo que tinha ouvido falar era de alguém que tinha ido a um resort em Punta Cana. Locas y atrapadas (Alfonso Rodríguez, 2014) é, em certo sentido, um filme surpreendente. Trata-se de um grupo de mulheres que ficam presas em um elevador e trocam confidências sobre os homens. Tem tudo o que os filmes populares latino-americanos têm: uma mise em scene meio novelão, a história é contada apenas através do diálogo, há um humor pouco politicamente correto, há um certo tom de exagero, há o homossexual caricato. Entretanto, tudo é feito com finesse, nada é forçado, não há a menor autoindulgência ou vitimismo, a narrativa prende a atenção e flui bem, o homossexual é caricato, mas não há uma ponta de proselitismo. A sensação foi tão positiva que resolvi pesquisar. Primeiro o diretor, e qual não foi minha surpresa ao ver que este possui uma carreira extensa, com mais filme que boa parte dos diretores brasileiros. Ainda intrigado, fui pesquisar sobre o país, o qual eu só sabia que era na mesma ilha que o Haiti e um comentário de alguém que foi a Punta Cana e disse que era impossível sair do hotel pra ir à cidade, pois perigoso. De um Haiti 2 da minha imaginação eu descobri que a renda per capita do país é muito similar à do Brasil. Enfim, o país e esse filme não fica atrás dos nossos. Muito pelo contrário.
É interessante notar também como nesses filmes latino-americanos populares é forte a influência da tv via telenovelas. Os filmes sempre parecem uma novela, seja pelos temas, seja pela decupagem e mise em scène. O excesso de closes, a falta de establishing shots, a opção por resolver dramaticamente através do diálogo e não da linguagem cinematográfica são comuns nesses filmes. Mesmo um filme mexicano que tenta ser mais moderno, menos novelesco, como Un papá pirata (Humberto Hinojosa Ozcariz,2019), como fotografia apurada, uso de música e edição de som “esperta”, decupagem mais cinematográfica (over the shouders, enquadramento mais rebuscado), trata da história de um garoto adotado que busca o pai verdadeiro, algo muito comum em dramas televisivos. Muitas vezes é difícil esconder nosso modo de ser. .
A mesma ênfase no contar a história através do diálogo pode ser vista em Uma ressaca de 9 meses (¿Qué culpa tiene el niño?, Gustavo Loza, 2016). O curioso desse filme é como uma gravidez indesejada é resolvida – o pai, mesmo sendo um jovem sem emprego, insta com a mãe para que a criança nasça. O contraste entre a mãe, que é da elite burocrática e trabalha em escritórios modernos e o pai, um rapaz pobre e sem perspectiva, é resolvida pelo bom senso do último. De certa forma, o México é parecido com o Brasil, com uma elite burocrática que se acha moderna e conspira contra os valores estabelecidos e o povo de classe média, que é apegado aos valores cristãos tradicionais. O que diferencia é que o cinema mexicano ainda se preocupa em questionar/problematizar esse estado das coisas, enquanto nossa cinematografia recente não, conforme dito acima.
. Por fim, interessei-me por um filme aleatório do streaming, De Roma com Amor (Colpo di Fulmeni, Roberto Malenotti, 2010). Gosto de Roma, achei que era um filme argentino e resolvi assistir. Descobri que era sim um filme italiano feito para tv. Lembra o primeiro filme que mencionei nesse artigo, Volverte a ver, mas com uma pitada de Cinderela. Tem a moça bonita, mas neste caso ela é pobre. E tem o ator galã, que é uma espécie de príncipe que renega as origens. O filme não é bom, mas confirma o que estou dizendo aqui. Os filmes populares latinos são ingênuos, românticos, chorosos. Alguns chamam de piegas, mas não gosto desse termo, pois acho que estabelece uma visão errada. O de que se emocionar com uma obra artística é coisa de gente atrasada. O velho mote de que uma obra deve passar “valor”, não sentimento. Oras, durante boa parte da história da arte essas coisas não eram excludentes, vide a obra de Dickens, Dostoiévský, Tolstóy, a ópera italiana, Shakespeare e tantos outros. E esse filme, apesar de sua fraqueza intrínseca, serve para mostrar que dramalhões não são exclusividade de povos primitivos e atrasados do terceiro mundo, mas sim uma característica muito forte dos povos latinos. A Itália não é um país atrasado, os italianos não são imbecis, assim como boa parte do povo do Brasil e do México não o é.
Quando Nixon falou, corretamente, sobre a maioria silenciosa, ele percebeu que o que move o mundo não é o que sai nos jornais, da boca da mídia, dos “intelectuais”, dos “youtubers”. As pessoas comuns não precisam ficar provando que o que elas gostam é bom, nem esperam que isso seja reconhecido por uma falsa elite intelectual. Elas creem nos seus sentimentos, nas suas intenções, de buscar aquilo que as representa no fundo do seu ser. E é por isso que cada vez mais os filmes que ganham festivais e os que ganham público estão apartados. Enquanto os primeiros tem por finalidade uma agenda, os outros tentam se conectar com o público. Volverte a ver e Locas y atrapadas podem não ser grandes filmes, mas são muito mais ricos culturalmente que um filme como Roma (Alfonso Cuarón, 2018). De Roma, eu quero um filme com Amor, não com alguém recolhendo o resto das fezes dos anos sessenta.