Review | Assassin's Creed
Ainda me lembro a enorme expectativa que cercava o lançamento de Assassin’s Creed em 2007. Antes planejado como uma sequência para a franquia Prince of Persia – cadê um jogo novo, Ubisoft? O game passou por diversas reformulações até virar uma propriedade intelectual completamente nova. Um momento propício para a Ubi arriscar com uma franquia inédita devido o lançamento recente dos consoles da geração passada.
Na primeira empreitada da série que só se tornou mais burocrática, a simplicidade comandava. Até demais. Na narrativa, acompanhamos Desmond Milles, um zé ninguém aparentemente sequestrado por uma corporação chamada Abstergo. Através de rastreamentos de DNA, a Abstergo descobriu que Desmond possuí variados ancestrais importantes na História. E um dos mais antigos, Altair, pode ter descoberto um artefato capaz de conferir imenso poder para quem o controla.
Através de uma máquina pioneira, o Animus, Desmond consegue acessar e sincronizar as memórias de seu ancestral podendo seguir seus passos, observar e sentir as mesmas coisas que Altair em 1191, em plena Terceira Cruzada. Encarnando seu ascendente, Desmond descobre que Altair pertencia à uma sociedade secreta: o Credo dos Assassinos. Entre as ordens do Credo, Altair recebe a importante missão de eliminar nove alvos espalhados nas cidades de Jerusalém, Damasco e Acre. A cada alvo eliminado, o assassino descobre que há uma ordem maior conspirando para dominar o mundo.
Único em muitos sentidos
A narrativa de Assassin’s Creed poderia ter sido considerava revolucionária para a época. A audácia do formato certamente fisgava a atenção do jogador de primeira. Já no primeiro game, uma regra para os jogos da franquia já estava consolidada: a narrativa do assassino encarnado sempre é melhor do que a narrativa contemporânea que acompanha as desventuras de Desmond.
Apesar de Altair ser tão raso quanto uma piscina para recém-nascidos, o personagem cativa pela sacada de mestre que a produção do jogo teve a cada vez que eliminamos um dos alvos importantes. Quando assassinamos um “chefe”, o tempo para e somos transportados para um espaço vazio onde os antagonistas fazem suas últimas confissões antes de morrer – isso virou assinatura da franquia, aliás.
Nesses momentos, tão próximos da morte, o roteirista Corey May consegue capturar essências mistas de ódio, medo e arrependimento a cada vilão que conversa com Altair. É através da linguagem corporal que interpretamos as sensações mistas do personagem a cada matança feita. Há a impressão de que a cada alvo eliminado, Altair sente que estivesse fazendo algo errado como fica provado no fim do jogo.
Como o protagonista é basicamente calado, não há muito o que explorar aqui, além dos momentos iniciais do jogo que revelam características arrogantes do herói. Nesse começo de franquia, os produtores não se preocuparam tanto em tornar a figura do avatar cativante ou sobre as diferenças entre as ordens dos Assassinos e Templários – algo que só foi explorado lá em Assassin’s Creed: Rogue.
Aqui é preto no branco: Credo dos Assassinos é a bondade em forma de clube com a função de libertar, esclarecer, revolucionar e de prover justiça. Já a Ordem dos Templários é a personificação do mal na Terra representando a opressão, exploração, escravidão e a ordem vigente.
Somente a reviravolta final, já com a Peça do Éden em mãos, que o game mostra que maníacos sedentos por poder estão onde menos imaginamos. Algo que sempre acho engraçado na história desses jogos é que, apesar de todos os esforços por séculos, a Ordem dos Templários, sempre derrotada, consegue manter o status quo e dominar o mundo.
Já a narrativa de Desmond se salva por conta do intenso ar de mistério que cerca a verdadeira índole da Abstergo revelada em um dos intervalos que Desmond tira entre as sessões no Animus. Nesses trechos, Desmond pode checar e-mails e conversar com Lucy quem o acompanha durante as sessões no aparelho. Uma faísca de interesse romântico surge na conversa dos dois, além de oferecer um backstory decente para o protagonista da história. Ao fim dessa narrativa, os roteiristas conseguem surpreender com reviravoltas interessantes prometendo uma sequência para a franquia.
Parkour e mundos abertos
O principal destaque na época de seu lançamento, era a jogabilidade intrigante. Dentro das 4 cidades disponíveis, o jogo permitia plena exploração horizontal e vertical. A marca registrada de escalarmos diversas estruturas imponentes como igrejas, mercados, templos e palácios já dava as caras aqui. Aliás, o jogo praticamente te obriga a escalar os pontos de referência para sincronizarmos e revelarmos mais pedaços do mapa.
Os viewpoints que proporcionam o pedigree mais clássico da franquia: o salto de fé. Após sincronizarmos o mapa, podemos saltar de alturas colossais até cairmos intactamente em uma carroça de feno. As carroças também funcionam como esconderijos para Altair enquanto é perseguido por outros guardas.
O estilo de jogabilidade se concentra bastante no modo stealth, o game te encoraja a tomar essa abordagem para tornar a experiência mais casual. Para isso, há um sistema bem interessante de detecção exposta no HUD. O sistema de anonimato foi preservado até agora, mas já no primeiro título, era algo bem feito. A inteligência artificial dos guardas passa a te procurar quando o status fica amarelo e partem para o ataque quando está em vermelho.
Para se livrar dos inimigos, o combate direto até ajudava com o macete do contra-ataque, porém era mais divertido partir para a correria e se esconder entre clérigos, sentar em um banquinho na praça, pular em uma varanda protegida ou se esconder no feno.
A cada conjunto de alvos eliminados, também desbloqueamos diversas melhorias para Altair como maior barra de vida – definida pelas barras de sincronização – armas melhores e alguns arremessáveis.
Para abrirmos novas cidades, também era preciso cavalgar até elas e invadir seus muros. O que já rendia muitas horas maçantes, principalmente porque os controles de escalada de Altair não eram dos melhores, nos fazendo saltar em momentos totalmente inoportunos. A distância entre cada cidade também era absurda e para liberar a viagem rápida, era preciso visitá-las antes.
Em termos de combate, Assassin’s Creed é um jogo satisfatório. Com as melhorias adquiridas é mais divertido batalhar contra os guardas ou chefes de fase. A hidden blade, outra marca registrada da série, diverte bastante para elaborar uma jogatina stealth. Embora seja permitido matar alguns pedestres, o jogo te pune removendo barras de sincronização. Então o game não confere um grau de liberdade avassalador como outros concorrentes de mundo aberto.
Aliás, o mapa de controles do jogo é um dos elementos que mais elogio pela inteligência de quem projetou. Tanto em combate quanto em corrida, abrimos novas opções de controle ao apertarmos o gatilho direito que aciona a corrida ou a defesa. Ao fazermos isso, mais opções convenientes de comandos aparecem como “pular” ou “contra ataque”, “corrida rápida”, etc.
Também em termos de game design, algumas atividades extras são adicionadas para tirar o jogo do marasmo – ainda que fracasse bastante. Podemos interrogar alvos, bisbilhotar conversas, roubar cartas de outros assassinos ou terminar fetch quests para outros NPCs. Além disso, há uma variedade intensa de coletáveis e uma missão paralela importante de eliminar 60 templários no mapa.
O Assassino Assassinado
O que realmente mata Assassin’s Creed é a repetição inacreditável espalhada ao longo de um game extenso. É difícil fugir da receita: vá até a cidade, passe os muros, suba em um viewpoint, sincronize e libere ícones no mapa, escute a conversa alheia ou adquira informações sobre o alvo, use a visão de águia para identificar o alvo, elimine o inimigo, corra, se esconda e repita.
Temos que fazer isso em praticamente o game inteiro. Nas primeiras três ou quatro vezes, é incrível e muito divertido. Mas a primeira impressão logo desaparece e o game passa a se arrastar. Após umas horas, torna-se verdadeiramente um belo porre repetir o processo em todas as cidades para encontrar chefes.
O interesse é vai e vem por conta da busca em completar a história e dificilmente rejogar o game.
Impressionava, na época, a qualidade gráfica do jogo que, de fato, era muito bonito mesmo. A diferenciação da paleta de cores para cada cidade e os diferentes estilos arquitetônicos, detalhes com os figurinos dos personagens e a boa acuidade histórica para as decorações certamente são pontos que merecem ser elogiados. Inclusivo a animação de tecidos, dos cavalos e de Altair, com seu estilo “marrento” de andar, correr e escalar diversos lugares. Uma pena que não é possível nadar com o personagem que é uma verdadeira pedra. Caiu em lago ou córrego, já era.
Salto de Fé
Embora o jogo tenha esse problema muitíssimo grave da repetição, Assassin’s Creed é um game profundamente importante na história da indústria. Com o imenso sucesso do jogo, recebemos diversas sequências que conseguiram exaurir completamente a fórmula, mas que ainda valem a pena serem jogados.
Hoje, com tantas facilidades e sistemas de jogabilidade mais fluídos e inteligentes, é um tanto assustador rejogar um clássico mais travadão como AC. Porém, acredito que ainda valha a visita pelas boas histórias que o jogo tem para contar e do incrível cuidado estético que a Ubisoft teve em retratar uma época tão interessante como o século XII. Para quem é fã da franquia, é um título obrigatório de visitar.
Entre os muitos prós, a maior vencedora é a Ubisoft em ter conseguido emplacar tantos elementos inerentes à franquia já na primeira tentativa. Dentro de sua repetição, Assassin’s Creed é um jogo que conquistou uma geração inteira com sua mecânica bem formulada e de fácil acesso. Como a história provou, a franquia melhorou muito em qualidade como veremos logo a seguir.
Review | Assassin's Creed II
2009 foi um ano extremamente feliz para as sequências de potenciais grandes franquias, onde muitas deram um salto significativo de qualidade com seu segundo jogo em relação ao antecessor. Jogos como Call of Duty: Modern Warfare 2, Killzone 2, Left 4 Dead 2 estão aí para provar. Entretanto, em alguns casos, o salto foi ainda maior, chegando a ser gritante, como o visto em Uncharted 2: Among Thieves e o presente Assassin's Creed II.
O mediano primeiro jogo, apesar da excelente premissa, contava com mecânicas travadas demais até para sua data de lançamento e um ciclo tedioso de repetitividade de missões, sem falar dos problemas da falta de profundidade dos personagens, obrigando a Ubisoft a atender às críticas em sua sequência, consertando os defeitos ou condenar a franquia. Felizmente, a grande maioria dos problemas foram reparados ao passo que houve uma expansão de tudo de bom que o jogo anterior havia feito.
Começando imediatamente após o final do primeiro "Assassin's Creed", a trama nos coloca, mais uma vez, na pele de Desmond Miles escapando do laboratório da Abstergo junto com Lucy Stillman, uma aspirante a assassina, para uma base dos assassinos. Lá, ele conhece Rebecca Crane e Shaun Hastings, dois dos responsáveis pelo trabalho com o novo dispositivo que o levará ao passado, o Animus 2.0.
As sequências no presente continuam monótonas e pouco interessantes, com algo importante acontecendo somente no final e sendo resolvida de forma rápida para garantir o gancho para o próximo jogo. Onde "AC II" realmente brilha é na Itália renascentista do século XV.
No controle de Ezio Auditore da Firenze - o favorito dos fãs e o que viria a se tornar um dos personagens mais icônicos da história dos games, um jovem nobre que tem seu pai e irmãos assassinados em praça pública em Florença devido a uma injusta acusação, o jogador embarca numa história de vingança e conhecimento cruzando, no caminho, com personagens históricos como Nicolau Maquiavel e Leonardo da Vinci e os Borgia em um cenário com ambientação impressionante em sua reprodução, como viria a se tornar um bem vindo costume na série. Mas não sem alguns percalços narrativos.
Enquanto que a história na superfície revela-se excelente, ainda mais para um game open world, sua narrativa sofre de severas inconsistências. Primeiramente, a relação e interação entre os personagens, que por vezes beira ao ridículo, é um problema que só é acentuado, aliás, pelos diálogos mal escritos e insossos e a dublagem italiana macarrônica forçada. Não ajuda ainda a forma como o jogo administra os coadjuvantes na história. Alguns simplesmente surgem por conveniência na trama, estabelecem relações com o protagonista sem haver a criação de vínculo ou construção para tal e não recebem o mínimo de desenvolvimento ao longo do jogo. Obviamente, há exceções como a missão em que conhecemos Lorenzo de Medici, mas não são uma constante.
Há ainda cortes bruscos em momentos dramáticos de suma importância narrativa. Entende-se que um dos intuitos da sequência era ter um tom mais leve do que o deprimido primeiro jogo e o cenário escolhido deixa bem claro a decisão, rendendo até uma excelente piada com o nome do tio de Ezio. Entretanto, essa tentativa de afagar peso do drama só contribui para a retirada momentânea da imersão do jogador mais atento. Pior ainda é o corte feito através das firulas tecnológicas do Animus, as falhas de design, que nos levam, por vezes, para o presente.
Em termos de mecânica, o jogo também demonstra evolução. Não é mais tão pesado controlar o protagonista e seus saltos e golpes são mais naturais. Porém, a jogabilidade acaba se tornando demasiada fácil no momento em que recursos como novos esconderijos, assassinato duplo, a contratação de grupos para distrair guardas ou lutar ao lado do jogador - mercenários, prostitutas ou marginais, a possibilidade de se misturar em meio a conversas são inseridos e a inteligência artificial dos inimigos prova-se ser ruim na totalidade do tempo, com direito a ataques por turnos em que um inimigo espera o jogador derrubar um outro inimigo para, aí sim, este atacar.
Quanto a variedade de missões, o jogador está muito bem servido. Há 15 tipos de missões diferentes contra 5 do primeiro jogo. A situação só melhora quando descobre-se a característica volátil de tais missões em que objetivos de escolta, perseguição e assassinato podem se entrelaçar em determinado momento. A interação com o meio ainda é convincente visto que há possibilidade de roubar ou matar transeuntes, andar a cavalo, conduzir barcos, testar o planador de Leonardo da Vinci e, dessa vez, nadar.
Ezio também pode explorar localizações escondidas como cavernas e catacumbas, trazendo recompensa ao jogador. Um dos passatempos mais legais da série também é introduzido aqui, a administração econômica de um local. Na vila de sua família, Monteriggioni, Ezio é capaz de administrar investindo em prédios, poços e lojas, melhorando a renda local e liberando mais afazeres para o jogador.
"Assassin's Creed II" é um jogo com um visual fantástico, personagens e história excelentes que são prejudicados por uma narrativa inconsistente, um final anticlimático e uma mecânica evoluída que não envelheceu tão bem - a versão rejogada para a análise foi a de PlayStation 4 - mas provou-se concisa em seu ano de lançamento e um atendimento de se tirar o chapéu às críticas do jogo anterior em relação a repetitividade de missões entregando um dos jogos de mundo aberto mais variados da época. A franquia estava colocada nos tilhos e a base para uma nova tendência da indústria, fincada. Se encontrando a um passo da excelência, a Ubisoft nos entrega não somente os belíssimos rios de Veneza como abre um mar de novas possibilidades.
Review | Assassin's Creed: Brotherhood
Algumas franquias costumam atingir seu ápice no segundo jogo, aquele com a oportunidade de corrigir os erros do primeiro, evoluir e surpreender o público como citei nos exemplos do texto passado. De fato, "Assassin's Creed II" fez tudo isso mas, curiosamente, não atingiu seu ápice, transferindo a tarefa para lançamentos posteriores. “Brotherhood”, uma espécie de "AC 2.5", terceiro jogo da série de consoles e segundo da trilogia Ezio, se não atinge o ápice na área narrativa ao menos o faz no campo das possibilidades de mecânica.
Como o jogo não dispõe do número 3 em seu título, o encarei como o que de fato ele é e o que se dispõe a fazer. Portanto, já irei avisando que a falta de grandes inovações não será um problema citado ao longo do texto, muito menos a familiaridade. O objetivo aqui era melhorar o que poderia ser melhorado de seu antecessor e apresentar uma nova história que justificasse a existência do título. E isso "Brotherhood" faz bem.
A trama começa conseguinte ao final do segundo jogo. Ezio descansa em sua próspera vila Monteriggioni, aquela em que investimos pesado durante a jogatina de AC II, quando é surpreendido por um ataque dos Borgia que termina com a morte de seu tio Mario. Promovido a mestre da Ordem dos Assassinos por Maquiavel, Auditore irá reunir e controlar a Irmandade de Roma para derrubar os templários que lá governam, incluindo o superior no comando, Cesar Borgia, responsável pela morte de seu tio.

A história é simples mas eficiente. O primeiro sinal de maturidade narrativa é a destruição da vila de Ezio, esta cuja o jogador desenvolveu enorme vínculo devido aos investimentos passados. De cara, o jogo já nos mostra que expansão será a palavra chave para definir sua concepção, deixando para trás toda a suposta timidez do jogo anterior. Entretanto, os problemas narrativos não são corrigidos, e os diálogos infantis, caricatos e expositivos que prejudicavam as interações com os personagens em AC II permanecem. Ao menos o trabalho de dublagem se deu de forma mais caprichada.
Os coadjuvantes mantém um papel relevante na trama - Leonardo daVinci que o diga - e são bem estabelecidos e os momentos dramáticos da história fluem de forma levemente mais natural sem grandes interrupções, não tendo seu peso prejudicado por alguma passagem de tempo mal concebida. Mesmo curta, a campanha prova-se consistente ao ter optado por menor elenco de coadjuvantes e maior foco no embate de Ezio, não comprometendo por ser bem objetiva. A falha maior fica por conta do que é mostrado no presente com Desmond, mesmo melhorados em relação ao seu antecessor e não sendo obrigatórios na maior parte da campanha, ainda tratam-se de trechos pouco atraentes com objetivos simplistas e enfadonhos.
Outro problema é a redundância do ponto A ao ponto B, o núcleo da história. Perceba como Ezio segue os mesmos passos que seguiu em AC II, desde sair em busca da Maçã do Éden até perseguir um dos mesmos vilões, após ter um membro importante da sua família morto no início do game! O final de Ezio, mesmo engajante e apropriado se considerado ao término medíocre do segundo, é apressado em seu último ato onde eventos que normalmente durariam 2 sequências inteiras em seu ritmo normal são condensados em minutos. Já o final do núcleo de Desmond, além de anticlimático, é patético. Apontei anteriormente que a história justificava sua existência, porém não deixa de passar a impressão de se tratar de um tremendo filler de 9 sequências.
Em termos de mecânica, o jogo também demonstra avanço. O combate está mais ágil e dinâmico, as execuções furtivas e atos ofensivos mais mortais e a inteligência artificial, mais agressiva - embora ainda burra, com desafio quase nulo. Infelizmente, os saltos acidentais para lugares não planejadas continua um enorme empecilho à paciência do jogador, assim como o stealth em falso. Já o visual é um verdadeiro triunfo. A recriação de Roma, 3 vezes maior que o mapa de Florença é separado em 5 distritos, com direito a Coliseu, é excepcional em seu design e beleza gráfica. Tendo visitado o local, reconheço que a fidelidade do anfiteatro, das ruas e vielas do game trata-se de um impressionante trabalho estético, digno de figurar dentre os melhores que os games já ousaram reproduzir, claro, dado as limitações da época.
A jogabilidade também entrega diversas possibilidades antes inexistentes como guiar o cavalo em meio a cidade, investir - dessa vez com o escopo de Roma em vez de uma vila - na cidade em vários estabelecimentos, administrar sua ordem de assassinos ordenando que membros cumpram missões em determinadas localidades mundo afora ou te ajudem quando necessitado, o que rende recursos ao protagonista, utilizar uma pistola em meio ao combate corporal, testar o paraquedas de daVinci e participar de perseguições - a do final, em especial, é excelente. A variedade, portanto, continua forte e com missões paralelas e secundários pipocando a todo momento, indo até mais longe ao incentivar o jogador a buscar segredos em túmulos e cavernas esbarrando, no caminho, com uma certa sociedade lupina.
Inédito até então, o modo multiplayer dá as caras já mostrando a que veio. Uma pena não estar incluído na versão de PlayStation 4 a qual tive acesso para rejogar e escrever esta análise, visto que tenho boas lembranças das horas que passei investido no online. O conceito é genial. Em minha categoria preferida, Wanted - que o jogador com maior número de pontos conquistados pela elaboração de assassinatos vence - seis ou mais jogadores são obrigados a caçar uns aos outros, após receberem um contrato, através de perseguições em stealth, encontrando e matando o oponente sem ser visto ou morto antes pelo mesmo, não aderindo ao estilo clássico "team deathmatch". Caso o jogador for percebido pelo contrato, o inimigo é alertado e tentará a fuga. É uma completa expansão do jeito assassino de jogar que a franquia inseriu levado com competência e criatividade para as vias online.
"Assassin's Creed: Brotherhood", sabe-se lá como, faz AC II parecer um rascunho. Expande absolutamente todos os conceitos trazidos pela mecânica da série, como alça novos ares com o multiplayer e em recriar digitalmente localidades reais nos mais realistas termos gráficos possíveis. E com todo o louvor que o Coliseu merece. Se a parte narrativa oferece os mesmos problemas que seu antecessor, com a adição da redundância dos objetivos do protagonista, ao menos nos é entregue com um pacote generoso de atividades. A Irmandade nunca esteve tão bem servida.
Review | Assassin's Creed: Revelations
Sendo curto e grosso, "Assassin's Creed: Revelations" possui não somente a melhor história, mas a melhor narrativa da série. É delicioso de ver como a jornada de um dos personagens mais bem desenvolvidos dos games termina de forma satisfatória encerrando um ciclo iniciado no primeiro AC.
Ezio, agora mais velho e experiente, está em Constantinopla/Istambul para encontrar as chaves de Masyaf escondidas por Nicolau Polo que lhe darão acesso a biblioteca de Altair em que se encontram os livros que seriam mais valiosos que todo ouro do mundo. Para tal, o protagonista receberá ajuda de Yusuf, líder dos Assassinos da cidade e extremamente carismático e ainda se envolverá em tramas políticas com o Príncipe Solimão e encontrará até espaço para o amor com uma dona de livraria, Sofia Sartor.
Perceba como todos os núcleos são bem divididos em poucos coadjuvantes cada um com suas funções que ajudaram no desenvolvimento da trama e do protagonista. Masyaf é a ligação com os recursos para a missão, as chaves, os assassinos, o conhecimento da cidade em si e possui os diálogos mais bem humorados. Sofia é a lembrança de um passado trágico e uma promessa de um futuro melhor e que, por ser dona de uma livraria, possui intenso conhecimento. Quanto ao Príncipe Solimão, o lado político ganha presença e também com excelentes diálogos.
Ou seja, Masyaf é a força e a missão, Sofia é o sentimental e racional postos na balança e Solimão é a política. Ao submeter Ezio em seu estado final encarando essas 3 vertentes depois de tudo o que passou, o jogo insere um subtexto de estudo de personagem nunca antes visto na série, o que cairia por terra se os diálogos não tivessem bem escritos e a química e trabalho de atuação não fossem eficientes. Felizmente não é o caso e até as cartas que o protagonista envia para Claudia relatando os acontecimentos são carregados de significados.
É o herói chegando ao fim de sua jornada, se questionando, encarando questões internas de complexidade moral, política e pessoal. Se Batman está mais cansado, agressivo e desesperançoso em "The Dark Knight Returns" de Frank Miller, Ezio está mais sereno, sábio, maduro e com o peso da humildade sobre seus ombros de que há ainda muito aprender com seu antepassado, Altair. As missões que retornam a alguns eventos do primeiro "Assassin's Creed" só reforçam essa conexão. Ao fim, com a entrada na biblioteca e o diálogo com Desmond, só temos duas certezas: que um ciclo se fechou e que estávamos diante de um personagem plenamente desenvolvido.
Então, mesmo sem grandes mudanças - de novo - AC Revelations justifica sua existência dentro franquia? Da parte narrativa, já vimos que sim. Mas... nem tudo é perfeito.
Diversos elementos foram retirados do jogo anterior como o meio de locomoção animal e as várias atividades paralelas secundárias, gerando a fúria de alguns jogadores. Não posso culpá-los totalmente, sendo um jogo triple A open world, o conteúdo realmente fica devendo em relação aos seus dois antecessores.
As novidades inseridas são uma faca de dois gumes. Enquanto a adição da Hookblade, das bombas - oferecendo oportunidades de gameplay únicas e melhorando o já manjado mas aprimorado combate - de novas armas e armaduras, dos ciganos e dos novos modos multiplayer é excelente, o gameplay do mini-game tower defense - em que inimigos atacam em turnos enquanto o jogador reforça as defesas de uma edificação - e a jogatina com Desmond em primeira pessoa "criando" blocos são extremamente mal ajambradas e, por vezes, incômodas. Aliás, toda o trecho com Desmond e o misterioso Subject 16 presos no "limbo"do Animus é desnecessário e serve como puro filler.
Alguns momentos roteirizado de ação também não são tão bem executados como em "Brotherhood". Enquanto o início e o final possuem momentos dignos de aplausos e reconhecimento por toda sua engenhosidade, há momentos em que, por exemplo, Ezio deve se desviar de obstáculos no chão enquanto é arrastado pelo veículo que o segura através de uma corda que chega a doer à alma de tão deslocado e mal concebido.
Já a parte técnica gráfica recebeu total atenção, com bugs e glitches mínimos, tornando Constantinopla uma realidade virtual, extremamente bela, variada e detalhada. Mais uma conquista da série em design e representação de mundo.
"Assassin's Creed Revelations" é o game mais maduro, narrativamente falando, da série mas que, por obrigação do lançamento anual, teve de sacrificar vários pontos que faziam os jogos anteriores mais completos e não arrumar com maior precisão algumas das novidades inseridas. A jornada de Ezio chega ao fim com um gosto doce no aspecto cinemático de vitória mas um tanto amargo no quesito videogame em geral, se justificando com a história que quer contar mas não em como traduzir harmoniosamente com jogabilidade e conteúdo alheios à ela, impedindo de atingir seu completo potencial e pegar o trono de melhor da franquia. Algo que a Ubisoft ainda iria repetir (e muito!) no futuro, infelizmente.
PS: A coletânea que utilizei para analisar os 3 títulos que a compõe, "Assassin's Creed Ezio The Ezio Collection" só é recomendada para quem nunca jogou a trilogia, já que os gráficos melhorados - que padecem se comparados a outros títulos de mundo aberto da geração como "Batman: Arkham Knight" e "MGSV: The Phantom Pain" - não são suficiente novidade para quem já se aventurou no passado, ainda mais tendo percebido o quão mal algumas mecânicas envelheceram levando em conta suas evoluções nos jogos seguintes da série.
Review | Assassin's Creed 3
Depois da saga de Ezio Auditore (da Firenze!) na trilogia composta por Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, muitos se perguntaram: quem seria o novo protagonista encapuzado? Ezio tinha um charme que facilmente conquistava a audiência, sendo aquele tipo do "protagonista rebelde e bem humorado" no início, para se tornar numa espécie de Batman da Renascença Italiana (não à toa, Roger Craig Smith, dublador de Ezio, dublou um cavaleiro das trevas mais jovem em Batman Arkham Origins, de 2013). Seu diferencial era seu sotaque italiano exagerado. O personagem consta como o melhor protagonista da série nas listas de muitos fãs. "Tão bom quanto o Ezio?" é o que perguntam os fãs a cada episódio da franquia. Resumindo, o personagem marcou os gamers. E assim voltamos ao questionamento: quem seria o novo protagonista? Seria tão bom quanto Ezio?
Com licença, que vou polemizar: Connor Kenway é, em muitos aspectos, um personagem melhor que Ezio Auditore. Connor, um nativo-americano, tem uma trajetória de tragédia muito melhor desenvolvida que seu predecessor, tanto pela dramaturgia quanto pelo contexto histórico de seu povo. Tanto Ezio quanto Connor perdem pessoas muito próximas no estágio inicial de suas aventuras. Mas o que torna a tragédia de Connor mais impactante é a forma como esse estágio inicial se desenrola. AC2 chegava ao ponto de tragédia em no máximo duas horas, enquanto AC3 leva seu desenvolvimento lentamente, até ao menos 4 ou 5 horas de jogo. Um dos motivos é o protagonismo limitado de Haytham Kenway nas primeiras horas de jogo. Haytham, pasme, é um templário, que viajou da Inglaterra para a América do Norte, à procura de um dos "pedaços do Éden". Em meio às suas curtas aventuras, conhece uma nativa-americana, que o ajuda em sua busca. Quando Haytham volta para seu país de origem, tal nativa está grávida com seu filho, que conheceremos como Connor.
Nesse prólogo gigantesco de horas de duração, temos então a busca de Haytham pelo pedaço do Éden, a infância e adolescência de Connor, e sua iniciação como assassino. A tragédia começa na infância, quando a aldeia de Connor é queimada, causando a morte de sua mãe. Na adolescência, um andarilho, se depara com um homem mais velho, chamado Achilles. Achilles o acolhe e o treina, fazendo parte do Credo dos Assassinos (convenhamos, um nome ridículo). Connor cresce e então, finalmente, vemos aquele homem que estampa a capa do jogo. À partir de sua vivência inteiramente difícil, desde a ausência de um pai, passando para sua perda, até o treinamento rigoroso de assassino, o Connor relativamente alegre e aventureiro do passado está perdido, no seu lugar um homem amargo e cético. Se começássemos nesse momento, a amargura de Connor seria simplesmente entediante.
Porém o longo prólogo constrói muito bem tudo isso, trazendo certa satisfação para quem ainda não desistiu do jogo (digo isso pois, na época, o que mais vi foram reclamações sobre como o prólogo era chato e pessoas afirmando que haviam desistido de continuar o jogo). Não pretendo falar muito à fundo sobre o resto da trama, exceto por alguns detalhes como: a trama de Desmond Miles, no presente, tenta construir um drama pessoal com sua relação paterna e o possível "fim do mundo", porém nunca atinge um ponto satisfatório e termina num final abrupto, corrido e enfurecedor.
O jogo abre após o prólogo, e finalmente exploramos o mundo aberto com suas diversas atividades disponíveis. Temos as missões principais, que variam de envolventes a desastradas à incrivelmente incompetentes (vulgo as missões de "eavesdropping", onde você segue um alvo e escuta suas conversas, escondido); as side missions, que vão desde as diversas missões de renovação do terreno de Achilles, nas quais você conhece diversos personagens carismáticos e não carismáticos, até a investigação de lendas "urbanas" (que começam ao sentar em uma mesa de taverna ou ao redor de uma fogueira nas florestas, escutando o que caçadores tem a dizer) e a busca de diversos tesouros de "Pegleg", algumas delas levando à cenas de ação espetaculares.
Temos também a exploração de subterrâneos (que deixam a desejar se comparadas às outras missões desse jogo e dos anteriores) e um número gigante de colecionáveis, sejam nas cidades de Boston, Nova Iorque ou as florestas. Mas a maior adição em meio às atividades é, sem dúvida, aquilo que viria a gerar um jogo inteiro na sequência: o combate naval. Connor, em certo ponto do jogo, maneja um navio, participando de campanhas de guerra navais em meio à Guerra da Revolução, que garantiu a independência dos Estados Unidos em 1776.
Não só há missões de história que se utilizam dessas mecânicas de gameplay como também há um número considerável de side missions, que envolvem a simples DESTRUIÇÃO de outros navios e o ataques à fortes militares. Diferente da futura (ou passada, na cronologia) aventura de seu avô Edward Kenway, o uso do navio não é realizado em um mundo aberto interconectado, mas sim em áreas separadas e lineares. Curiosidade: o segundo em comando de Connor no navio é dublado por Kevin McNally, ator que interpretava o segundo em comando do Capitão Jack Sparrow na série Piratas do Caribe. Isso e a trilha de Lorne Balfe, aprendiz de Hans Zimmer ( que compôs a trilha de Piratas), dão uma sensação de familiaridade.
Ou seja, Assassin's Creed 3 é certamente um projeto ambicioso, que se sucedeu em muitas de suas mudanças (como na maior construção de mundo em suas missões, história e a boa evolução gráfica da engine Anvil Next ) e falhou em outras (como as ainda presentes missões de "eavesdropping", alguns campos de batalha desastrados nas cenas de guerra de infantaria e o final absolutamente insatisfatório da aventura de Desmond Miles que, honestamente, já estava ficando sem gás).
Uma coisa é certa: AC3 é um dos poucos capítulos da série que realmente mudou as coisas (ou tentou mudar). Teve um ar de inovação e de maior coragem em tomar riscos, seja na maneira deliberada que a história começa sendo narrada ou um protagonista mais duro e sério, compreensivelmente assim. No entanto, o que faz de AC3 um de meus jogos preferidos da série? Além dessa coragem e narrativa mais polida, o grande motivo é a história. Não a história do começo, meio e fim, mas a história que vemos em documentos, museus. Não sabia muito sobre o contexto dos Estados Unidos em torno de sua guerra de revolução e independência. As únicas coisas que escutava sobre George Washington era que era bom e honesto e que cortou uma árvore por algum motivo.
Mas o que vi em AC3? A constatação de que Washington, antes de sua presença na revolução por independência, era o típico militar que queimou aldeias indígenas. Era chamado de "Destruidor de Aldeias" pelos nativos Iroquois. Aliás, em outro detalhe da trama, Connor descobre que sua aldeia foi uma das que Washington queimou. A série Assassin's Creed sempre teve uma proposta de subverter as narrativas históricas construídas pelos vencedores e até mesmo os perdedores (como em Unity). Mas é em AC3 que temos o maior e mais corajoso exemplo disso, onde um jogo olhou para os Estados Unidos, criticamente, em meio a um período de eleição (final de 2012, Obama vs Romney), onde um país assumia maniqueísmos, e narrou a história complexa de um nativo-americano em meio a um dos momentos definitivos do país do ocidente no geral.
É esse apreço pela complexidade das narrativas históricas que diferencia a franquia da Ubisoft e ainda mais AC3. Isso é, exceto por todo o parkour e quedas gigantescas amortecidas por feno. Esses detalhes são só diversão mesmo.
Texto escrito por Júlio Vechiato
Review | Overwatch
Uma das coisas que nos surpreende é quando uma empresa grande de jogos AAA anuncia algo totalmente novo e fora do comum. As chances de ser um total fracasso ou um grande sucesso é como um simples jogo de cara ou coroa. Com anos e anos de desenvolvimento, finalmente surge a mais nova criação da Blizzard, Overwatch, o jogo que conseguiu superar as expectativas de diversos jogadores do mundo e se tornar o mais icônico do ano.
Não pode se negar a fama que Overwatch conseguiu fazer em tão pouco tempo. Lançado em maio de 2016 para Playstation 4, Xbox One e PC, o jogo conseguiu atrair diversos fãs com seus personagens carismáticos, mapas originais e uma diversão enorme para todo tipo de público.
O enredo do jogo é realmente bem interessante de se entender, tudo começa por causa da evolução da inteligência artificial das máquinas e a ocorrência da crise “Omnic”. Isso acaba criando uma guerra global entre máquinas e homens sem nenhum tipo de trégua. Preocupado com a paz do planeta Terra, as Nações Unidas criam uma força-tarefa chamada de Overwatch responsável por ser uma força pacificadora em todo o planeta.
Ao decorrer dos anos a população começa a ver a Overwatch como uma ameaça, já que histórias falsas entre a Overwatch e o crime organizado começam a circular. Por causa disso e outros acontecimentos a equipe é obrigada a ser desfeita. Cada personagem tem uma história diferente por causa desse ocorrido, graças a Blizzard e suas animações podemos entender um pouco mais da história de nossos personagens favoritos e o destino deles após o encerramento da força-tarefa.
As mecânicas de Overwatch são bem diferentes dos tradicionais FPS que conhecemos no mercado. Cada personagem tem um jeito único de combate com duas habilidades e um supremo para ser executado. Isso faz o jogo ser muito mais atraente ao público. Essas habilidades poder ser usadas tanto para ajudar aliados como cura e escudos ou até mesmo para darem uma alta taxa de dano em inimigos, cada habilidade terá um intervalo de uso de para ser usado novamente. Saber usá-las nos momentos ideias da partida pode mudar todo o rumo da partida.
Os gráficos de Overwatch estão belos e bem cartunizados, as movimentações dos personagens são bonitas e bem modeladas, cada arena é extremamente bem-feita e detalhada, uma curiosidade é que cada arena terá um foco e elementos de alguns países como Rússia ou Japão. O trabalho que a Blizzard teve para fazer cada folha de papel se mexer ou de ser destruída é impecável e deve ser bem reconhecida por isso.
Existem 2 tipos de modos presentes no jogo, o primeiro aonde um dos dois times deve conquistar um respectivo ponto e permanecer por lá até concluírem 100% do objetivo e o segundo modo aonde um time irá levar uma carga a um certo ponto enquanto o outro time deve impedir que isso aconteça. Ao terminar a fase irá mostrar um placar entre o time azul e o vermelho, o time vencedor será aquele que conquistar 2 pontos de diferença do time inimigo, cada herói pode ter vantagens ou desvantagens em algumas arenas tendo uma participação melhor ou pior, por isso escolha com atenção seu herói para conseguir jogar com uma boa sincronização com seu time.
Em Overwatch cada herói está representado com uma classe especifica: suportes, tanks, assassinos e outros que podem ser escolhidos e usufruídos para moldar seu time da melhor maneira possível nos momentos de atacar ou defender o objetivo. No modo casual é possível trocar seu herói a qualquer momento contando que o jogador esteja na base, porém vale ressaltar que isso pode afetar muito o jeito que o seu time irá enfrentar as diversas situações da partida, sendo uma decisão muito ruim ou muito boa.
Uma curiosidade legal de se abordar é que cada personagem contém um país de origem e seus respectivos sotaques e estilos de interagir um com os outros antes de começar a batalha. Isso traz uma enorme originalidade e até mesmo afeto por certos personagens como Mcgree ou a D.va
O sistema de level-up do jogo é bem agradável para o jogador, conforme jogamos, ganhamos experiência para nossa conta principal, isso fará com que o jogador comesse a enfrentar pessoas mais experientes que já estão a mais tempo se dedicando ao jogo, ao evoluir sua conta o jogador ganha de brinde uma caixa que contem cosméticos para o personagem como novas falas, sprays, bandeiras e outras coisas para customizar sua conta. Após pegar nível 100 a conta recebe uma estrela representando um tipo de reset e começa a contabilizar dês do nível 1 novamente até a próxima estrela, se você contém uma dessas estrelas parabéns, significa que você já se dedicou bastante ao game.
A comunidade do jogo é talvez a parte mais surpreendente que existe em algum desse gênero. Mesmo voltado ao competitivo, os jogadores são bem-educados e tentam conversar e interagir com os outros, é possível entrar no meio da partida no modo de voz aonde o jogador poderá se comunicar e ouvir estratégias de outros jogadores mais experientes, ou para aqueles mais tímidos apenas escrever e fazer seu jogo do modo mais bem-sucedido possível. A comunidade de Overwatch não tolera pessoas que tentam estragar o jogo aqui a frase “respeite e seja respeitado” existe e é bem levado a sério.
Em Overwatch, os jogadores mais competitivos podem mostrar tudo que tem nos modos ranqueados, elaborando a melhor estratégia com seus personagens e indo com tudo para a vitória. Vencer uma partida dessa significa ganhar pontos para subir de elo e enfrentar pessoas mais experientes e mais preparadas para as diversas situações encontradas no meio dessas partidas, uma boa recomendação para quem quer um ótimo competitivo.
De forma alguma o jogador se sentirá enjoado de jogar Overwatch se tornando até mesmo uma rotina no seu dia a dia. Atualizações frequentes de personagens e eventos, amizades novas e a sensação de evoluir no jogo é de sempre querer mais e mais. As histórias bem boladas e contadas de cada personagem com animações feitas pela Blizzard são incríveis. O conteúdo prende o jogador a sempre querer mais do universo de Overwatch.
Overwatch foi uma ótima aposta que deu tudo que tinha que dar de certo para a Blizzard, o jogo caiu como uma luva para os diversos jogadores tanto casuais como competitivos, a mistura de elementos de FPS com habilidades especiais são divertidas para os olhos de todos os jogadores, um design gráfico impecável representando elementos de cada pais diferente tanto nos personagens como nas arenas e claro a comunidade espetacular que faz Overwatch ser um jogo forte tanto no cenário competitivo como nos mais casuais possível.
Review | Star Wars Battlefront
Aviso: Este game foi testado no console PS4
Star Wars Battlefront é um game de tiro em primeira ou terceira pessoa, que se passa no popular universo da saga originada por George Lucas em 1977. As duas primeiras entradas na série Battlefront foram lançadas para computador, Xbox 360 e PS2, sendo que a terceira entrada da franquia, mesmo com certo progresso no desenvolvimento, foi cancelada quando ainda estava em desenvolvimento.
No entanto, alguns anos depois, mais precisamente em 2013 durante a E3, é anunciado o reboot da série de games para os consoles da nova geração. Com desenvolvimento pela DICE e Eletronic Arts os fãs tiveram sua esperança reavivada.
E com bons motivos. DICE e EA são as mesmas desenvolvedoras dos recentes jogos da franquia Battlefield incluindo o excelente Battlefield 4. Sua mecânica aplicada ao universo fantástico de Star Wars era a combinação perfeita, afinal, quem não quer controlar um AT ST pelo meio da neve ou voar uma nave de combate numa guerra fora do planeta?
Gráficos
A primeira coisa que notamos ao jogar é a proeza digital. Os cenários de combate, as naves, o céu e os personagens são belamente criados e modelados. Os reflexos na arma e no capacete, as luzes entrando pelas folhas das árvores e a textura de modo geral é excelente. Percebe-se o investimento do estúdio na construção deste universo, que agrega bastante à experiência do game. Os poucos planetas que nos são oferecidos estão, pelo menos, altamente caprichados. A EA não mediu esforços para colocar seu produto com os melhores gráficos desta geração, entregando um visual soberbo.
Gameplay
O gameplay é animador o suficiente para uma tarde divertida no modo multiplayer, no entanto, existem retrocessos no que diz respeito às outras entradas na franquia. Comparando ao seu antecessor, por exemplo, tínhamos a opção de buscar veículos estacionados para os pilotar em meio ao combate. E isso é importante, pois como se trata de Star Wars, a maior empolgação se encontra justamente em utilizar os veículos do cinema e ver os mesmos se comportando no jogo como vimos nas telas. É uma pena que a DICE tenha decidido restringir essas possibilidades à motos, deixando o acesso aos veículos interessantes somente por meio de pontuação, como um bônus, ou um ícone escondido no mapa. Se você morrer dentro de um desses equipamento, por exemplo, você volta ao seu local de origem e precisa novamente atingir a quantidade de pontos necessária para desbloquear o item. Esqueça, portanto, a estratégia de se infiltrar em uma base inimiga para roubar um maquinário específico e alterar as balanças do embate. Aqui, o foco é no combate de tiro, mais como um Destiny do que Battlefield.
Em compensação, os comandos são bem responsivos e as armas que seu personagem carrega são facilmente manuseadas. Com pouco treino você não terá dificuldades em realizar diversos movimentos e trocas de armas.
Multiplayer
O modo multiplayer é o grande enfoque deste game, com diversas opções para jogo online e local (o famoso splitscreen). Os combates funcionam bem e não tive dificuldade para achar salas. Existem ainda diversas modalidade de jogo, como a inédita batalha entre naves em plano terrestre e não no espaço. Outra novidade são os objetivos fluídos, que surgem durante o jogo e garantem pontuação extra para a equipe caso você ganhe (ou pontos para a equipe adversária caso você perca). De um modo geral, os embates são rápidos e de alta energia, priorizando velocidade e agilidade. O único problema deste modo é a baixa diversidade de planetas jogáveis.
Singleplayer
E chegamos ao ponto onde o jogo sofreu maiores críticas; remoção do modo história. Uma das grandes diversões de Battlefront 2 e 1, era escolher um lado na guerra intergaláctica e acompanhar os principais eventos do cinema pela perspectiva de um soldado. Existiam cutscenes, participações de personagens dos filmes, menções a eventos e uma conclusão com um final alternativo dos filmes caso você optasse por jogar pelo Império. Havia também, para os jogadores que finalizassem a campanha, o modo de Conquista Galáctica, onde você escolhia um período da história espacial, um lado da guerra e ia conquistando planetas. Em Star Wars: Battlefront, todas estas opções foram removidas, focando pesadamente no modo Multiplayer. Como um fã dessa série de games, eu considero uma grande perda para a experiência do jogo. O modo história nos insere mais ainda dentro do lore do game, nos permitindo testar tipos de jogo e itens que no modo multiplayer acabamos não tendo oportunidade. A não existência dessa opção é um grande desapontamento. Para jogos solo, portanto, sobram cinco missões de tutorial e dois mapas para jogar com inteligência artificial. Uma pena.
Conclusão
Star Wars: Battlefront é um jogo cercado por grandes expectativas mas que infelizmente não consegue entregar a principal delas: uma experiência cinemática no universo de Star Wars. Com gráficos exuberantes, um multiplayer divertido e jogabilidade acessível, Battlefront peca no modo história. Onde a expectativa era uma evolução, o entregue foi um retrocesso. A EA e a DICE possuem em mãos uma grande oportunidade caso decidam recolocar estes elementos na sequência que deve ser lançada em 2017. Vamos torcer para que façam uso desta oportunidade.
Review | Furi
Os jogos de ação normalmente optam por intercalar momentos de batalhas contra inimigos comuns em grande quantidade e combates contra chefes, decisivos e mais memoráveis. Assim como no excelente Titan Souls, de 2015, em Furi tudo se resume a lutar contra uma série de chefões. Entre uma batalha e outra, o jogado não pode fazer nada, senão caminhar lenta e vagarosamente entre as arenas. O que o torna notável e suportável além da ação é o universo construído e suas ambiências.
Começamos o jogo com o protagonista preso. O guarda, robusto, possui em sua cabeça giratória diversas máscaras de Oni. Sua multi-expressividade facial não dá, porém, lugar para uma personalidade diferente de um carcereiro violento. Logo ao iniciar, uma figura com uma grande cabeça de coelho roxo, à Donnie Darko, surge e liberta o personagem. “Mate o Carcereiro. Lute pela sua liberdade. O Carcereiro é a chave. Mate-o e será livre.”, ele afirma. Já o protagonista é mudo. Não fala nesta, nem em qualquer outra cena. A figura misteriosa some e, então, se segue em frente. Depois da cutscene, só se pode andar em frente e enfrentar seu oponente. E assim serão as próximas situações.
A câmera normalmente fixa, ou com movimentos muito sutis e vagarosos, acompanhando o andar do personagem, enquadra e direciona nossa percepção do mundo. Uma interface limpíssima. Até chegar à arena de batalha, tecnicamente, o jogador pode deixar todo o controle para o próprio jogo. Ao pressionar um botão, o personagem mexe-se automaticamente. Nenhuma outra função está disponível. Mas se quiser, o jogador também pode mexer o personagem “livremente” com o analógico. Mas note que sua velocidade não muda e não há outra linha para ser seguida nem nenhum canto a ser explorado. Os ambientes são decorados com o mínimo que se precisa para perceber e incorporar as sensações daquela fase. E a cada chefe derrotado, há uma mudança extrema da topografia, da vegetação, cores, construções etc. Nesse sentido, a produção é bem única.

O design dos personagens é muito familiar às do mangá/anime Afro Samurai. Não é à toa que o responsável é o mesmo. Takashi Okazaki, artista oriental que demonstra grande predileção pela estética norte-americana, especialmente em relação ao hip-hop e ao cinema blaxploitation, concebeu e deu identidade à Furi. A postura dos guerreiros é misturada com elementos tecnológicos avançados, com várias cores e tons muito saturados. Seja o personagem principal, samurai – parecido com o protagonista de Afro -, o cavaleiro robusto, a sniper, enfim, uma verdadeira plêiade de combatentes, todos os personagens que pipocam na tela são únicos e representam bem seus estereótipos.
Estereótipos, esses, que podem ser ligados diretamente com figuras populares tanto dos quadrinhos e animações como dos games. Destaque para o terceiro chefe, chamado The Line: um sábio e vetusto heremita que veste um headphone, braceletes, joelheiras e tornozeleiras coloridas e tem controle sobre o tempo. Sentado calmamente sobre uma pedra, possui a tranquilidade e a paciência de um guerreiro digno.
A extensa duração da batalha, a necessidade de estratégia e os temas que envolve recordam o icônico The End, de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Assim como este, a concepção de outros chefes remete ao de personagens icônicos. No final da batalha, o libertador-coelho afirma que “não há destino”, “nós construímos nosso próprio futuro”. Em um jogo como este, que funciona a partir de escolhas totalmente pré-determinadas, não há como não soar irônico.
A maior diversão vem, porém, nas lutas. Ao invés de montar uma variada gama de ataques, combos e upgrades para serem feitas no decorrer do jogo, logo na primeira batalha se tem acesso e conhecimento do aparato estratégico para enfrentar todos os chefes. Um botão para ataque com a espada, outro de defesa, um de esquiva, enquanto o analógico direito cuida da pistola laser. Uma inventiva mistura do hack ‘n’ slash de Devil May Cry com jogos bullet hell. Cada inimigo possui várias fases, normalmente entre quatro ou cinco.
A cada barra de vida esvaziada, a tendência é o aumento gradual da dificuldade. Cada uma das fases, por sua vez, possui dois momentos: o primeiro mais livre, em que estão liberados os ataques à distância com a pistola e os oponentes vagam livremente por toda a arena; e um segundo, em que os lutadores se aproximam e a movimentação fica mais restrita para efetivar um combate exclusivamente corpo a corpo (ou tête-à-tête).
Os inimigos se comportam com padrões de ataques intuitivos visualmente e, singularmente, ímpares na medida do possível. Só existem checkpoints entre as batalhas, ou seja, o jogador deve derrotar todas as fases do oponente em uma batalha de 15 minutos, normalmente. A dificuldade, para os padrões atuais, pode ser considerada alta. E, apesar do teor viciante ser comparável ao de Super Meat Boy, o desafio é totalmente distinto. É necessária aqui uma experiência, paciência e precisão dark-soulniana, proporcionalmente compensada nos momentos de frustração e de vitória.
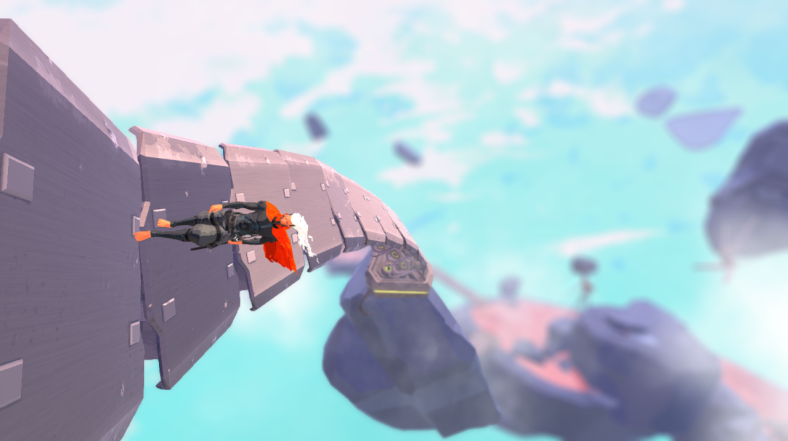
Furi carrega sua maior virtude e sua maior falha lado a lado. É um jogo curto. A primeira jogatina dura em torno de quatro horas. Depois, menos de uma hora será suficiente. Por um lado, a curiosidade move o jogador para saber tanto como será o próximo oponente, como para descobrir as raízes do protagonista. O final satisfatório, pouco elaborado, mas que fecha o ciclo temático que a jornada construiu, encerra a real experiência do jogo.
O resto é pura competitividade medíocre: reencontrar os chefes em dificuldades maiores, sofrendo menos dano e ganhando no menor tempo possível. Basicamente, um boss rush. Tais virtudes, que podem ser aprimoradas em um modo de prática, somam pontos e resultam em uma nota individual para cada batalha e no final dão uma média para o conjunto – desbloqueando artes conceituais com uma ou outra informação explícita da construção dos personagens.
A sincronia se completa com a trilha sonora eletrônica, com faixas de nomes como Carpenter Brut, The Toxic Avenger, Danger, entre outros. Cada uma se encaixa com o seu chefe correspondente e confere maior imersão. Tecnicamente, alguns riffs sintéticos funcionam para um videogame, mas podem mostrar-se enjoativos e até, dependendo do seu temperamento, irritantes. Como tudo nesse jogo: perseverança é a chave.
Review | LEGO Star Wars: The Complete Saga
A grande era do PlayStation 2 realmente foi magnífica. A variedade de jogos que eram lançados e sua criatividade fazia do console, o mais escolhido pelo público. Quem não se lembra dos jogos mais famosos como God of War, Kingdom Hearts e até mesmo Shadow of the Colossus? Um verdadeiro show de conteúdos para os gamers. Mas vamos falar do nascimento de uma franquia de jogos mais do que bem vista e divertida dos últimos tempos: LEGO e nada melhor que fundir essas pecinhas de montar com o majestoso universo Star Wars, uma mistura que deu perfeitamente bem.
Lego Star Wars The Complete Saga foi lançado em 2007 para todas as plataformas. Antes de entrarmos de cabeça nesse fantástico jogo temos que ter em mente que Complete Saga é a junção dos dois últimos jogos Lego do Star Wars trazidos para PlayStation 2 sendo o primeiro jogo com o nome de Lego Star Wars:The Video Game e o segundo de Lego Star Wars 2:The Original Trilogy. Na época cada jogo contava 3 episódios do filme com uma grande pitada de humor e diversão.
Os resultados das vendas de ambos os jogos foram altíssimos e chamava não só o público mais jovem, mas como também os mais velhos a entrarem de cabeça no universo do jogo e em suas aventuras. Complete Saga chegou para trazer o melhor desses dois últimos jogos em um enorme pacote de nostalgia e para aqueles que não tiveram o privilégio de acompanhar os dois separadamente.
Em Complete Saga temos os 6 episódios principais dos filmes de Star Wars que são exatamente os capítulos que o jogador deverá fazer e isso é extremamente divertido, não só porque o jogador irá rever todo o universo em uma visão de bloquinhos de montar – que é fantástica e detalhada, como também irá jogar com todos os personagens presentes no game. São mais de 100 personagens desbloqueáveis para se divertir e encarar os desafios que Complete Saga oferece.
Cada capítulo de Complete Saga relata o filme em 6 fases diferentes que levam mais ou menos 30 minutos para serem finalizadas. Esse tempo longo se dá por causa dos objetivos secundários que o jogador deve fazer para completar 100% da fase e do jogo. Ao todo são 4 objetivos diferentes, onde explorar e coletar as moedas serão essenciais para avançar de uma forma vantajosa no jogo.
Os gráficos de Complete Saga são exatamente os mesmos do PlayStation 2 só que um pouco mais polidos. O jogo roda em 30 FPS e não tem opção para se jogar na resolução de 1920x1080. Mesmo sendo a união de dois jogos antigos em um poderiam ter dado uma finalizada em alguns aspectos para deixar o jogo mais bonito e atraente em seu tempo.
Os designs das fases são bem elaborados e construídos nos detalhes do ambiente em que a fase está ocorrendo como florestas, arenas ou mesmo em naves. Vale lembrar que aqui os personagens não falam, apenas fazem expressões com os rostos e gestos com as mãos. Mesmo assim esses aspectos fazem o jogo ser bem-humorado tirando alguns sorrisos ou risos do jogador.
Finalizar Complete Saga em seus 100% é bem trabalhoso, porém muito recompensador. O jogador deverá refazer a fase pelo menos 2 ou 3 vezes para pegar os Minikits e blocos vermelhos – os dois mais famosos itens em toda a franquia LEGO. Claro que o objetivo mais clássico também está presente aqui onde o jogador deve pegar uma quantidade de moedas e conseguir o objetivo de True Jedi. A novidade que chega nessa versão é os minikits azuis no qual o jogador deve pegar todos os minikits originais em menos de 10 minutos, algo que é difícil e frenético.
Em Complete Saga alguns personagens e utensílios só serão liberados caso o jogador complete algum dos 6 capítulos e adquira os blocos vermelhos. E é para isso que as moedas coletadas em cada fase serão úteis. Cada personagem e utensílio contém um valor para serem adquiridos. Os utensílios acabam sendo de maior importância por lhe fornecer vantagens em sua jogatina como multiplicador de dinheiro e localizador de minikit, praticamente uma trapaça comprável que o jogo fornece.
Mas não pense que Complete Saga é apenas isso. Pegar todos os blocos dourados exige mais do que finalizar os capítulos que o jogo exige, por conta disso um novo modo chamado caçador de recompensa aparece dando mais vida útil e desafio ao game, nesse modo o jogador tem uma quantidade de tempo para coletar 1 milhão de moedas, mesmo sendo um número absurdo é possível fazer essa quantidade com uma boa estratégia.
Cada personagem terá uma importância única em certas fases para habilitar certos minikits: Jedis não podem abrir locais aonde exigem personagens com o lado negro da força como também não podem destruir locais específicos protegidos por metal. Isso dá um bom complemento no jogo, já que os personagens adquiridos não ficam inúteis e parados em algum canto.
Lego Star Wars: The Complete Saga de fato é um velho amigo que dá as caras de vez em quando. A fusão dos dois jogos da franquia em um foi uma ótima cartada vinda pela LEGO. O maior problema talvez seja a repetição da mesma fase 3 ou 4 vezes para fazer o jogo 100% o que deixa o jogador totalmente desmotivado em querer fazer essa façanha. Também poderiam ter melhorado a qualidade gráfica um pouco mais já que praticamente é um jogo de Playstation 2 nos consoles atuais da época de 2007, porém a diversão e o vício de querer mais um pouquinho é bem visível, ainda mais misturando paródia com o universo Star Wars.
Crítica | Sense8 - 1ª Temporada
Definitivamente Sense8 é o trabalho de um esteta. Seja em sua criação, na paleta de cores, na narrativa e na composição das cenas. As irmãs Wachowski, desde trabalhos predecessores como o clássico neo-noir Matrix ou a épica jornada contemplativa A Viagem, sempre valorizaram originalidade na indústria do audiovisual e, apesar de alguns trabalhos deixarem a desejar, não podemos negar que os conceitos com os quais mexem oscilam entre o mundano e o profano, entre o socialmente aceito e o tabu.
A história gira em torno de oito estranhos, vivendo vidas diferentes em cidades diferentes, com dramas pessoais diferentes. Eles nunca se viram - e provavelmente nem sabem da existência um do outro. Mas de repente, após sermos apresentados a uma sequência muito bem construída onde uma mulher, no centro de uma igreja, decide finalmente puxar o gatilho da arma que carrega e acabar com um sofrimento visível, aparece para todos (não sabemos se ela se teletransporta ou se ela se conecta). E a partir do incidente incitante da série, as coisas ficam mais interessantes.
Acontece que esta mulher, chamada Angelica (Daryl Hannah) se matou por causa de uma corporação vilanesca que desejava entrar em sua mente e conseguir dominá-la, bem como encontrar estas oito pessoas. Todos estão correndo um grave perigo desde o momento em que nasceram, mas não sabem disso. Nem nós sabemos. À medida em que conhecemos cada um dos protagonistas, vamos absorvendo seus dilemas existenciais e nos surpreendemos quando, por exemplo, um astro do cinema mexicano pisca e se vê cara a cara com uma empresária sul-coreana, ou quando um policial do gueto de Chicago se apaixona por uma DJ islandesa. E esse é apenas o princípio. Estes indivíduos são conhecidos como sensates, justamente pela capacidade psíquica de se conectarem a outros semelhantes.
Este parágrafo talvez seja o melhor que posso escrever para explicar a característica principal da série. Primeiramente, deve-se entender que Sense8 cria uma mitologia do nada - e este é um trabalho deliberadamente complicado; pois além do fato de se vincular à verossimilhança de outros trabalhos que explorem as capacidades sobre-humanas de um indivíduo, ela tem que ser construída de forma a envolver o público, sem cansá-lo ou deixá-lo confuso. É claro que, no início, dúvidas surgem para todos os lados. Esta é uma temporada, em seu cerne, de apresentação: há muito a ser explicado, a escolha de divagar sobre cada uma das subtramas num ritmo não tão acelerado, mas dinâmico, foi um acerto em cheio tanto por parte das irmãs quanto por parte de J. Michael Straczynski (Babylon 5), também criador do show.

O cenário é imersível, disso não posso discordar. A simples decisão de criar uma vasta mitologia que envolve a arquitetação de regras e mundos novos é animadora. Até mesmo a transgressão dessas leis é algo a ser planejado com cuidado. Mas a série é tão crua - no sentido de faltar algumas lapidações principalmente para o entendimento de conceitos próprios - que alguns de seus fundamentos são complexos de digerir. Leva tempo até os detalhes serem apreendidos, sobre o que está acontecendo e o que isso significa para as pessoas envolvidas.
Esta crueza da qual falei vem também das técnicas utilizadas para a concretização da série. O roteiro de cada um dos doze episódios foi escrito antes mesmo das gravações começarem para que possíveis furos fossem ajeitados e varridos para debaixo do tapete. Mas estamos falando aqui de oito subtramas individuais e uma arquitrama principal, e nem todos os deslizes poderiam ter sido impedidos, principalmente no tocante de comunicação entre os personagens e suas ambientações existirem em cenários remotos. A maioria destas sequências se resume aos atores aparecendo em cenas, sem realmente entender quem mais pode vê-los e até que ponto eles conseguem interagir com outras pessoas. A priori, podemos entender estes acontecimentos como arquétipos da consciência que tanto vemos em obras de animação, por exemplo, mas o simbolismo e a ideia vai muito além disso. Eventualmente as regras se mostram detalhadas, mas isso também dá margem para a série cair nos próprios erros.
A compreensão não é fácil - fator que eleva o nível da série bastante. Sense8 traz muitos ideais metafísicos e psicológicos para criar um cenário entendível, estando em aversão constante a diálogos superexpositivos e sequências banais, a ponto de suspeitarmos que a série se baseia em intrigas e confusões para nos envolver. Jonas (uma muito bem-vinda presença de Naveen Andrews) é a embocadura primária que explica o que é ser um sensate, mas o personagem poderia ter sido melhor explorado. Seu potencial é inefável e, depois de um breve momento de insight no segundo episódio - coisa que, dentro deste mundo, ocorre de forma rápida - temos uma explosão narrativa que culmina em What's Going On? (Episódio 04).
O que realmente funciona e ofusca os deslizes é que, neste ponto da história, os personagens constroem uma conexão muito forte com o público, mostrando-se tão confusos quanto nós e se perguntando o porquê de tudo aquilo estar acontecendo.
A série é essencialmente verborrágica. Como primeira temporada, creio que esta saída tenha sido a mais coerente. Somos primeiramente apresentados a todos os backgrounds possíveis, aos protagonistas e antagonistas, aos heróis e vilões - livres do maniqueísmo que costuma acompanhar narrativas deste tipo - às viradas e aos beats, para enfim culminar no clímax principal. Os futuros anos de Sense8 terão mais tempo para se adaptar ao que promete, mas isso não significa que não seja emocionante. Temos algumas sequências de ação que realmente usam e abusam da premissa principal, principalmente a que ocorre no oitavo capítulo, intitulado We Will All Be Judged by the Courage of Our Hearts. A cena é construída quase perfeitamente, trazendo-nos surpresa e felicidade ao mesmo tempo: dado ao que está acontecendo - uma fuga em alta velocidade - não é possível considerá-la uma obra-prima do gênero quando comparada a outras, mas este não é o foco. A catarse ocorre pelo fato dos personagens sensates estarem em harmonia, todos cooperando e trabalhando junto, colocando em prática suas habilidades e trazendo, pela primeira vez, equilíbrio a um cenário caótico.
O ritmo aqui é um problema, infelizmente. E por vezes, os episódios destoam entre si e podem causar um cansaço no público. Mas como o tempo aqui é destinado para os personagens e para diálogos existencialistas sobre seus temores, seus pesadelos e seus sonhos, tudo - ou pelo menos a maior parte - é justificável. Os protagonistas têm o tempo necessário para se relacionarem e para criarem laços inquebrantáveis com o público e entre si, tudo pincelado com temas de cunho social, alguns até considerados tabus. É interessante citar que Sense8 é uma das poucas séries cujo elenco é diversificado ao extremo, principalmente no tocante à comunidade LGBTQ, a qual entre em peso na série.
Sense8 é uma série com um incrível potencial. Talvez sua primeira temporada tenha pecado quanto ao tempo de duração de apresentação dos personagens e de sua mitologia, mas, como supracitado, os deslizes são justificáveis. Assim como os protagonistas, estamos gradativamente absorvendo as brechas e as tramas que envolvem cada um deles. E só podemos esperar que todo este material bruto encontre uma lapidação digna daquilo que promete - quem sabe no próximo ano as coisas não atinjam o ápice?











