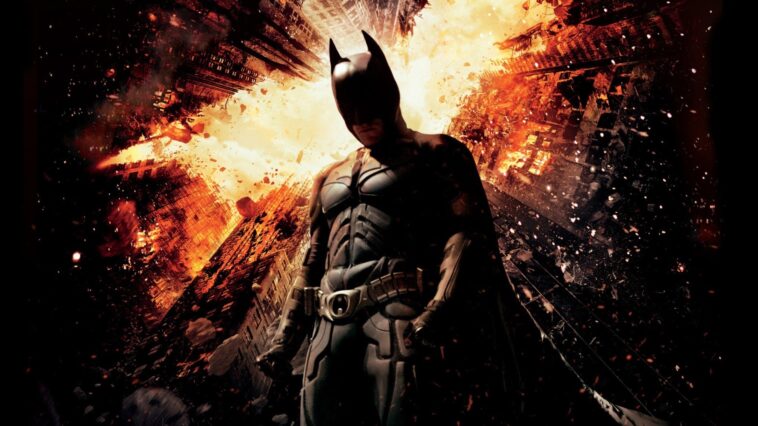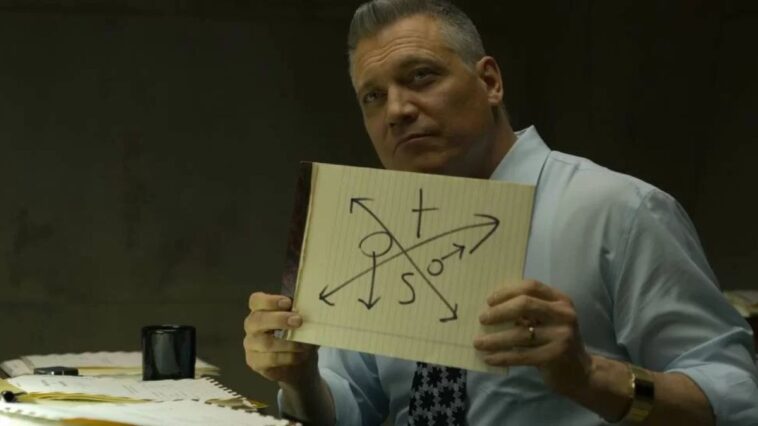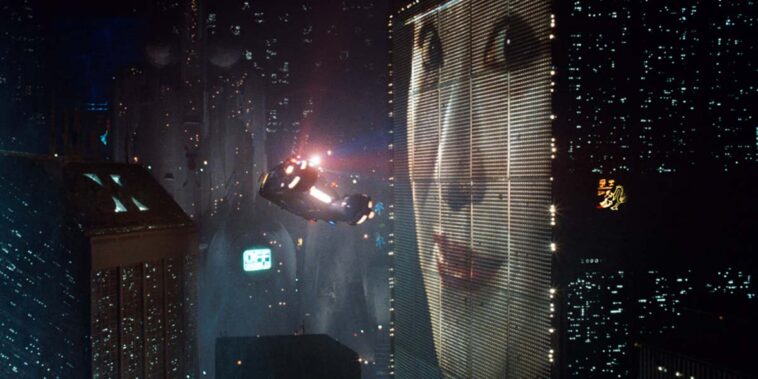Crítica | Batman vs Superman: A Origem da Justiça - O Triunfo de Zack Snyder
Com Spoilers
A Gênese do Novo Blockbuster
Correr atrás do prejuízo. É o que a DC Comics e a Warner fazem nesse exato momento. A Marvel mudou as regras do jogo inaugurado pela Fox com X-Men lá em 2000 e concretizado pela Sony com Homem-Aranha em 2002. A febre dos universos compartilhados teve seu estopim em 2008 com Homem de Ferro resultando na obra máxima vinda com Os Vingadores em 2012. Em apenas quatro anos, a Marvel deixou o mercado baseado em filmes de super-herói de cabeça para baixo. O público comprou a ideia e a estrutura foi feita com certo cuidado mesmo com a oscilação intensa entre a qualidade dos filmes que constituem esse universo em expansão.
A concorrente, vendo os milhões de dólares da bilheteria dos filmes de outra marca, não pensou duas vezes ao dar o sinal verde para construir seu próprio universo compartilhado. Batman vs Superman: A Origem da Justiça é o começo disso tudo. Um blockbuster cru e diferente que chega fazendo história somente por colocar pela primeira vez nos cinemas, os dois maiores super-heróis de todos os tempos em confronto direto. Logo, a pressão em realizar um projeto que tenta fundamentar a origem desse universo diegético, além de contar a história que o título propõe, era tremenda. Um projeto megalomaníaco para um diretor megalomaníaco. Zack Snyder sabe fazer blockbusters como ninguém e tem um currículo sólido especializado em quadrinhos: 300, Watchmen - O Filme e O Homem de Aço.
Considerado o homem certo para este filme – algo que concordo, Snyder demonstra, na maioria das vezes, um ótimo amadurecimento enquanto artista. É preciso coragem em tentar inovar, quebrar paradigmas, misturar diversas HQs respeitando o material original e entender o mercado contemporâneo como a Warner e Snyder vem demonstrando desde O Homem de Aço. BvS é um filme que foge dos padrões, é um advento de um blockbuster digno de nossa era imediatista, rápida, de consumo instantâneo, da pressa e ansiedade. Esse momento realmente merece ser estudado, pois é algo que não estamos acostumados, mas que será apreciado e virará a tendência ao longo dos anos.
Não somos mais espectadores dos anos 1960, mas sim da segunda década do século XXI. Querendo ou não, nossa percepção acerca de cultura, relações sociais e conhecimento mudou com a consolidação da internet e das mais diversas redes sociais a partir de 2010. Esse filme é um retrato disso tudo. Aliás, acredito que seja o primeiro deles em realmente exibir essa tendência dos blockbusters, principalmente os destinados aos fãs de HQs que há muito tempo deixou de ser um nicho restrito.
Por ser um dos primeiros dessa nova concepção de blockbuster, naturalmente o roteiro do irregular David S. Goyer e do muito cuidadoso Chris Terrio pode ter sido incompreendido. Tomando vantagem no lançamento da minha análise, é impossível não notar como o público e a crítica se dividiram em uma “guerra civil” de opiniões. Estranhamente, eu também tinha ficado muito indiferente a esse filme na primeira exibição. Eu não havia entendido direito o que Snyder quis dizer, achei que a aparente falta de desenvolvimento, a falta de problematização falada dentro dos conflitos, a falta de motivação de alguns personagens, do uso alegórico de alguns deles, a falta de coesão, poder de síntese, mensagem fracas eram falhas intrínsecas dentro da narrativa do longa. Eu estava determinado a dar uma nota baixa bem justificada dentro da crítica, porém tudo mudou quando revi o filme. Finalmente tinha notado que se tratava de uma forma diferente de se fazer blockbuster e as falhas que havia citado eram mais problemas meus com o filme do que defeitos do longa em si. Logo, é preciso analisar sobre outro prisma. Um olhar que eu nunca tinha treinado antes, mas que tornou o filme dez vezes melhor para mim.
A forma clara e simples de sacar que o espectador não precisa mais de problematizações já exploradas em filmes anteriores com os mesmos personagens. Não é preciso mais continuar a seguir a receita do bolo já explorada pela Marvel. O público de hoje já sabe quem é Superman e Clark Kent, quem é Batman e Bruce Wayne ou até mesmo quem é a Mulher-Maravilha. O cerne do filme é contar a sua história original inspirada em eventos de quadrinhos clássicos para resultar na origem da Liga da Justiça vinda de uma motivação muito genuína.
O Alienígena
O roteiro, como disse, causa estranheza de início, também por conta da montagem de David Brenner. O primeiro ato se divide em diversos “começos”. Pegando cada sequência, seja a ótima e necessária da morte dos Wayne, do ponto de vista de Bruce no Incidente de Metrópolis, na descoberta da grande rocha de kryptonita no oceano índico, na cena da intervenção de Superman na África. Absolutamente todas funcionam como o começo do longa dando a impressão de uma narrativa fragmentada, porém o que temos de fato é o início de cada narrativa paralela que acompanha Batman, Lex Luthor, Superman e Lois Lane para convergir tudo no terceiro ato. São narrativas que começam independentes e se cruzam em diversos pontos gerando excelentes momentos que, infelizmente, boa parte deles já foram revelados pelos trailers.
Nessas narrativas paralelas, os roteiristas buscam fundamentar melhor seus personagens e justificar as ações deles. Entendemos bem a motivação de Bruce Wayne e seu ódio sempre alimentado pelas ações de Superman. A sequência do incidente de Metrópolis já deixa isso muito claro com a morte de diversos inocentes, incluindo de alguns empregados de Bruce, fora o peso da revelação da morte da mãe de uma garotinha perdida em meio ao terror do caos. Ao partirmos para o arco concentrado na investigação de Lois Lane originário da entrevista com o grupo terrorista na África já depreendemos que o plano de Lex Luthor é bem arquitetado. Ele quer descobrir se realmente há um vínculo entre Lois e Superman o que nós sabemos que há.
Ainda em Lois, partimos para a investigação dela perseguindo fantasmas a partir do fragmento de uma bala disparada pela milícia de Luthor. Ainda que seja um ponto ligeiro e resolvido sem delongas, não creio que faça o menor sentido o uso de um metal sintetizado pela própria LexCorp. Essa sim é uma falha que o texto justifica apenas para Lois ter ciência que é Lex que está por trás de toda a instabilidade social e política acerca da figura de Superman. Entretanto, isso acaba servindo de pouco ou nada para a narrativa, já que nenhuma ação contra Lex é levada adiante pela jornalista. Uma reiteração de fatos que já é óbvia para o espectador, pois acompanhamos também o ponto de vista de Lex Luthor em diversas cenas.
Enquanto o filme investe nesse ponto com Lois, muitas coisas podem parecer apressadas com outros personagens como Superman, Batman e Mulher-Maravilha. De fato, se não entendermos as entrelinhas as situações parecem superficiais e banais, mas o filme trata de assuntos que são bem profundos cabendo ao espectador observar como o desenvolvimento deles se dá na tela. Aliás se você piscar ou se distrair, é bem capaz de ficar perdido nesse pingue pongue. Nisso, o roteiro de BvS é diferenciado de outros blockbusters. Goyer e Terrio não ficam investindo em diálogos cheios de problemáticas para desenvolver os personagens, mas sim apostando em ações, frases soltas, monólogos e em alguns poucos diálogos expositivos.
O arco com o conflito majoritário de Superman se dá também pela intervenção na África, porém os dois falham em explicar melhor o porquê do estopim da revolta contra heróis se dar somente 18 meses depois da destruição de Metropolis, da morte de diversos inocentes e justamente com um incidente em um lugar tão distante e de escopo bem menor. Aliás, o roteiro não se preocupa em responder boa parte das dúvidas deixadas pelo filme anterior: a reconstrução da cidade, o peso dramático e consequência de Superman ter matado Zod e sua relação com o planeta e seus governantes – aparentemente as ações heroicas são bem aceitas até seguir o caos instaurado por Lex.
Mesmo com uma motivação tão rasa para gerar o atrito contra o herói, o conflito é deveras interessante. Ainda temos um super-herói que não se sente realizado, em dúvida consigo mesmo e melancólico, mas que, ao contrário do apresentado em O Homem de Aço, consegue se desenvolver a ponto de abraçar o heroísmo em sua maior escala: o sacrifício em prol da humanidade.
Nisso temos um conflito muito relevante após a explosão de um tribunal no Capitólio quando Superman é intimado para depor, caindo em uma armadilha de Lex Luthor. Falhando em notar a bomba anexada na cadeira de rodas de um ex-funcionário de Bruce Wayne, o homem de aço se encontra em um dilema profundo: ele não reparou por que não estava olhando, desinteressado ou por que não percebeu mesmo? Pode um deus cometer um erro tão estúpido? Pode um deus falhar? A omissão de seu heroísmo é sentida pela opinião pública que já é bombardeada por diversos debates controversos sobre o papel de Superman na Terra – essa sequência é inspirada na repercussão midiática sobre as ações de Batman em O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller e também dos atos heroicos descritos em Superman: Paz na Terra.
Logo, completamente desmotivado e se sentindo culpado, Clark novamente some de Metrópolis. Acertadamente, os roteiristas inserem mais uma sequência de delírio/sonho – todas são absolutamente relevantes, mas isso analisarei depois. Clark reencontra seu pai, Jonathan, que lhe conta uma memória que se assemelha mais a uma parábola sobre uma ação para salvar sua fazenda, mas que dá origem a tragédia do vizinho que perde todos os animais durante uma enchente. Em tentar fazer o bem, acaba provocando outra tragédia alheia a ele. Vejo essa passagem como um belo amadurecimento para Clark. Ele percebe que é impossível agir unilateralmente em favor de todos. Sempre alguém sairá prejudicado com suas ações então terá que aprender a lidar com a impotência em não ser, de fato, um deus, onipresente e onisciente, mas sim um super-homem. Isso muda a forma de como Clark vê o ato heroico ao também procurar conselhos para sua mãe. No fim, segundo Jonathan, o segredo para viver em paz consigo mesmo é viver com quem amamos para acalmar os demônios da culpa e omissão.
Isso é algo bem profundo em explorar dentro de um filme de super-herói. A temática é mais adulta e toca o cerne do sentimento conflituoso que Superman apresentado desde Homem de Aço, um herói por acidente que é forçado a se revelar para a humanidade resultando em uma das piores tragédias desse universo. Finalmente notamos como ele carrega essas mortes nas costas, o pesar de sua consciência, de seu sofrimento com críticas e pontos de vista radicais.
O Morcego
Finalmente evoluindo o personagem de Superman, os roteiristas também acertam a mão ao explorar este novo Batman inspirado na concepção de Frank Miller. Com isso, novamente revisitamos, com rapidez, o episódio do assassinato dos Wayne que é concluído em outra cena de alucinação onde o jovem Bruce é elevado para a luz após cair no poço repleto de morcegos. Ele diz que eles o levariam para a luz, um futuro melhor, no sentido figurado, mas reclama dessa linda mentira – e após diversos filmes, nós sabemos muito bem a razão da constatação. É evidente que esse Batman ainda carrega as chagas de seu trauma de infância, porém aqui são muito mais profundas se comparado ao amadurecimento do Bruce visto na trilogia Nolan.
Os roteiristas deixam claro isso por conta da inserção do sonho no qual Bruce visita o túmulo de seus pais e, acertadamente, Snyder enquadra o túmulo da mãe, Martha, em evidência. Vemos o sangue putrefato escorrer no mármore para então revelar um morcego obsceno e monstruoso, uma criatura infernal atacando Bruce com violência. Conecta diretamente que o ódio cego, o senso de justiça talvez deturpado do herói vem diretamente da injusta morte de seus pais. É sugerido que a monstruosidade esteja consumindo Bruce, pois ela o ataca e ele demonstra temor.
Mais uma vez, a impotência é trabalhada. Veja, este novo, proativo e brilhante Alfred diz a Bruce que o sentimento de impotência, da raiva que torna homens bons em tiranos cruéis. Somente há isso que é exposto ao público através de um diálogo, somente um. Mas o desenvolvimento, mesmo que não dito, está dentro do filme. Alfred é o único do núcleo narrativo do Batman que enxerga a natureza bondosa e protetora de Superman, mas sua frase definitiva não resulta na catarse de Bruce. A impotência se dá na dúvida: como pode um homem matar um deus? Além de também ser um retrato de uma cobrança interna por Bruce não poder salvar seus pais.
Cínico e calejado por vinte anos combatendo a atividade criminosa em Gotham, Bruce crê que ninguém permanece bom para sempre. Suspeita que Superman seja o apocalipse futuro de todo o planeta – medo também refletido pelos dois sonhos/visões: Knightmare que aborda um futuro distópico alternativo inspirado em Injustice: Gods Among Us onde Superman vira um tirano e depois com o aviso de Flash que Lois é a chave para salvar o futuro da humanidade em referência ao universo proposto por Ponto de Ignição. Logo, a motivação vinda do medo de Batman é absolutamente genuína. O descontentamento e desconfiança é um ponto válido que sugere até mesmo que ele foi traído no passado – seria por um Robin? Seria o novo Coringa um antigo aliado do homem-morcego? O filme não responde isso, mas a sugestão está lá. De fato, um evento ruim aconteceu com algum Robin, mais provavelmente Jason Todd por conta de Morte em Família.
O fracasso de Superman salvar as pessoas durante a sessão no Capitólio é o estopim para Batman caçar o alienígena. Como pode um deus declarado não agir quando tem o poder de salvar a todos? A impotência de Batman torna o conflito urgente justamente por conta da impotência de Superman. A relação entre os dois personagens também vai construindo o antagonismo entre eles – tanto no alter ego como figuras heroicas. Clark não aprova os métodos brutais do morcego ao combater o crime de Gotham. Realmente, nesse prisma apresentado pelo discurso do filme, Batman está errado e cego pelo preconceito e xenofobia. Isso inverte os papéis de tirania e responsabilidade vistos em O Cavaleiro das Trevas onde era Superman quem havia traído seus valores. O que quero dizer é que o motivo do confronto dos dois é forte e o estopim faz sentido dentro desse contexto. Se ele não convence o espectador, bom, aí é um problema pessoal e não de estrutura narrativa. Me abstenho de questões subjetivas sobre o poder de persuasão de um roteiro. Para mim foi satisfatório.
Também há que se levar em conta que o plano de Lex Luthor, apesar de parecer absurdo e contar com esse conveniente sobre da ignorância de Superman em detectar a bomba, é bem arquitetado. Novamente, seguindo a tradição em oferecer novas interpretações para personagens já consolidados, temos um Lex Luthor bem diferente. Um jovem empreendedor, reflexo direto de bilionários jovens, algo próprio desta década, do advento da internet e a massificação da publicidade online, descolado e cínico. Luthor quer o mundo em suas mãos, o controle absoluto, um déspota da pior estirpe ao se declarar uma ovelha quando é um lobo.
A motivação de Luthor pode não ser clara, mas ela existe e também se centra, justamente, na impotência enquanto homem, um ser tão pequeno diante do poder magnânimo do kryptoniano, um “trapaceiro” que recebe vantagens naturais por conta de nosso ecossistema. Assim como Batman, Luthor quer matar esse novo deus – ele até chega a propor uma parceria de “negócios” com Bruce na boa cena do coquetel. Sendo essa persona cheia de tiques e maneirismos, repleta de pensamentos perversos, fome de poder e controle, além de ter uma mente matemática e ao mesmo tempo caótica, ele busca quebrar Superman tanto na esfera pessoal atacando a diminuta família dele – Lois e Martha, assim como sua reputação enquanto messias.
Luthor age também na desconfiança também marcada pela sua vida pessoal. O backstory que explora um daddy issue nos revela seus traumas. Embora essa exposição soe gratuita, ela é necessária para conferir mais camadas para este Lex e também elaborar o discurso sobre poder que é deveras interessante se pautando pela célebre frase de Lord Acton “O poder corrompe, e o poder absoluto corrompe totalmente”. Para Luthor, a maior mentira já contada é que o poder pode ser inocente.
O Homem
Algumas coisas nesse núcleo de Lex Luthor ficam emboladas ou mal explicadas. Não vejo razão aparente do governo permitir que ele tenha acesso a nave caída que era a Fortaleza da Solidão em Homem de Aço ou também ao corpo de Zod, já que a senadora Finch não fica convencida com a justificativa em criar uma arma de kryptonita para manter o controle sobre Superman. A argumentação que o filme propõe para permitir que ele crie Apocalipse também é rasteira em demasia, na verdade é uma falha de construção já que a cena destinada às descobertas de Luthor após conseguir acesso ao sistema central da nave é cortada. Essa reviravolta envolvendo o Apocalipse certamente teria sido uma ótima surpresa e sua revelação precoce prejudica o mistério que envolve na criação do bicho – feliz de quem não viu o trailer.
Entretanto gosto muito da chantagem que ele arquiteta para enquadrar o Superman e forçá-lo a batalhar com Batman. Uma variação do jogo psicótico de Coringa em O Cavaleiro das Trevas, mas que remete aos tempos áureos onde Duende Verde agredia tia May e sequestrava Mary Jane. É uma provocação que atinge a carne dessas figuras supremas e sobre-humanas. Os tornam impotentes diante do medo da perda de um ente querido. É clichê sim, mas é algo muito humano e verdadeiro. Luthor consegue deixar um deus aos seus pés.
Dentro de sua maldade insana, Luthor consegue fazer Superman descrer da bondade assim como Batman. Em um diálogo com Lois Lane, a avisando do plano de Lex, Clark conclui “ninguém permanece bom nesse mundo”. Os dois chegam ao mesmo cinismo derrotista. Ambos acabam conectados pela descrença da bondade, além da impotência. A visão otimista e justa do herói cai por terra ao testemunhar um ato de covardia egoísta. Mas nisso, entra o belo que muito julgam como estúpido: a reconciliação entre Batman e Superman se dar justamente em um gesto altruísta em salvar a mãe do oponente. Aliás, Superman preza tanto pela sua identidade que em momento algum ele conta que se trata de sua mãe, mas de Martha gerando a confusão mental em um Batman ainda muito traumatizado pela morte de seus pais. É preciso que Lois, dessa vez com a onipresença sempre bem justificada, conte a Batman que Martha é a mãe do herói. A catarse ocorre nos dois e reconhecimento da possibilidade de heroísmo de cada um é formada. Batman insiste em salvar Martha – também para se livrar de um fantasma do passado, pedindo para que Superman socorra o centro da cidade onde se encontra a nave. Os dois enxergam a bondade, enfim, nas ações deles.
Novamente, dentro do contexto do longa, cabe e é adequado, além de ter uma boa mensagem. O poder de persuasão do roteiro, nesse caso, é subjetivo e entra direto em conflito com as narrativas de todas as mídias em tratar histórias com figuras de poderes absolutos. É simplesmente impossível arquitetar algo que convença todas as pessoas que consumirem tal produto.
Além dos quatro personagens já citados, eles apresentam a Mulher-Maravilha muito bem encaixada dentro desse contexto já gigantesco. Sua primeira cena a coloca em uma relação parecida com a de Selina Kyle com Bruce Wayne em O Cavaleiro das Trevas Ressurge, mas sem a tensão sexual, já que ela esnoba as investidas de Wayne denotando um teor mais leve para um filme tão sombrio. Além disso, ela busca o mesmo conteúdo comprometedor escondido nos arquivos de Lex Luthor que Bruce também está atrás. Ao contrário do que eu pensei na primeira visita ao filme, A Mulher Maravilha não é uma simples alegoria.
Os roteiristas conseguem explorar e conferir alguma profundidade para ela – também muito auxiliada pela boa atuação de Gal Gadot. Novamente, nas entrelinhas, vemos uma personagem que se esconde do mundo, ela não quer mais agir como heroína depois de presenciar um século tão violento como foi o XX. Uma figura também deprimida e impotente com seus traumas que a levaram à reclusão. Porém, tudo muda durante o clímax, quando os heróis se provam verdadeiros heróis, deixam de ser perdidos e relapsos – no caso da Mulher Maravilha Durante o conflito contra Apocalipse, é fácil perceber o tesão que ela sente em lutar, volta a viver, retornar ao espírito de amazona, ser livre. Em seu núcleo também é apresentado os diversos outros heróis que farão parte da liga: Flash, Aquaman e Cyborg – uma cena inserida em um momento completamente inoportuno.
Depois de todo esse discurso, é claro que o filme aborda temas muito relevantes como o heroísmo, a impotência, o reconhecimento de suas limitações e principalmente no que tange à bondade. O roteiro de Goyer e Terrio é bem amarrado contando com algumas falhas no exercício de lógica, além de distribuir muito bem as seletas cenas de ação entre as dedicadas às conversações. Não somente isso, há os diálogos que são perspicazes em sua maioria, em especial os destinados a Lex Luthor, sempre muito caóticos, cheios de metáforas e inteligência. Ou muito refinados, de elegância entre Alfred e Wayne, textos melancólicos e desgostosos que revelam a situação desgostosa de Alfred em apoiar Superman. Em maioria são sempre bem escritos.
As Encarnações
Com o roteiro e Zack Snyder dando margem para diferentes concepções acerca dos personagens, o elenco realmente brilha em BvS. Ben Affleck encarna muitíssimo bem seu Bruce Wayne/Batman, muito rabugento, amargurado repleto de olhares cansados e desconfiados. É uma ótima representação do Batman violento de Frank Miller que mata sem o menor pudor e lança sorrisos sádicos enquanto quebra o braço ou deixa algum oponente paraplégico. Affleck torna seu Batman em um verdadeiro pesadelo dos criminosos, cru, uma força aterrorizante da noite. Como eu gosto muito dessa representação do Miller, do Batman que se diverte em explodir gente, considero nada menos que perfeita a atuação de Affleck. Também por pontuar a coragem, o prazer, o ódio e o medo durante a luta com Superman. Há a apresentação de um lado escapista de Wayne também que envolve o alcoolismo, mas nunca é explorado de fato. Já Jeremy Irons está ótimo com seu Alfred mais novo, ainda muito afiado, leal e sereno. Achei ótima a decisão em tornar ele muito mais do que apenas um mordomo e conselheiro.
Já Henry Cavill parece menos perdido como Superman, afinal seu próprio personagem passa a ser melhor definido pelo texto. Gosto de notar sempre o ar melancólico e destituído de prazer que ele configura enquanto realiza suas proezas. Um herói que não tem felicidade em ser um símbolo, pois ele olha com dúvida e desconfiança diante da fascinação do povo, mas fica indignado com os impropérios vomitados na televisão. Seus únicos momentos de alegria realmente se resumem quando contracena com Amy Adams voltando a viver Lois Lane. O amor entre os dois se torna mais forte aqui com laços afetivos intensos. Ao fim do longa, ao realizar que para destruir Apocalipse, seu sacrifício será necessário, o semblante preocupado vai embora, tomado por leveza e serenidade após dizer que ama Lois. Cavill está conseguindo transmitir muito bem essa riqueza psicológica de seu Superman.
Quem rouba a cena mesmo é o desacreditado Jesse Eisenberg. A concepção de um Lex Luthor caótico, praticamente possuído é muito bem-vinda. O playboy gênio do crime frio e calculista vira um maníaco psicopata expansivo, narcisista e carismático. Como ele mesmo diz, adora reunir as pessoas. E de fato é isso que Eisenberg faz ao entrar em cena. Seu magnetismo em tela é inegável tamanha energia da performance. Diversas encenações arquitetadas também por Snyder acabam conferindo esse ar tão único e exclusivo para ele. Por exemplo: quando coloca uma balinha de cereja na boca de um político, totalmente despojado e destemido ou quando quase afaga a cabeça de Superman, de joelhos, mas sem nunca encostar no alienígena, denotando certo temor. A presença física e expressões faciais são apenas uma parte do que ele apresenta. A dicção e variações na voz nos oferecem o retrato perfeito dessa mente insana que se atropela nas ideias vindas de diversas fontes de cultura. Seus tiques e maneirismos persistem até sua última participação. Um vilão excelente para um ótimo filme.
Na direção, temos mais uma vez o polêmico Zack Snyder, um diretor que já tive o desgosto de conferir um de seus piores trabalhos: Sucker Punch. Porém, no balanço final, gosto muito de diversas obras que ele dirige, além de apreciar a forma que ele concebe para seus filmes e do amadurecimento que vem demonstrando ao longo dos anos.
A começar, eu já dou parabéns para Snyder com a abertura do filme. Poder de coesão e síntese muito apurados para estabelecer o Batman. Finalmente temos uma decupagem que foge da linguagem visual fortíssima feita por Mazzucchelli e Miller em Batman: Ano Um, uma obra máxima de história em quadrinhos que recomendo para qualquer um. Sai o Beco do Crime e entra uma rua sombria, a sessão de A Máscara de Zorro dá lugar à Excalibur – um foreshadowing do sacríficio de Superman ao fincar ainda mais a lança de kryptonita em Apocalipse. O criminoso ameaça a família Wayne e Snyder aproveita diversos pontos de vista, desde o cano da arma até do colar de pérolas. Seu olhar demonstra que Thomas tentou reagir ao assalto, morrendo depois de Martha, observando a vida deixar o corpo de sua esposa. O tiro que mata Martha recebe um tratamento plástico ainda mais delicado e pleno de significado. A arma que enrosca no colar da mulher para então destruí-lo no momento do disparo. Um elemento invasor que desata a união do colar assim como rompe para sempre a família Wayne. Enquanto apresenta essa ótima cena em slow motion com diversos fade outs, há a interpolação de Bruce caindo no poço abarrotado de morcegos até ser elevado para a luz, um senhor da noite, um Drácula paradoxal.
Snyder sempre foi excelente em dizer muito com suas imagens. Essa sequência apenas é a prova concreta disso. Snyder e a Warner ainda mantém o padrão sóbrio e sombrio dentro desse universo diegético. As piadas são mínimas geralmente inseridas com alívios cômicos vindos de Perry White, principalmente. A atmosfera é depressiva e tem um propósito claro. Primeiro, desde a trilogia Nolan temos esse clima mais adulto, as temáticas tendem a ser mais densas e mais profundas provocando o nítido contraste entre os filmes da Dc e da Marvel, algo que acho muito saudável. A distinção entre a concorrência faz o negócio atingir outras parcelas do mercado.
Logo a atmosfera opressiva é pautada muito bem pelo ótimo fotógrafo Larry Fong, parceiro de Snyder de longa data. Tomando as rédeas de Amir Mokri, cinematografista de O Homem de Aço, Fong dá continuidade ao trabalho do antecessor mantendo o grão gordo, altas luzes de backlight – dessa vez com menos lens flares, além do tratamento difuso para a iluminação principal. As cores continuam bem monocromáticas, apesar de quentes e bem contrastadas, tirando os tons frios que sempre acompanham Bruce Wayne durante as visitas ao túmulo e à mansão abandonada de seus pais. Toda a fotografia que acompanha a vida privada do herói é mais intimista, com muitas sombras e tons mortos que frisam o ambiente bucólico estéril e desconfortável. Tudo reflexo de uma personalidade apagada no âmago de Bruce. Com os outros personagens, os tons sóbrios permanecem, mas apenas Bruce que recebe esse tratamento diferenciado na fotografia.
No que diz respeito à movimentação de câmera, Snyder abandou a shaky cam e os excessivos zooms de O Homem de Aço dosando muito bem agora nesta nova obra. Sendo um filme mais introspectivo no que tange o drama, há muito trabalho de câmera estável com movimentos clássicos e sutis, além de enquadramentos convencionais vindo de uma decupagem bastante variada. A riqueza de sua linguagem é notória e sabe bem como criar atmosfera seja de suspense, tensão ou até mesmo de piadas com conotações sexuais seja na apresentação de Batman em numa noite de crime, na excelente cena da audiência no Capitólio ou quando Clark invade a banheira onde Lois se banha, respectivamente.
A Técnica
Onde Snyder erra é na ausência de establishing shots para situar o espectador em novas sequências. Já com a montagem muito problema de David Brenner que recorre diversas para cuts to black onde não há cabimento no uso, acaba colaborando para a impressão de uma narrativa confusa e fragmentada, mas que na verdade só precisava dessas inserções corretas. É absurdo notar um erro tão primário em uma produção desse calibre. Mas Brenner não erra somente aí.
Quando enfim Luthor deixa Superman sem alternativas a não ser lutar contra Batman, Brenner já deixa claro que o Morcego aguarda o kryptoniano. Porém, tirando completamente o senso de urgência da batalha – que é apontada pelo texto pela razão da mãe de Clark correr risco de morte, Brenner exibe cenas dedicadas à Mulher-Maravilha descobrindo outros meta humanos – uma cena que funcionaria como pós créditos, além de colocar outras envolvendo Lois Lane. Isso quebra completamente o ritmo de antecipação frustrando o espectador por conferir um ar ridículo ao lembrarmos que Batman aguarda seu oponente por vários minutos.
Além disso, na cena do velório de Superman, a montagem também falha com diversos flash forwards que caberiam mais como um epílogo posterior a cena propriamente dita. Não faz sentido que a forma do filme acabe prejudicando um momento tão emocionante quanto o do enterro do super-herói. Ao menos a interpolação para elaborar o contraste do velório de Clark Kent e Superman é bem-feita e eficiente.
Já a ação é espetacular, não outra palavra para descreve-las. Snyder acerta a mão filmando todas as sequências com clareza nunca te deixando perdido no meio das perseguições ou pancadarias. As coreografias que tangem lutas envolvendo o Batman contra capangas são viscerais e cruéis. Ele aproveita diversos gadgets e veículos do herói para inserir na ação. Me arrisco a dizer que essas cenas de ação chegam até a ser melhores do que as sequências principais de luta.
Uma das melhores envolve justamente um uso mais restrito de CGI, recurso que Snyder sempre usa com eficiência em prol de cenas arrebatadores, durante a sequência do Knightmare, onde Batman luta contra a milícia armada de Superman. A transformação da fotografia é notada dando lugar a tons beges e ressecados, além do uso de um plano sequência muitíssimo bem orquestrado tanto na coreografia da ação que é divina quanto da câmera. Tudo isso rodado em IMAX. Já aviso que quem conferir a versão convencional sairá prejudicado, pois o crop do cinemascope corta parte da ação que se concentra no topo e na base da imagem. O jeito correto de apreciar este filme é no formato IMAX, lembre-se disto.
Na antecipação para o confronto entre os dois, Snyder arquiteta uma sequência de treinamento com Bruce marretando pneus entre diversas outras coisas, além de exibir Alfred confeccionando a lança de kryptonita e outros armamentos. Porém, estranhamente, não há nenhuma passagem dedicada à confecção da armadura que Batman veste para a batalha o que me deixou surpreso ao ver o personagem a vestindo quase que imediatamente após a sequência. Por sorte, o figurinista Michael Wilkinson consegue tapar esse buraco na narrativa ao detalhar diversos arranhões e marcas cravadas na armadura inferindo batalhas anteriores. Aliás, o trabalho dele é exemplar ao longo do filme confeccionando uniformes bem interessantes como o do Knighmare ou ao adaptar dos desenhos de Frank Miller, além do vestiário menos fantástico para os alter egos dos personagens.
Já sobre a luta entre os dois super-heróis, acredito que tenha sido satisfatória e com duração adequada. Na hq de Frank Miller o confronto dura exatamente sete páginas. Ler O Cavaleiro das Trevas pela primeira vez e presenciar essa luta é algo que nos deixa sem palavras. A luta do filme conseguiu reacender minhas melhores memórias que eu tinha dessas páginas, minha criança interna vibrava a cada soco desferido em Superman e ria quando Batman se amedrontava quando o alienígena se recuperava dos efeitos da kryptonita. A estrutura da batalha até lembra uma fórmula de vídeo game, mas a encenação ajuda bastante a ignorar a “mecânica” do conflito. Snyder aprendeu com O Homem de Aço a não alongar demais as batalhas, mas gostaria de ter visto mais um pouco da cena destinada para esse conflito.
O mesmo ocorre na luta contra Apocalypse que possui duração adequada. Nessa sequência Snyder toma referências diretas de O Cavaleiro das Trevas para pegar planos belíssimos de um Superman debilitado pela explosão atômica e retomando gradualmente sua força pela absorção da luz solar ou com outros muito ligeiros que capturam Batman fugindo da visão laser de Apocalypse momentos depois de um raio cortar o fundo azul do enquadramento. Todos os personagens têm um papel muito óbvio durante a luta e Snyder sabe como aproveitar isso em diversos momentos. Já no começo com o excelente plano que reúne a Trindade da Dc Comics. É um money shot impossível de ficar indiferente. Um momento emocionante que preenche de alegria o coração dos fãs que puderam celebrar tal reunião tão especial pela primeira vez nos cinemas. As pessoas simplesmente vibram com a contemplação de seus heróis favoritos.
Nesse momento, da salvação de Batman pelas mãos da Mulher Maravilha, somos presenteados com o estupendo tema que Hans Zimmer e Tom Holkenborg criaram para a amazona. Uma melodia contagiante da guitarra aliada a percussão selvagem de tambores diversos. Aliás, boa parte da trilha musical é estupenda. Temas fantásticos como Beautiful Lie que abre o filme ou The Red Capes are Coming como o hino de Luthor que elabora um contraste perfeito entre sua figura frágil e insana com a música tão potente carregada de graves dos pianos e violoncelos intermitentes para dar lugar a outro tema sistemático e lógico de uma mente que não para de trabalhar até chegar em um alegro de violinos saltitantes. Já a escolhida para arrancar lágrimas é a bela e sofrida This is My World que vai para as alturas durante a morte de Superman configurando ainda mais o bom drama que a cena apresenta.
Mesmo tendo um papel fundamental, Snyder não sabe o que fazer bem com Batman durante o clímax. Há um plano onde o herói contempla Superman e Mulher Maravilha, dois seres poderosíssimos, encarando a besta de frente, de poder igual para igual. Mesmo sendo um ótimo plano que revela a pequenez de Batman diante um conflito de proporções bíblicas, acredito que era necessário aumentar um pouco mais sua duração para transmitir a mensagem com clareza. No fim, a ação de Batman se resume a ficar fugindo das investidas de Apocalypse.
Com os outros dois heróis, a ação se desenrola muitíssimo bem. É violenta, pesada e cheia de energia. Aliás, o design de Apocalypse consegue nos transmitir que o bicho absorve todo tipo de energia por conta dos pontos amarelados/alaranjados que se acendem toda vez que ele é espancado ocasionando em explosões para descarregar a carga que ele acumula na luta. Até que enfim caminhamos ao fim do conflito com o sacrifício pleno de Superman.
A Fé
A catarse dele entender a necessidade de dar cabo ao demônio é exemplar. Um sacrifício extremamente altruísta para salvar toda humanidade, sofrendo da fraqueza causada pela kryptonita e morrendo empalado pela mão da aberração. Nisso, temos o enquadramento mais belo de todo o filme que fecha a sequência. Batman embala o corpo do mártir com sua capa direcionando ele com delicadeza até o chão. Lois corre para abraçar sua falecida paixão, Mulher Maravilha se posiciona em pé no canto direito do quadro enquanto Batman lamenta no canto esquerdo. Acima dele, destroços da batalha formam dois crucifixos. Tudo enquadrado para se assemelhar ao episódio bíblico da Deposição da Cruz/Cristo. Além da fotografia de Fong utilizar tons barrocos diretamente inspirados pelas obras de Anthony von Dyck, um dos artistas barrocos que mais representou a Deposição da Cruz, além do gótico van der Weyden.
Para quem já viu O Homem de Aço sabe muito bem que Snyder utiliza representações visuais para denotar a figura de Jesus Cristo em Superman. Isso vai desde a idade, 33 anos, o caráter messiânico e até mesmo quando ele volta para Terra ao abandonar a nave de Zod de braços abertos e pernas unidas – como Jesus crucificado.
Em BvS as coisas são mais sutis e elegantes, além te terem conotações dentro do texto. Segue então a interpretação de cada um desses personagens seguindo esse prisma que Snyder elabora com tanto cuidado dentro desses dois filmes.
Aqui, Superman continua a ser como a representação de Jesus Cristo, passando por diversas provas vindas de Lex Luthor. No momento de sua morte, a lança de kryptonita está presente assim como a lança de São Longino. Elas atestam a morte do messias. Lois Lane, a única que segura o corpo de Superman, demonstrando verdadeira devoção, representa a figura de Maria Madalena, quem demonstra e aflora o que há de mais humano no Superman, bem como os poucos relances que temos de Jesus na Biblia.
Já Batman representa Pedro nessa adaptação da trindade. Como a figura bíblica ele duvida do messias até seu embate direto, onde através de um milagre ele conhece a verdade – pode ser considerado no filme através da cena em que por milagre ele lembra de sua família, sua mãe e do amor que é aquilo que o Superman tenta passar, mas isso fica aberto para interpretação. Como Pedro ele também se posiciona como pedra fundamental daqueles que levarão o ideal de Cristo, tornando-se responsável pela criação da Liga da Justiça e de juntar os outros apóstolos. Na cena da morte do Superman ele também pode representar José de Arimatéia, que antes também descrente romano, se torna cristão e reclama o corpo de Jesus ou até mesmo João Evangelista, um de seus apóstolos mais fiéis, que toma a responsabilidade de cuidar da mãe de Cristo (Batman salva Martha Kent) e também ajudar Pedro na missão de pregar a palavra de Jesus (formar a Liga da Justiça).
A Mulher Maravilha, narrativamente, representa o Espírito Santo. Tão poderosa quanto Cristo (até por ser uma das três pessoas de Deus), ela aparece e resolve permanecer como heroína após a morte do Superman, assim como Jesus quando ressuscita deixa o Espírito Santo como consolador (e nisso a figura feminina tem grande impacto). Ela permanece ao lado direito na cena da morte porque representa o poder de Deus – há um versículo que diz que na mão direita de Deus existe domínio e poder. Na representação plástica do enquadramento, pode ser considerada Maria mesmo que distante do corpo do messias.
Com Lex Luthor temos a representação de uma possessão, bem parecida com a de Judas. Sua motivação é algo deturpado daquilo que o Superman acredita, bem como Judas que crê fielmente que o dinheiro ajuda muito mais que o amor que Jesus prega (mas no fim, ambos querem ajudar). Ele também faz as vezes de Lúcifer ao querer demonstrar sua soberania sobre Superman. Sua criação, Apocalypse, é a deturpação da vida criada por Deus – quando se junta o humano ao divino em algo que não foi criado diretamente por Ele. É uma coisa do antigo testamento, quando anjos caídos tinham filhos com humanos, gerando gigantes e abominações.
Até mesmo a senadora Finch possui um papel representativo tomando forma como a corte e lei romana da época de Cristo. Bem como o povo protestando que faz referência ao fato de Cristo ter vindo para os Judeus, mas os mesmos não crerem no fato dele ser o messias.
Querendo ou não, a narrativa e o poderio plástico vindo direta ou indiretamente da Bíblia constrói um belíssimo conteúdo para esse filme. A decisão em lançá-lo justamente no feriado da Páscoa, celebração da ressurreição de Cristo, é de uma perspicácia ímpar. Além de ser um filme de ação que adapta principalmente as hqs O Cavaleiro das Trevas e A Morte de Superman, BvS também se trata de um filme adequado para a data, já que o longa termina com a ressurreição de Superman.
Batman vs. Superman é um longa que certamente dividirá opiniões tanto pelo desejo de muitos do que ele poderia ter sido quanto na celebração do que ele de fato é: um blockbuster simplesmente revolucionário e, portanto, talvez, incompreendido. Os tempos definitivamente são outros e os filmes não precisam mais bordar infinitas vezes conflitos que já conhecemos. O discurso visto aqui nas entrelinhas ao tocar temas tão pertinentes é muito bem-vindo, mas cabe ao espectador conectar e reconhecer seu desenvolvimento visto em tela. O longa trata de coisas relevantes e consegue estabelecer seu universo cinematográfico em apenas um filme muito bem fundamentado, por vezes prejudicado pela montagem descuidada.
Para o divertimento geral, é muito recomendado. Há o grande espetáculo feito com a qualidade digna de uma produção dessas. Os fãs dificilmente sairão decepcionados ao ver seus heróis favoritos lutando e se reconciliando para enfrentar um inimigo comum, além de serem constantemente presenteados com a infinidade de referências que o longa possui. Snyder respeitou o material e construiu uma obra relevante que pode mudar o jogo do mercado desses filmes. Ele certamente pode não te conquistar na primeira visita, mas com uma segunda chance, é capaz de te deixar apaixonado pela obra. Aconteceu comigo, algo que eu julgava crer impossível.
Dentre tantos motivos que já tenho para amar essa arte, acabei conhecendo mais um agora com meus vinte e um anos de idade: a capacidade de um filme conseguir te conquistar e tocar suas emoções mesmo depois de uma primeira recepção tão fria e indiferente como a que eu tive. Uma reviravolta imprevisível, digna dos melhores roteiros hollywoodianos, que aconteceu somente com um dia de diferença entre uma visita e outra.
Eis aqui a verdadeira magia do cinema.
Batman vs Superman: A Origem da Justiça (Batman v Superman: Dawn of Justice, EUA - 2016)
Direção: Zack Snyder
Roteiro: David Goyer, Chris Terrio
Elenco: Ben Affleck, Henry Cavill, Amy Adams, Jesse Eisenberg, Jeremy Irons, Gal Gadot, Laurence Fishburne, Diane Lane, Kevin Costner
Gênero: Ação, Aventura
Duração: 151 min
https://www.youtube.com/watch?v=RtFFXs3nN40
Leia mais sobre DC
Crítica | Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge - Um encerramento glorioso
Mesmo com setenta e três anos de carreira, Batman continua um ícone cultural da atualidade. O herói, inspirado em Zorro e The Shadow, já havia passado por diversas fases. As historinhas leves de seu início, as bobas e infantis com seu eterno sidekick Robin, as nutridas de veia cômica e ridícula como o seriado protagonizado por Adam West até chegar aos anos oitenta onde, subitamente, toda a atmosfera de seu universo sofre uma mudança absoluta.
Batman passa a ficar ainda mais sombrio e violento em um mundo pessimista e sem-esperanças – Frank Miller foi um dos responsáveis em deixar o herói mais adulto. Seus vilões ficam mais cruéis e ameaçadores pondo em risco toda a Gotham e atinge diretamente o espírito do herói ao colocar as pessoas mais queridas para Batman em perigo. Ele nunca teve tanto trabalho para combater o crime como as ocorrências fantásticas dos anos oitenta. A vida cinematográfica de Batman começou bem graças aos esforços góticos de Tim Burton. Entretanto, o herói viria sua sorte mudar em 1995 com o “ilustre” Batman Eternamente e o fim de sua fenomenal série animada.
Joel Schumacher conseguiu devastar a mitologia do herói com sua visão clubber colorida. As suas proezas já haviam começado com Eternamente, mas a pérola é mesmo o inescrupuloso Batman & Robin. Todavia, esses tempos sinistros estavam para mudar. Em 2005, a Warner apostou em reboot da franquia ao colocar Christopher Nolan como chefe do projeto. A aposta foi mais que certeira. Com Batman Begins, Nolan devolveu o status que o herói merecia. Presenteou os fãs do morcego e trouxe mais leitores para suas HQs.
O sucesso absoluto viria mesmo com O Cavaleiro das Trevas e o Coringa de Heath Ledger. Depois de quatro anos de hiato, Nolan volta para encerrar sua trilogia exemplar contando com a experiência que adquiriu nas filmagens espetaculares de A Origem. O resultado não poderia ser melhor e já deixo aqui meus parabéns pelo o que concedeu aos espectadores. Serão poucos os que não gostarão desta obra.
São tempos de paz em Gotham City. A máfia está encarcerada e os lunáticos foram aprisionados em Blackgate junto com os demais criminosos. Batman não é mais necessário há oito anos carregando a culpa da morte de Harvey Dent.
Sempre há uma calmaria antes da tempestade.
Bruce Wayne aposentou o manto e agora vive deprimido, com muitas dores graças as suas antigas aventuras noturnas. Sua rotina começa a mudar a partir do momento em que conhece a traiçoeira Selina Kyle, o que já lhe começa a despertar ânimos que há muito tempo estavam adormecidos.
A tempestade se aproxima.
Bruce Wayne começa a ter seu mundo virado de cabeça para baixo a partir do momento em que o amigo de Batman, o comissário James Gordon, é gravemente ferido por uma ameaça nunca antes confrontada pelo herói.
A tempestade começa.
Bane se revela para Gotham e coloca seu plano em prática. Bruce percebe que chegou a hora de Batman voltar, mas não leva em conta que a ameaça que esse vilão traz consigo será seu maior desafio. Com a ajuda do esquentado detetive John Blake, Batman lutará com todas as suas forças físicas e mentais para impedir que o caos atinja Gotham mais uma vez.
The Fire Rises
Christopher Nolan havia dito que não voltaria a filmar um terceiro Batman se o roteiro não fosse melhor ou tão bom quanto o de O Cavaleiro das Trevas. Isso não foi um obstáculo para a criatividade dele, de seu irmão, Jonathan Nolan e de David S. Goyer. E realmente Nolan cumpre o que promete. Desta vez, ele assume descaradamente as influências das histórias em quadrinhos que inspiraram sua obra. Os fãs do Cruzado Encapuzado reconhecerão passagens sutis de Batman: Venom, Ano Um, O Filho do Demônio, O Longo Dia das Bruxas, Vitória Sombria, A Queda do Morcego e O Cavaleiro das Trevas e de até mesmo do último game do herói, Arkham City.
Nunca antes em um roteiro desta trilogia, os Nolan utilizaram tantas referências como neste caso para o deleite e alegria dos fãs. Assistir a este filme com certa bagagem de conteúdo torna a experiência ainda mais gratificante. Mas a maior influência vem dos outros dois filmes da série. O trabalho em juntar essas três histórias em uma só é incrível. A forma que Nolan faz ao dar vida a frases que foram proferidas há sete anos é sublime. Nunca havia visto algo desta forma. Agora fica claro o porquê dos roteiristas terem repetido tantas vezes os ditados em seus filmes anteriores.
A história não peca. Ela é tão excitante e cheia de reviravoltas como qualquer outra da trilogia. Mas, infelizmente, é demasiado previsível incluindo o desfecho de cada personagem – principalmente para quem acompanha de perto as comics de Batman. Por exemplo, no primeiro podcast do site, descrevi quais rumos o roteiro ia tomar e acertei em quase tudo. Detalhe, que gravei isto em janeiro e já havia discutido com alguns amigos sobre o mesmo assunto. Mas, nesse caso, não achei essa previsibilidade negativa para a experiência completa. É gratificante ver situações tão especiais sendo retratadas com respeito na tela. Outro fator que prejudica o roteiro é o fato dele ser autoexplicativo em excesso o que não combina com o jeitão subjetivo de Nolan.
Para uma história ser verdadeiramente boa, é preciso que tenha personagens excelentes e isso tem de sobra aqui. Alguns aspectos que envolvem isso, certamente irão incomodar bastante gente. Os personagens tem um tempo bem rigoroso em tela graças à adição de novos coadjuvantes. Até mesmo Bruce Wayne não tem tanta participação como nos filmes anteriores. Coadjuvantes antigos são colocados em escanteio como Lucius Fox, Alfred e Jim Gordon – Gary Oldman e Morgan Freeman fantásticos como sempre, para dar mais ênfase em Bane, John Blake, Miranda Tate e Seline Kyle.
Personagens que já marcaram presença na franquia são mencionados, mas não espere encontrar qualquer referência ao Coringa. Christopher Nolan cumpriu sua promessa em respeitar a memória de Heath Ledger parecendo que o personagem nunca existiu naquele universo. Em termos de antagonista, Bane não fica muito para trás em comparação ao Coringa, mas é impossível superar uma atuação tão icônica como foi a de Ledger.
Tom Hardy está excelente como Bane. Com certeza, Bane ingeriu proteínas de qualidade, tirou seus músculos infláveis, ganhou massa encefálica desde Batman & Robin e, realmente, virou um vilão memorável. Toda a atuação de Hardy se concentra em sua magnifica expressão corporal. Desde O Artista, não via um ator fazer um trabalho tão ímpar no cinema como este cara fez. Perceba o psicológico conturbado do vilão. Ele tem um jeito muito paternal com as pessoas com que se relaciona – isso é explicado posteriormente no longa. Essa atmosfera psicológica do personagem é definida com simplicidade. Com algumas frases, o roteiro define uma dimensão dramática única para Bane e isso é extremamente difícil. Enquanto a atuação de Hardy proporciona o ar ameaçador e calmo – Bane não é o tipo de vilão que perde a cabeça, o tom orgulhoso e narcisista do personagem, o roteiro complementa outras características como uma frase solta envolvendo certa questão sobre a voz do antagonista.
Aliás, a dicção de Hardy é fenomenal. No início, a voz do personagem pode causar estranhamento no espectador, mas logo vai embora. Sua voz, de alguma maneira, reflete a dor física agonizante que sente mesmo usando a máscara anestésica.
A Selina Kyle de Anne Hathaway não é a mesma Mulher-Gato de Michelle Pfeiffer. Isto é fato. Enquanto Pfeiffer era idêntica a Selina Kyle das hqs, a atuação de Hathaway se adequa a atmosfera realista da trilogia. Ou seja, sem lambidas na cara de Batman neste caso. Pelo que Hathaway já havia mostrado em outros filmes, até que ela se supera aqui. Sua atuação é boa, mas nada que seja incrível. Ela cria uma personagem que se adapta ao meio. Uma Selina inteligente, furtiva, rancorosa, silenciosa e fatal. Ou seja, a essência da Mulher-Gato foi mantida, mas a forma de agir é diferente. Não existe aquela dualidade na personalidade de Selina Kyle. Ao contrário do Bruce Wayne de Christian Bale, Hathaway não distingue Selina de seu alterego, a Mulher-Gato. Achei que isto torna sua atuação um pouco mais desinteressante, mas ainda assim sua versão extremamente traiçoeira da Catwoman é memorável. Por mais incrível que pareça, o roteiro nunca menciona Selina como Mulher-Gato. Apenas algumas frases bem canastronas como “O gato comeu sua língua?”, são mencionadas para identificar a vilã/heroína. Além disso, as motivações da personagem não são tão marcantes como as da Catwoman de Michelle Pfeiffer.
O roteiro desenvolve Bruce Wayne de maneira brilhante. Esta é a história que dá mais destaque para Bruce do que para Batman. E isso é tão bem retratado por Christian Bale que surpreende até mesmo quem não gosta do ator. Aqui, várias páginas de O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller, servem de inspiração para os roteiristas. Wayne agora é um homem angustiado e infeliz. Mas seu espírito retorna quando encarna o vigilante noturno mais uma vez. Entretanto, as atitudes do herói estão diferentes. Batman está mais visceral, violento neste filme. Menos cauteloso, logo mais vulnerável deixando uma dualidade interessante para a interpretação do espectador. Seguindo essa linha heroica, Joseph Gordon-Levitt torna seu personagem um dos mais legais da série inteira. Não falarei muito sobre ele, só digo que é uma mistura bem inteligente de alguém marcante das HQs.
A única atuação que não cumpre o que promete é a da incrível, mas mal aproveitada, Marion Cotillard. Ela é satisfatória em boa parte da projeção, entretanto, em sua última cena, a atriz chuta o balde e “homenageia” a série de Batman protagonizada por Adam West. Sim, aquela com as atuações mais que caricatas. O melhor do elenco é Michael Caine. O ator guardou seu melhor para o final – presença digna de Oscar, meus amigos. Sua atuação tem um impacto tão forte que é impossível não se emocionar nos diálogos que ele tem com Bruce Wayne – aliás, esses são os melhores que ocorrem no filme.
When Gotham is ashes, you’ll have my permission to die
Christopher Nolan aprendeu muito com A Origem. Aliás, o diretor criou muito em apenas um filme. E como toda essa experiência repercutiu no último Batman? Muito bem! Nolan concebe cenas que entrarão para a história. Apesar de o filme começar um pouco – mesmo com a incrível cena do avião, Nolan joga muitas coisas fantásticas na tela a partir dos quarenta minutos de projeção. A ação é intensa com cenas monumentais, épicas que vão acelerar seu ritmo cardíaco – exatamente nos moldes de A Origem.
Entretanto, mesmo com capacidade produtiva mais desenvolvida, a técnica de Nolan parece ter regredido um pouco. Existe um erro tão crasso e primário que é difícil de acreditar que esteja ali. Em determinada cena, Bane faz uma “visita” a bolsa de valores de Gotham. Quando o personagem chega, o sol está a pino. Tudo muito bem iluminado. Depois de oito minutos, quando muda a cena e começa uma perseguição que lembra muito as de Batman Begins, subitamente anoitece. Mas não é um entardecer. O dia virou um breu noturno em apenas alguns minutos. Como vocês sabem, Gotham City é famosa por suas mudanças súbitas de dia para a noite. Por mais que a licença poética permita algo desses – afinal, Batman tem de ressurgir das trevas, não dá para aceitar um erro tão severo de continuidade – a última vez que vi algo parecido foi no estúpido Conan: O Bárbaro.
Logo no começo, quando Bane surge pela primeira vez, a edição sonora não faz um trabalho exemplar porque a voz do vilão sai tão nítida que destoa totalmente da ambiência sonora que a mixagem cria para a cena. Isso não acontece novamente no restante do longa. Ainda bem. Para concluir as mancadas de Nolan, temos um corte seco durante uma correção de foco. Isso não teria problema nenhum se eu tivesse visto a cena pela primeira vez, mas essa cena foi utilizada em quase todos os trailers sendo que a montagem é feita de maneira apropriada. Se existe uma versão do corte mais bem acabada nos trailers, por que não usar na versão final? Inexplicável.
Apenas esses três aspectos da direção que me incomodaram. De resto, somente aplausos para Christopher. O desenvolvimento que conseguiu em termos tecnológicos e artísticos é inacreditável. Ele revolucionou a maneira como filmes de herói eram feitos e não somente isso, mas também a sétima arte. Inserir Batman nesse universo realista foi um acerto fantástico. Após todos esses anos de trilogia, é interessante notar como os vilões das HQs foram retratados nesse universo. Outro fator único é perceber a evolução de Gotham e de sua polícia. Nos primeiros filmes, a cidade se acovardava enquanto o crime reinava absoluto. Nesse, o crime é combatido de peito aberto. Batman conseguiu transmitir seu legado.
Repetindo sua parceria de muitos anos com Nolan, Wally Pfister entrega outro trabalho fotográfico sublime. O cinematografista combina as cores de sua iluminação bem elaborada com os estados de espírito de Bruce Wayne. Pfister também trabalha com luzes estroboscópicas em determinado momento – e, sim, isso merece destaque. São poucos os diretores de fotografia que trabalham com esse tipo de iluminação em filmes extremamente comerciais. Poderia escrever um artigo só comentando sobre a fotografia do filme, mas serei breve.
Talvez o filme careça de metáforas visuais, mas as que existem são fenomenais sendo que uma delas é de uma sensibilidade que traz um grande sorriso ao rosto de quem assiste. Também perceba como o diretor dá ênfase ao Rise do título jogando com muitas imagens inteligentes. É a plataforma que sobe, o Morcego que plana entre os prédios, o uniforme que surge do solo, é o Bruce Wayne que renasce após oito anos de aposentadoria. Outro mérito de Pfister e Nolan é a capacidade que eles tiveram em encher 70 mm de película IMAX com inúmeros elementos, mas sempre mantendo o equilíbrio visual na composição. As cenas captadas nesse formato fazem o filme pulsar. É simplesmente impressionante. Diferente de tudo o que você já viu. Existe uma magia única, indescritível que faz você se apaixonar ainda mais por essa arte tão especial. Nolan tem razão. Esse filme não seria o mesmo filme se fosse captado em 3D. Às vezes, ir contra a maré prova ser o caminho mais correto.
E o que mais não poderia faltar em um filme tão emocionante como este? Uma trilha de Hans Zimmer, ou melhor, A trilha de Hans Zimmer. O mestre compositor dá um baile sonoro. É a melhor trilha sonora do ano até agora com folga. Essa sim vale a pena comprar para escutar em casa. Com a potência astronômica das caixas de som dos cinemas IMAX, novamente outra magia acontece. Para se ter uma ideia de tão alto que é som, o subwoofer faz as cadeiras vibrarem. O som ressoa dentro do seu corpo, em seu coração. Por ser mais brega que possa parecer este parágrafo, o efeito é fenomenal! É você dentro do filme – literalmente. O mais impressionante é que eu já havia ido ao IMAX quatro vezes antes, mas nunca senti algo parecido com a experiência obtida nessa sessão.
Zimmer cria uma música que pulsa. Ela vai e vem. Some e Ressurge. Ela dá outra conotação para as cenas mais agitadas. Faz com que você vibre junto do filme acelerando seu ritmo cardíaco. Torça pelo herói enquanto você se inquieta pela cadeira. O suspense do clímax deixa o espectador apreensivo com o suspense e emociona com final. Mesmo com os violinos, tambores e trombones violentos que sempre mandam a música para frente em um ritmo frenético, Zimmer é capaz de criar composições mais suaves como a música tema de Selina – aliás, ela tem tudo a ver com a personagem, repare. O piano também é utilizado em algumas músicas para conferir um tipo diferente de emoção. Algo parecido com um pesar melancólico que, acredite, irá te afetar em algum momento do desfecho do longa. O cântico estranho que marcou os trailers e que até virou piadinha do Aragão, é inserido de maneira brilhante na trama do filme. Para quem não entende o que é dito, “Deh-Shay, Deh Shay, Bah Sah Rah. Bah Sah Rah” são as frases proclamadas com ferocidade nas canções.
Nolan joga com a ambiência sonora com maestria. O filme é barulhento sim a ponto de me deixar com uma tremenda dor de cabeça – a melhor que eu já tive. Mas em alguns momentos, o diretor corta a trilha sonora e mergulha em um mar de confiança em sua produção. A melhor luta da saga, entre Bane e Batman, é seca. O espectador só escuta pancadas fortes, gemidos de dor, carne contra carne. Visceral! Fora o modo que Nolan dirige essa cena também é genial. É violência com elegância. Em outro momento, no diálogo entre Alfred e Bruce, o diretor corta mais uma vez a trilha sonora. A cena te envolve do mesmo jeito. É a força comprovada da atuação e do roteiro.
A Ascenção do Cavaleiro das Trevas
“Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge” foi o filme que mais me agradou de toda a trilogia. Não creio que isso vá acontecer com todos que assistirem a este longa brilhante. Mesmo que contenha algumas falhas e seja um tanto excêntrico em alguns momentos, tenho certeza de que muita gente sairá dos cinemas satisfeita com um grande sorriso no rosto. Meu principal conselho é que se vá assistir a versão em IMAX. As imagens feitas por Pfister e Nolan são estonteantes e quase metade do filme se passa nesse formato.
O impacto certamente não será o mesmo, tanto no visual ou no sonoro, se for visto em cinemas de 35 mm. A história é muito interessante, mas previsível, contando com inúmeras referências do universo do Homem-Morcego para o delírio dos fãs. Bane não consegue ser um Coringa de Heath Ledger, mas é um vilão bem carismático que desperta a curiosidade do espectador em descobrir um pouco mais de seu passado. Sua psicologia é totalmente diferente conseguindo ser infinitas vezes mais anarquista que o Coringa.
Christian Bale e Michael Caine entregam as melhores atuações de toda a série. Certamente deixarão saudades nos futuros filmes da franquia. Anne Hathaway também não desaponta como a Mulher-Gato do universo realista de Nolan – não espere ver algo inspirado em Michelle Pfeiffer aqui. O diretor entregou um trabalho que marcará essa fase contemporânea do cinema. Aqui, a mistura de imagens e sons é praticamente perfeita levando o espectador a se emocionar no cinema como há muito tempo não se via. E a trilha sonora de Hans Zimmer é só a cereja do bolo. As músicas desse filme são as melhores da série inteira assim como todo o trabalho de sonorização.
Nolan conseguiu mais uma vez e entregou um desfecho digno para o herói que agradará tanto fãs como espectadores ocasionais do herói das trevas. Só resta imaginar o que a Warner pretende fazer com o futuro dessa série bilionária, pois tenha certeza que não será a última vez que veremos Batman nas telonas nesse universo tão rico que Nolan criou. Enquanto isso deleite-se com o último filme do herói.
Deixe que ele ressurja daqui uns anos. Ele é o herói que o cinema merece, mas não o que precisa agora. Então vamos assistir a essa despedida, pois o filme cumpre mais do que havia prometido. Alguns irão condená-lo, mas ele não está aqui para ser um blockbuster “vingador”. É um protetor zeloso de uma arte fantástica. Uma arte capaz de emocionar até o mais rabugento dos espectadores. É algo que ficará marcado pelo resto da eternidade em diversas listas de cinéfilos verdadeiramente comprometidos com o cinema. São filmes como esses que compõe a trilogia que nos atraem de volta a boa e velha sala silenciosa e iluminada mesmo quando são comercializados “cinemas caseiros” nas lojas. São filmes como esse que nos fazem acreditar em uma arte que parece perdida em meio a tantos besteiróis americanos. Ele é um dos filmes que protegem a insígnia de qualidade do entretenimento que tantos querem e tão poucos têm.
Ele é o Cavaleiro das Trevas da sétima arte.
Batman: O Cavaleiro das Trevas Ressurge (The Dark Knight Rises, EUA - 2012)
Direção: Christopher Nolan
Roteiro: Christopher Nolan e Jonathan Nolan
Elenco: Christian Bale, Tom Hardy, Anne Hathaway, Michael Caine, Morgan Freeman, Gary Oldman, Joseph Gordon Levitt, Marion Cotillard, Ben Mendehlson,
Gênero: Aventura, Ação, Drama
Duração: 164 min
https://www.youtube.com/watch?v=9ozuNGDDGM0
Leia mais sobre Christopher Nolan
Crítica com Spoilers | Liga da Justiça - As Consequências da Mordaça
Fazer filmes é uma tarefa árdua.
São dedicados anos inteiros da vida de inúmeras pessoas para um produto ser lançado, consumido e então avaliado em questão de poucas horas. Zack Snyder não é um completo desconhecido para essas dificuldades que permeiam a produção e o lançamento de um filme.
Praticamente todos seus longas foram arduamente criticados pela imprensa especializada, mas, de alguma forma, Snyder conseguiu encabeçar o projeto do universo cinematográfico da DC nos cinemas para concorrer diretamente com a Marvel. Mesmo com tropeços em O Homem de Aço, Snyder já demonstrava uma visão realmente muito peculiar sobre as adaptações de consagrados personagens da editora.
Mas mais importante, era já delinear que seus filmes tinham personalidade. Snyder conseguiu preservas suas características de autor cinematográfico em obras milionárias e com forte controle por parte do estúdio. Porém, depois de Batman vs Superman: A Origem da Justiça receber uma avalanche de críticas negativas – das quais discordo da maior parte, parece que as coisas mudaram para o entusiasmado diretor.
Já me surpreende muito que Liga da Justiça tenha conseguido ser finalizado depois de tantos problemas notáveis. Ao conferir o resultado final, o sentimento que tive foi, na verdade, uma indagação: o que aconteceu com o Snyder? Aconteceu a máquina de Hollywood.
Não são estranhas ao público as tantas notícias que falavam do rebuliço que atingiu a Warner depois da recepção crítica e da queda vertiginosa de bilheteria de BvS. O filme não atingiu a tão almejada marca do bilhão deixando os produtores e executivos realmente descontentes, afinal como pode um filme que reúne os três maiores heróis da história das HQs não conseguir o bilhão na bilheteria?
O negócio foi tão feio que era possível ver o impacto negativo do longa conseguir aplacar um desanimo cruel em Zack Snyder e até mesmo em Ben Affleck na sua estreia como Batman. Com a produção do novo filme encaminhada e um contrato assinado, não havia tempo para um luto criativo. Snyder tinha que fazer o serviço o mais rápido possível, além de parar de investir no caminho que estava trilhando nos filmes anteriores.
Nas primeiras prévias, era possível notar que algo tinha mudado, mas não de modo tão expressivo quanto o visto no produto final. Snyder ainda queria fazer seu grande épico para a estreia da Liga da Justiça nos cinemas. Mas por conta de uma tragédia familiar realmente terrível e já bastante esgotado criativamente, Snyder decidiu abandonar o filme e Joss Whedon foi contratado para concluir as filmagens.
De novo, outra reviravolta acontece e anunciam que o longa precisaria de extensas refilmagens que adicionariam mais 100 milhões de dólares no orçamento – totalizando 300 milhões no custo total. Em momento histórico para a DC e a Warner, Liga da Justiça não pode falhar de modo algum, mas, infelizmente, o resultado final do filme também deixa bastante a desejar. E os maiores culpados disso são eles mesmos.
Feito sob Medida
A indústria cinematográfica atual e muito em particular a Warner com os filmes DC, parecem se desesperar cada vez mais quando surge uma média crítica em um site agregador de resenhas. Respondem as menores picuinhas que a fanbase cria em fóruns diversos e já se prontificam a lançar edições estendidas em um ato desesperado para resolver os problemas do corte dos cinemas.
Justamente por conta dessa histeria e da completa falta de confiança nos produtos que lançam que tivemos tanta reestruturação dentro de Liga da Justiça. Por conta de diversas ideias e muitas mãos “invisíveis” que temos um filme tão... medíocre, embora divertido.
Oficialmente, Chris Terrio e Joss Whedon assinam o roteiro baseado no argumento de Snyder, mas observando trabalhos regressos de Terrio e principalmente de Snyder, é bastante fácil apontar a quão apertada estava a mordaça nas mentes criativas mais importantes do longa.
A sinopse é básica: depois da morte de Superman, o mundo cai em luto e desesperança permitindo que Steppenwolf, tio de Darkseid, surja na Terra com seus parademônios para acabar com toda a vida no planeta com o auxílio das Caixas Maternas aqui escondidas. Batman, já há tempos investigando a presença desses alienígenas em Gotham, decide que finalmente chegou a hora de reunir a equipe de meta-humanos para defender o planeta de ameaças graves. Assim, Bruce Wayne parte em uma tarefa difícil de convencer os humanos mais poderosos do planeta a participarem de sua liga da justiça.
A história, por mais simples que seja, realmente não é o grande problema do longa, mas sim as diversas pretensões reminiscentes da história cortada que Snyder queria contar. O roteiro é bastante diluído até tornar-se fraco em uma narrativa que poderia ser exibida em seriados de televisão sem o menor problema.
Os caminhos burocráticos e subtramas que Snyder tanto gostava estão ausentes aqui. O mesmo acontece com o trabalho magistral de Chris Terrio com o tratamento dos diálogos, igualmente simples, mas ainda assim, divertidos por conta do aumento expressivo do humor que procura encaixar-se bem e com naturalidade durante as conversas.
Se na concorrência quase todos os personagens funcionam como alívios cômicos, Terrio e Whedon procuraram fazer o correto: focar as piadas no alívio cômico (no caso, o Flash/Barry Allen) e lançar frases cômicas pontuais para o restante da equipe.
Embora eu tenha me divertido com o humor do filme, o fantasma da pretensão narrativa de Snyder me assombrava a cada nova cena que surgia e o quão diluída e enxuta ela estava. O texto parece ter medo de encarar o terror para lançar a esperança, mas ele sugere isso a todo momento com situações estranhas como a cena dos terroristas reacionários religiosos – vide, cristãos, para lançar a modernidade de volta para a idade das trevas... Ou usando a imagem de um skinhead destruindo a propriedade de uma muçulmana nos créditos iniciais.
É tudo bastante óbvio, mas como é lançado de modo pedestre, o espectador pode ter dificuldade de associar essas reações de medo e desesperança com a chegada arbitrária de Steppenwolf na Terra. Com umas linhas de diálogos a mais, seria bem fácil resolver esse entrave do vilão, um dos aspectos mais criticados do filme.
De um fundo moral e mensagem relevante sobre a ausência de uma deidade e a falta de ética que consequentemente recai na humanidade, a potência do demônio em pessoa na Terra a transformando em um Inferno vivo é perdida com força. Isso por conta de Steppenwolf ser apenas funcional e de propósitos óbvios e previsíveis: unir a Liga, levar porrada e sumir do planeta.
O problema é que a pretensão ainda existe e, graças a uma montagem muito danosa, o núcleo do vilão se torna um belo desastre. Steppenwolf só se comunica através de frases de efeito bastante bregas e repetitivas, se comportando sempre como um fanático ao interpelar as Caixas Maternas. Ele somente age através de roteirismos e conveniências narrativas aparecendo sem o menor problema nas localizações secretas que as Caixas estão localizadas – em seu exílio, o Lobo nunca saberia onde fica Themyscira ou Atlântida.
Às vezes, até mesmo surge e some sem motivos claros, além de nunca ferir gravemente qualquer personagem importante. Na primeira luta, no subsolo do Porto de Gotham, o vilão interroga alguns humanos, luta com os heróis e depois some da batalha por razões desconhecidas. Os roteiristas falham explicar melhor tudo o que envolve Steppenwolf e as Caixas Maternas. Logo, ambos são relegados a serem somente funcionais, nada interessantes ou, tampouco, marcantes.
Logo, é percebido de cara que o texto foi feito sob medida. Uma história simples, mais enxuta, nada burocrática ou pretensiosa, com mais humor, um tom leve, vilão funcional e esquecível, bons personagens principais. Realmente parece a receita do sucesso e só o tempo dirá se o publicou aceitou esse texto feito sob medida.
Crônica Oriental
Em muitos comunicados para a imprensa, Snyder declarou que queria homenagear ferrenhamente um dos de seus filmes favoritos, Os Sete Samurais, de Akira Kurosawa, lendário diretor de cinema japonês. Assim como no clássico, boa parte da história seria concentrada nos esforços de Batman em reunir os membros da Liga da Justiça ao redor do globo.
Apesar da homenagem desejada, é difícil negar que o começo de Liga da Justiça seja estranho. Assim como BvS, o filme possui diversos começos para situar os conflitos majoritários dos personagens que acompanharemos na jornada. O que tem mais potencial e recebe maior cuidado dos roteiristas certamente é Ciborgue, adaptando o conflito do Homem vs. Máquina visto na fase dos Novos 52 dos quadrinhos da editora.
Ray Fisher, novato em longas metragens, cumpre bem o papel inicialmente taciturno e angustiado de Victor Stone, um morto caminhando entre os vivos. É através dele que o filme começa a abordar o tema da “superação”, algo muito recorrente no longa. A superação do medo e do terror é o que une os personagens que buscam dar apoio moral e físico para uns aos outros sempre que preciso. Por sinal, justamente por causa da superação ser discutida em diálogos conflitantes, muitos deles são expositivos e conferem um ar de “novela” para muitas cenas.
Stone precisa superar o fato de que sobreviveu a um acidente avassalador e que acabou ganhando um grande poder: a dádiva da vida. Diana tem que assumir seu papel como heroína-deusa benevolente e começar a liderar novamente, superando a morte de seu grande amor, Steve Trevor. Arthur Curry precisa superar o abandono materno e o alcoolismo e reclamar o trono de um reino escondido que ele deveria proteger. Barry Allen precisa organizar sua vida pessoal e parar de reviver a tragédia injusta de seu passado. E, por fim, Bruce Wayne tem que lidar com o luto e a culpa da morte de Superman, jogando o mundo em um clima pessimista.
Como perceberam, o roteiro se preocupa em abordar esses mini arcos dramáticos para os personagens principais – até mesmo Lois Lane tem seu próprio arco com um bloqueio criativo. Uns funcionam, outros nem tanto, justamente pela duração do longa. O luto e a superação são temas complexos de grande dificuldade para desenvolvimento. Quando mal feito, é resultado pode ser uma enorme confusão.
Liga da Justiça não é confuso, mas sim superficial. Quando um filme nasce com uma pretensão e termina com uma despretensão, é evidente que os temas grandiosos são comprometidos pela tesoura da montagem. Estabelecendo esses dramas pessoais em poucos diálogos e conflitos, o mesmo acontece com as resoluções, sendo que algumas nem chegam a ter mesmo um grande momento catártico – praticamente nenhum deles possui essa catarse e algumas mudanças de relacionamento entre eles se tornam problemas como a súbita mudança de postura de Superman em relação ao Batman.
Como toda a primeira metade do longa é focada nessas pequenas reuniões e tentativas de união, o roteiro passa a ficar levemente repetitivo, salvando-se por conta das inserções corretas de humor e uma cena de ação em Themyscira. Quando os personagens finalmente estão juntos, vemos quem consegue se destacar com facilidade. Ezra Miller é um grande acerto de casting pelo timing cômico exemplar, além de incorporar e criar trejeitos muito interessantes para o personagem.
Gal Gadot continua em curva ascendente atuando cada vez melhor soltando apenas uma frase esquisita durante a projeção – de resto, está ótimo e consegue criar laços afetivos cheios de potencial com o Batman. Por falar nele, Ben Affleck parece estar cansado e levemente desinteressado no personagem sem a energia de outrora. Porém, o ator transparece com competência a melancolia que aflige a vida do personagem, o motivando a tomar atitudes cada vez mais suicidas – o Batman praticamente se comporta como um kamikaze durante as batalhas contra Steppenwolf e seu exército de minions.
O que menos se destaca é Jason Momoa, conferindo uma personalidade mista ao seu Arthur Curry. Por ora, é uma atuação confusa, mas que possui lampejos carismáticos com a piada da honestidade envolvendo o Laço de Hestia e também durante a porradaria no clímax.
Com essa abordagem direta do longa, Terrio e Whedon não perdem muito tempo depois que a Liga é formada e já partem para trazer Superman de volta. O curioso é que, apesar da ideia ser elaborada e interessante, entra em conflito com os segundos finais de BvS. Nessa ressureição do maior herói da Liga, é digno de nota que haja um esforço coletivo conseguindo integrar diversas partes da equipe para conseguir o feito, além de destacar a grande importância de Ciborgue e as Caixas Maternas para esse arco.
De modo bastante intimista, Superman tem um retorno nem tão épico como muitos imaginavam, além de jogar o filme em outros diversos clichês como a breve mudança de índole do kryptoniano e a luta de herói vs. herói que marcam todos os filmes que Whedon participou nesse gênero. Com uma resolução doce e bonita desse conflito, o filme caminha para o clímax.
Aliás, vez ou outra, sempre há a inserção de uma família de civis que moram ao lado da usina nuclear em uma cidadezinha no norte da Rússia. A inclusão desse núcleo é totalmente invasiva com o resto da trama do filme, mesmo que os civis estejam localizados no mesmo lugar do clímax. São três cenas focadas em pequenos atos dos personagens que poderiam ser reduzidas somente para uma quando Flash e Superman partem para salvar os moradores da cidade.
Aliás, é muito satisfatório ver enfim Henry Cavill se comportando como o Superman simpático e bondoso dos quadrinhos e dos filmes de Richard Donner. Com a conclusão de seu arco dramático em BvS no qual ele abraça sua figura e responsabilidade messiânica, finalmente pudemos ver o herói de fato pela primeira vez com semblantes de paz e sossego. Porém, de novo, pelos cortes que o filme sofreu, essa volta do Superman como um ser bondoso é ligeira e estranhamente superficial, apesar da reunião com Lois ser emocionante.
Após o clímax acontecer, sem trazer qualquer grande desafio para a equipe – algo estranho já que BvS, O Homem de Aço e Mulher-Maravilha possuem sempre um grande senso de ameaça a integridade física dos heróis, o filme se apressa para terminar exibindo o fim dos arcos dos personagens como se eles realmente tivessem sido desenvolvidos ao longo da jornada.
Bruce se torna o grande amigo de Clark Kent, Diana assume sua posição como um farol ético e moral para a humanidade, não mais se escondendo. Ray Fisher perdoa seu pai e passa a visitar a Starlabs para dominar sua armadura. Barry Allen entra no laboratório criminal. Diana e Bruce fundam a sede da Liga na Mansão Wayne. Clark se joga aos céus como Superman para salvar alguém.
Visão Abortada
É inegável. Zack Snyder tem personalidade e assinatura cinematográfica. Em tempos que os blockbusters caminham para zonas cinzentas de inexpressividade artitítica, Snyder se destacava com muita facilidade pelas imagens incríveis que conseguiu criar com o auxílio de efeitos visuais.
Já fascinado pelo poder de mensagem que uma imagem carrega, Snyder conseguiu criar um filme a frente de seu tempo com BvS, relegando muito do desenvolvimento dos personagens através do poder da síntese visual e apostando menos em diálogos muito expositivos. Porém, todos nós sabemos do resultado dessa aventura que foi muito cara para a Warner.
Em Liga da Justiça, Snyder está sob controle rígido – muito rígido mesmo. A começar, esse é de longe o filme mais porco esteticamente que o diretor já dirigiu na vida. As ricas composições visuais e belíssimos planos que traziam uma grandeza avassaladora foram para o espaço. Até mesmo sua encenação para cenas menos complexas se tornou cansada como se a própria câmera fosse um fardo. Isso também pode cair na conta de Joss Whedon, um diretor de linguagem visual muito mais simples que a de Snyder.
Logo, temos imagens de aspecto de seriado, com um jogo de diálogos sempre muito simples e sem o toque autoral de outrora. Isso é visto em questão de segundos aliás com uma abertura mais light e já totalmente desprovida do filtro que simulava grãos de película cinematográfica. A colorização foi alterada para deixar tons primários mais saturados e menos sombrios. Até mesmo a cinematografia de Fabian Wagner, substituindo Larry Fong, conta com mais pontos de luz, ainda que a iluminação nunca perca uma nuance mais estilizada como nas cenas de Gotham – caracterização sempre excepcional dessa cidade.
Talvez, onde Snyder mais se sente à vontade seja no início do longa, criando composições mais interessantes como um reflexo do Batman em uma janela ou ao posicionar Diana justamente em cima de uma estátua da deusa Thêmis, a Justiça – praticamente, a única cena com uma simbologia visual mais carregada.
De resto, não há tanta coisa elaborada no filme excetuando coreografias sempre bacanas de algumas batalhas como o “pega-pega” de Themyscira – que me lembrou muito do final de Rogue One: Uma História Star Wars – e também do clímax onde cada herói consegue exibir bem seus poderes individualmente além de interagirem com muita fluidez entre si.
Enfim, ainda há personalidade no visual do filme, mas assim como o roteiro, foi diluída quase ao máximo, na beira de quase perder sua identidade e seguir um caminho totalmente enlatado e pré-fabricado, como se tivesse sido enquadrado por robôs e não por artistas. Aliás, é muito perturbador acreditar que esse filme custou 300 milhões de dólares quando, visualmente, parece mais barato do que O Homem de Aço e BvS.
Outra característica marcante do diretor era a jornada que criava paralelos evidentes entre Jesus Cristo e Superman. Para mim, foi triste notar que tudo isso foi cortado. Não existe carga simbólico-religiosa em Liga da Justiça do modo que era feito antes. Tanto que a cena da ressurreição de Superman mais se assemelha a uma homenagem aos filmes Frankenstein do que qualquer tema que tenha a ver com fé.
Também foi excluída a assinatura dos famosos planos de câmera tremida que Snyder sabia realizar tão bem. Aqui tudo é feito do modo mais clássico e comportado possível, deixando sempre a pobre encenação acima da câmera em hierarquia de direção. Aliás, há um tremendo problema visual em Liga da Justiça que inexiste em todos os outros filmes dessa fase até agora: os famigerados “cortes de cabelo” nos enquadramentos.
Um corte de cabelo é quando o diretor resolve enquadrar o ator cortando uma parte do topo de sua cabeça. Isso é muito comum em big closes e closes, mas aqui é feito por conta da janela de exibição do filme. Estamos entrando em um setor técnico que raramente vai afetar o público que deve sentir apenas um estranhamento em alguns planos, mas nada que vá perturbá-lo a ponto de sair reclamando.
O fato é que Snyder gostou muito do formato IMAX que usou em BvS durante algumas cenas. E resolveu formatar Liga da Justiça justamente em formato acadêmico: 1.37: 1 – uma janela mais “quadrada” e fácil de formatar em IMAX. Na primeira vez que vi ao longa, vi em IMAX e esse problema mencionado não ocorre, pois toda a informação visual está na tela.
Porém, na segunda vez, vi no formato convencional que os cinemas optaram em formatar suas telas: na janela 1.85 : 1 – formato que preenche a tela toda de um televisor widescreen que você tem na sua casa. Obviamente, por ser um formato retangular, parte do topo e da base da imagem são perdidas. A rigor artístico, isso não é a morte de um filme caso o diretor enquadre pensando na adaptação vindoura de uma janela que o longa será exibido na maioria dos cinemas. Já que esse problema persiste em muitas cenas. O que ocorre é simples: a linha do olhar dos personagens sempre está acima do ponto de fuga considerado “normal” na linguagem cinematográfica – sim, há estudos rigorosos sobre as linhas guia que você deve enquadrar os olhos do ator a ponto de não causar desconforto. Por diversas vezes, os olhos dos personagens quase beiram o topo da tela exibidora e te garanto que isso não é nada agradável de notar. Agora é torcer para que a Warner lance a versão em formato acadêmico como Snyder original gravou o longa em home vídeo, pois será algo consideravelmente chato esse incômodo visual persistir.
Também acho particularmente curioso Snyder e o design de produção escolherem locais tão similares para os dois confrontos com Steppenwolf: construções cilíndricas verticais. Apesar de não limitar expressivamente a coreografia das lutas – Mulher-Maravilha é quem mais sofre com a repetição de golpes – certamente resulta em uma mesmice visual que o filme não precisava. Curioso que isso ocorre justamente depois das ótimas sequências da batalha na cidade contra os parademônios abaixo de um céu totalmente vermelho. Que ironia a batalha mais legal do filme ser justamente contra minions genéricos do que contra o grande vilão.
Também é curioso como Snyder investe tão pouco nas diferenças de pontos de vista para mostrar Flash em ação. Sempre quando o personagem entra na chamada força de aceleração, o diretor usa a técnica mais elaborada de slow motion que já realizou até agora. Apesar de ser um efeito bonito, a repetição pode cansar – até mesmo a música tema de Danny Elfman é repetida nas três cenas principais que o Flash entra em ação.
Aliás, embora a trilha musical não seja um problema em si, Elfman também não consegue criar temas expressivos para os heróis – com exceção ao do Flash. A trilha funciona, mas é bem mais fraca que as composições interessantes que Hans Zimmer e Junkie XL trouxeram em BvS. Ao menos, há o retorno de trechos dos temas clássicos de Batman e Superman, encaixados de forma orgânica em novas composições – eles podem passar despercebidos se não estiver atento.
Sempre atento aos bons efeitos visuais, é curioso que Snyder e a equipe tenham preferido criar Steppenwolf totalmente com efeitos digitais. Além do resultado não ser muito bom, o design e as expressões faciais de Steppenwolf são medíocres falhando em incutir medo ou qualquer emoção negativa na plateia, afinal como não ficar indiferente com um vilão caricato e monocórdico desses?
O bigode de Henry Cavill também se torna um problema, já que a “barbearia digital” que a Warner contratou deixou o lábio superior do ator levemente inchado, como se ele estivesse se recuperando de uma grave crise alérgica. Embora existam esses deslizes nesses efeitos em particular, há também trabalhos sempre bem-feitos para modelar os edifícios estilizados de Gotham e Metropolis, além de recriações virtuais do Batmóvel e dos atores em cenas específicas.
No fim, Snyder fez seu trabalho, mas sob uma mordaça criativa que talvez tenha sido mais danosa ao filme do que se ele tivesse seguido com sua marca autoral. Afinal, as pessoas ainda discutem BvS, o ápice autoral de Snyder na DC. Por quanto tempo também discutiremos sobre a qualidade estranha de Liga da Justiça?
Ideias Aprisionadas
Embora meu texto pareça uma enorme crítica negativa pela falta de coragem que distinguia esses filmes da DC das obras da concorrência, admito que me diverti consideravelmente com Liga da Justiça. É um longa despretensioso, otimista, bonitinho e engraçado. Uma aventura que lembra os moldes do inesquecível desenho animado Liga da Justiça Sem Limites. Snyder e Whedon souberam bem trabalhar a interação conflituosa e também da enorme amizade entre os integrantes do grupo.
Seja em ótimas sequências de ação ou através de diálogos que trazem a tona a personalidade de cada um. Até mesmo é interessante notar uma nova abordagem para um Batman inseguro e suicida, mesmerizado pelo poder de divindades que trabalham ao seu lado enquanto se posiciona corretamente como o estrategista do grupo com o auxílio de seus gadgets – nunca ser rico fez tão bem aos poderes do Morcego.
Mas o amargor de uma decepção, de ver um filme tão mutilado que sofre com alguns entroncamentos errôneos da montagem e da pressa em entregar uma mensagem que deveria ser muito mais poderosa, praticamente deixa o bom trabalho realizado enublado, dando a sensação incômoda de um filme enlatado, feito sem muito esmero ou interesse de um grande autor do cinema blockbuster.
Se antes havia Cinema, agora há apenas um produto de consumo imediato, modulado pelo medo de investidores e executivos em testemunharem mais um fracasso. Agora, que ironia cruel. Mesmo depois de tantas amarras e pressão para lançar uma obra “adequada ao gosto popular”, tenha recebido outra recepção crítica nada favorável – que as considero injustas também.
No fim, apenas lamento que a possível despedida de Snyder nesse universo tão cheio de potencial, seja tão amarga. O filme busca refletir esperança em um futuro melhor e eu realmente torço que o futuro desse universo cinematográfico, com a ajuda de ótimos diretores como James Wan e Matt Reeves, consiga recuperar seu frescor, originalidade e pioneirismo novamente.
O sonho ainda vive, mesmo que ferido.
Liga da Justiça (Justice League, EUA – 2017)
Direção: Zack Snyder
Roteiro: Chris Terrio e Joss Whedon, baseado nos personagens da DC
Elenco: Ben Affleck, Gal Gadot, Jason Momoa, Ezra Miller, Ray Fisher, Henry Cavill, Jeremy Irons, J.K. Simmons, Connie Nielsen, Amy Adams, Diane Lane, Amber Heard, Ciarán Hinds, Billy Crudup, Joe Morton, Jesse Eisenberg
Gênero: Aventura
Duração: 121 min
https://www.youtube.com/watch?v=H0Z7ewOXCKw&t=
Leia mais sobre DC
Lista | 7 Dicas para dominar Assassin's Creed Origins
Enquanto nossa análise desse baita jogaço ainda não sai, é uma boa hora para fazer uma lista de dicas básicas que podem passar despercebidas por alguns jogadores mais ansiosos em partir na exploração do Egito Antigo com medjai Bayek. Portanto, atente a lista, pois ela pode te ajudar em alguns detalhes que raramente são mencionados dentro do game.
Assovie muito
A mecânica de stealth de Assassin’s Creed também foi consideravelmente remodelada e com uma I.A. realmente atenta caso você se revele entre os arbustos ou grama alta para enfiar uma flechada na cabeça de alguém. Logo, o ideal é sempre atrair seus inimigos para sua zona de segurança através dos assovios. É possível limpar consideravelmente um acampamento de bandidos ou quartel de soldados inimigos apenas com esse recurso. Para ativá-lo, basta pressionar o botão inferior do seu pad direcional por um curto período. Se manter ele apertado por um tempo maior, acabará sumonando sua montaria estragando seu stealth.
Fique atento a barra de vida dos inimigos
Essa parece ser básica, mas não é. Agora a franquia assume totalmente o lado RPG que vinha flertando há anos. Portanto, caso um inimigo esteja em um nível muito superior ao seu, você não conseguirá eliminá-lo com apenas um golpe da hidden blade. Apenas conseguirá realizar um “ataque furtivo” que tira uma quantidade considerável de vitalidade. Isso também se aplica aos tiros com os arcos do game. Mesmo mirando na cabeça, você não conseguirá assassinar o inimigo com apenas um disparo.
O melhor conselho é se manter afastado de acampamentos e inimigos com diferença de três níveis do seu atual, pois eles te matarão com muita facilidade em confronto direto.
Concentre seus esforços no crafting
Principalmente no começo do jogo! O crafting de Assassin’s Creed agora é tão importante quanto foi em Black Flag nos aprimoramentos do seu navio. No caso, obviamente, se trata de aprimorar seu personagem. Há seis espaços para melhorias conquistadas através da caça e coleta de outros recursos como madeira e metais que visam aprimorar substancialmente sua vitalidade, dano com arco, dano com a hidden blade, dano com armas de combate corpo-a-corpo, quantidade de flechas e, por fim, quantidade de instrumentos como dardos venenosos, bombas de fogo e dardos tranquilizadores.
As melhorias causam impacto direto na jogabilidade. Recomendo aprimorar sempre os seguintes espaços: vitalidade, dano de combate direto e a aljava para carregar mais flechas, além do dano da hidden blade que permitirá tirar muito mais vida de inimigos mais fortes que você.
Sempre use a Senu
A maior aliada de Bayek em sua jornada é a águia Senu. Por isso, é importante sempre escalar os pontos de sincronização para aumentar a percepção da ave – além de abrir os necessários pontos de viagem rápida.
Isso resulta também em um impacto significativo na hora do gameplay quando o jogador se infiltra em quartéis e acampamentos com tesouros escondidos e também com o intuito de eliminar comandantes e capitães. Ao contrário da percepção para encontrar objetivos primários do jogo, a rodinha que indica onde está localizado tal objetivo não será dourada, mas branca, além de não contar com o auxílio do barulhinho para encontrar o que estamos procurando.
Com o uso de Senu nesses pontos, será possível localizar com facilidade onde estão os baús de tesouros tão cobiçados nessas infiltrações. Além disso, Senu é muito necessária para avistar materiais imprescindíveis para o crafting a distância, permitindo a marcação desses alvos.
Desvende os papiros
Em diversos locais importantes, existem papiros escondidos com bons enigmas para o jogador desvendar. Esses papiros sempre mencionam uma localização específica da cidade. Nela, sempre haverá um item muito raro ou lendário para incrementar seu arsenal de armas, além de sempre trazerem bonificações de habilidades especiais como envenenamento ou em chamas. Caso não tenha paciência para explorar, é possível achar as localizações exatas em vídeos do YouTube.
Uma dica mais preciosa é pegar esses itens quando estiver em um nível bastante alto para conquistar equipamentos do nível correspondente ao seu.
Apague o seu fogo
Pode parecer zoeira, mas é inacreditável o tanto de vezes que Bayek acaba completamente em chamas quando está no meio de um combate. Principalmente pelos vasos com óleo que incendeiam muito facilmente. Eles ajudam a derrubar os inimigos, mas também te matam com facilidade. Para perder menos vida, lembre-se do conselho dos bombeiros: se estiver pegando fogo, ROLE! O mesmo se aplica a Assassin’s Creed Origins. Apertando quadrado ou X, Bayek usará a esquiva e acabará rolando em algum momento, apagando a combustão.
Vingue os assassinos assassinados
Você vai encontrar esses eventos randômicos com frequência durante sua jornada no Egito. Sempre será sinalizado com um losango azul e uma caveira em seu interior. As missões “vingue fulano” sempre te darão uma boa quantidade de experiência permitindo uma progressão ainda mais rápida para conseguir realizar as missões principais sem a necessidade de tanto griding com as secundárias.
Essas são as dicas mais importantes para conseguir dominar de vez Assassin’s Creed Origins. Ainda teremos muito conteúdo programado sobre o jogo então se certifique de sempre conferir o site quando puder. Além disso, é bastante nítido que recomendamos o game. Fazia anos que Assassin’s Creed não era tão divertido!
Crítica com Spoilers | Thor: Ragnarok - Quando o Hulk salvou o Thor
Com Spoilers
É estranho que um dos maiores heróis da Marvel tenha uma carreira tão irregular nos cinemas. Desde sua estreia no MCU em 2011 com Thor, dirigido por Kenneth Branagh, o Deus do Trovão sofre com diversas inconsistências, ideias ruins e personagens que simplesmente não funcionavam.
Porém, ao menos contava uma história de origem para o herói que, no mínimo, funcionava. Já com a sequência em 2013, dirigida por Alan Taylor, o jogo fica ainda maior e, sem surpresas, o filme permanece na mediocridade tentando reformular as ideias ruins do original. Mesmo com um espetáculo de ação – é um dos filmes mais competentes nessa área de todo o MCU, a ideia e o vilão não emplacaram, dando a impressão de ser apenas um filler importante para apresentar outra joia do infinito.
De certa forma, agora na tentativa final da Marvel em emplacar um filme solo do Thor, Thor: Ragnarok, se comporta de modo similar. É inegável que o filme seja um grande filler, mas de boa qualidade. Em uma subversão de expectativas tremenda, a Marvel decidiu adaptar o arco do Ragnarok, um dos mais sombrios do herói, em uma comédia espalhafatosa que mais se assemelha com uma paródia dos filmes Thor e de outras obras do MCU.
Raragnarok
Apesar de estamos vivenciando a hora mais escura da história do Thor: a destruição completa de Asgard, o roteiro de Eric Pearson e Craig Kyle está interessado em tornar a jornada em um pastelão de luxo. Já sabendo o que irá encontrar, é bem possível que o filme se torne uma experiência agradável, assim como foi comigo.
Ficar reclamando da natureza da proposta do longa não leva a nada, pois o filme é o que ele é: uma ótima comédia descarada que sofre um pouco quando pretende ser mais do que almeja. Não demora nada para eles estabelecerem uma promessa para o espectador: Asgard realmente será destruída por Surtur.
Exibindo o tom do filme na primeira cena, Thor é capturado por Surtur enquanto ele se aventurava no espaço em busca das joias do infinito. Depois de uma breve conversa e algumas piadas, Thor consegue subjugar a criatura e parte para Asgard a fim de pedir ajuda para Odin. Chegando lá, descobre que Loki está disfarçado de Odin e que seu pai foi banido para a Terra. Finalmente encontrando o todo poderoso deus nórdico, Thor e Loki se despedem de Odin que decide que sua hora finalmente chegou. E, no mesmíssimo instante, Hela aparece para reivindicar o trono de Asgard.
O curioso é que isso toma quase meia hora de filme, pois, como disse, o roteiro é cheio de enrolações desnecessárias. O maior exemplo disso é a inserção do Doutor Estranho no meio disso tudo. Por conta de duas piadas esquecíveis, os roteiristas criam uma problemática envolvendo o destino de Odin que só é solucionada com a inserção de Stephen Strange e seus portais mágicos.
Claro, rende uma dinâmica interessante e mais boas piadas, porém isso é completamente irrelevante para a história. Fora isso, a preparação do contraste de tons é absurda pela pressa. O diretor Taika Waititi tenta criar uma situação emocionante, mas como já não temos vínculo nenhum com Odin e por já termos sacado que o filme não se leva a sério em quase nenhum momento, o esforço é nulo. Logo, um dos momentos que seria um dos mais marcantes da saga, é fraco e flácido. Odin morre e dificilmente o espectador vai ligar.
A introdução apressada de conceitos importantes também não colabora para que o espectador sinta a perda de um personagem poderoso e querido pelo protagonista. No mesmo instante que ele desaparece, Hela sai de um portal e se apresenta - uma introdução para lá de preguiçosa para a vilã do filme. Por ser a primogênita de Odin e irmã de Thor, Hela parece ter mais direito ao trono que o deus do trovão, mas isso nunca entra em discussão de fato.
Aliás, como já virou um clichê de toda análise que se preze desses filmes MCU, novamente temos o parágrafo sobre o antagonista. Ao contrário de outros, Hela parece ter uma motivação impulsionada por um ódio paternal contra Odin, pois ela foi aprisionada por ele depois das conquistas sangrentas que trouxeram glória a Asgard. E, de alguma forma, seu imenso poder está conectado diretamente com o sucesso de Asgard – isso nunca é desenvolvido de fato, apenas apresentam o conceito para poderem derrotar a vilã posteriormente.
Apesar desse potencial bastante denso para a vilã encarnada com muita vivacidade por Cate Blanchett, não vemos nem de perto Hela se tornar memorável. Os roteiristas simplesmente não sabem muito bem o que fazer com a personagem enquanto Thor está se aventurando nas arenas de Sakkar, após ter caído no planeta enquanto viajava na Bifrost.
Logo, o clichê da dominação surge com força e a vilã se ocupa em escravizar todos que existem em Asgard. Fora isso, temos a inclusão muito forçada de Skurge, um asgardiano esforçado em ajudar Hela a manter o poder. Fora isso, as demais reviravoltas são banais e esforçadas para que entendamos que Hela fala a verdade sobre Odin e a violência do passado. Nascida da guerra e da morte, nada mais condizente que a vilã seja levemente superficial. Em uma de suas fracas cenas, temos a origem do exército genérico de mortos vivos para que os heróis desçam a porrada no clímax – assim como já vimos em outros trocentos filmes da Marvel antes.
Porém, mesmo com um núcleo antagonista ruim dividido por Hela e Surtur, ainda mais superficial e de uso narrativo estritamente instrumental para resolver o clímax, Thor: Ragnarok tem seus méritos.
A Divina Comédia
Não há nenhuma dúvida, Thor: Ragnarok é muito divertido e engraçado. Onde os roteiristas concentram seu maior poder de fogo estão nas piadas corajosas que, diversas vezes, buscam parodiar situações de filmes anteriores – algo similar, mas menos ousado, a Deadpool.
Logo, a relação shakespereana entre Thor e Loki é rapidamente substituída por uma dinâmica de irmãos pirracentos com um tentando levar a melhor que o outro. Isso não me incomodou, mas certamente dá uma aura de autoconsciência para o filme que pode tirar diversos espectadores da experiência.
Momentos como Loki comemorando a surra similar que Hulk dá em Thor ou quando Thor tenta fazer o ritual da Viuva Negra para acalmar o golias esmeralda deixam esse sentimento bastante evidente. Mesmo assim, as piadas são certeiras.
Portanto, a maior parte das cenas funciona para inserir novas piadas envolvendo elementos que os espectadores fãs de longa data certamente ficarão satisfeitos. A história só ganha força com a inserção de Hulk e das cenas destinadas para explorar o bromance com o Thor. São diálogos bem desenvolvidos e divertidos, mas que nunca se propõem a aprofundar esses personagens e o terror que Hulk sente, além da longa ausência de Bruce Banner desde o sumiço do herói em Era de Ultron.
O mesmo ocorre com os demais novos personagens. O Grão-Mestre de Jeff Goldblum tem carisma, mas não desperta maior interesse funcionando como um antagonista tapa-buraco. Já Tessa Thompson como Valquíria é melhor construída, revelando um passado traumático de um conflito sangrento contra Hela que gerou seu exílio e perda de fé no ofício da guarda real de Asgard. Mesmo que não haja esforço algum para que haja uma catarse na personagem decidir ir ao socorro de Asgard, a relação entre ela, Thor e Hulk funciona com perfeição tornando a falha menos evidente.
Por adaptar livremente o fantástico arco Planeta Hulk, temos alguns personagens dessa saga como Korg e Miek. Com Korg, a comédia é bastante interessante e praticamente sem freios. O maior efeito cômico surge pela completa ingenuidade do personagem grande e rochoso que também entra em contraste com a voz fina e leve que Taika Waititi usa na dublagem.
A principal razão da existência de Thor: Ragnarok é, além do lucro, mostrar uma nova jornada de autodescobrimento do protagonista. Como Hela destrói o Mjolnir com facilidade, Thor perde seus poderes “elétricos”. Trabalhando com outro clichê muito manjado, Thor descobre que na verdade o poder sempre estava dentro de si e o que o martelo mágico apenas canalizava a concentração de seu potencial oculto.
Através de uma boa montagem simulando pancadas das quais Thor parece não aguentar, Taika usa imagens de Odin intercalando com a ação, até culminar na explosão de poder do herói. Algo tão funcional que ele acaba usando duas vezes ao longo do filme. A questão mais profunda do filme – e que também não funciona por causa da paródia e da interrupção rotineira de piadas em momentos tensos – tem a ver com o Ragnarok, a profecia da destruição completa de Asgard pelas mãos de Surtur.
Surpreendentemente, em uma boa escolha bastante corajosa, o clímax do filme consegue se distinguir consideravelmente de outros filmes Marvel até então. Por um simples motivo: os heróis fracassam. Asgard não é salva, mas sim destruída por conta deles. Para deter Hela e sua escalada crescente de poder, Loki e Thor libertam Surtur com a Chama Eterna para que a entidade demoníaca enfim cumpra a profecia. Aliás, até 70% do longa, vemos como o desenvolvimento de Thor é mal escrito ou elaborado com preguiça. Ao contrário dos filmes anteriores, Thor não é um protagonista ativo. Todo o segundo ato é concentrado em situações que Thor é jogado sem mais nem menos. Mesmo que isso converse bem com a destruição do Mjolnir e da falta de controle do protagonista sobre o seu redor, é um tanto bizarro vem um personagem importante sem muita proatividade enquanto é jogado em diversos cantos. Somente com a chegada em Asgard que finalmente temos o protagonista dando origem a acontecimentos importantes.
O filme justamente termina com todos lamentando enquanto observam Asgard sendo completamente aniquilada – até suas fundações. Esse já é o segundo filme do MCU que temos os heróis contemplando algo fatídico e pesaroso em sua conclusão – a tendência foi inaugurada por Guardiões da Galáxia Vol. 2. Espero que isso não se torne um novo clichê do MCU, pois todos sabemos quanto tempo que demorou para esses filmes abandonarem a fórmula do clímax de objetos enormes caindo do céu – é só lembrar de Vingadores, Era de Ultron, Soldado Invernal, Guardiões da Galáxia, Homem-Aranha: De Volta ao Lar e Capitão América.
Sobre a questão do filler que apontei na introdução, basta sermos honestos e olharmos friamente as opções da Marvel no futuro. Realmente é preciso uma história de 130 minutos para mostrar Thor dominando o poder completo de sua divindade, perdendo o olho direito, além da destruição de Asgard? Isso seria um estopim maravilhoso para iniciar o primeiro ato de Vingadores: Guerra Infinita, previsto para o ano que vem. Simplesmente não é necessário, pois os eventos encaixariam como uma luva na narrativa do filme evento. Logo, a maior parte de Thor: Ragnarok perpetua o sentimento de filler intenso. Novamente, isso vai variar de espectador para espectador colocar na balança da relevância desse filme dentro do MCU.
Por fim, Ragnarok traz uma história medíocre, com transformações óbvias na jornada que é deveras superficial – facilmente esse filme está entre os mais supérfluos do estúdio até agora. Porém, há uma boa mensagem a respeito dos medos da imigração e sobre o verdadeiro significado de lar. Um final agridoce para um filme tão engraçado.
A Direção do Imigrante
Taika Waititi é um neozelandês de sucesso. Com o aclamado documentário encenado O Que Fazemos Nas Sombras, acabou entrando no radar de Hollywood, hoje tão carente de talentos novos que aceitem fazer os enlatados mais badalados da indústria.
De certa forma, a sina indie atinge Thor: Ragnarok tanto negativamente quanto positivamente. É evidente que o diretor teve bastante liberdade na inserção da comédia mais ousada do longa e do tom paródico inédito até então. Com tremenda aptidão para o humor, Waititi consegue tirar leite de pedra e tornar quase todas as cenas do filme com esquetes muito funcionais e até mesmo orgânicas – quando não interrompem o drama (pedigree do palhaço milionário Kevin Feige).
Porém, esses filmes não vivem só de piada, mas sim de espetáculo. No que tange o campo da montagem, o uso do teletransporte e da confusão mental no Sanctum do Doutor Estranho é soberbo de tão bem-feito e encaixado. Mas as coisas mudam quando a necessidade de efeitos visuais grandiloquentes surge nas cenas de batalha.
De fato, o duelo entre Thor e Hulk é um dos pontos mais altos do filme. apesar do bizarro CGI de Hulk que parece diminuir e aumentar a cabeça do personagem a depender do ângulo mesmo que os planos capturem as figuras na mesma distância, ou seja, uma questão de perspectiva um pouco bizarra. Já a ação é relativamente bem filmada e organizada, lembrando até mesmo torneios de anime em sua coreografia bem desenvolta. Mas, quando enfim os heróis caminham para lutar com diversos oponentes genéricos, as coisas desandam horrivelmente. Não somente pela organização sem graça das cenas, mas pela qualidade irregular dos efeitos visuais e, principalmente, de exagero coreográfico delas.
Por exemplo, na cena que Hela surge em Asgard e começa a trucidar o exército do reino, não há menor graça dentro da encenação por ser muito genérica. O que destaca, com toda a certeza, é o nível mais agressivo da violência. Mas quando o espectador percebe que os bichos digitais e dublês estão esperando a vez para atacar a vilão ou os heróis, toda a magia e energia da cena se esvaem. É preciso um pouco mais da ação imprevisível de Logan ou de Guardiões 2.
Ao contrário dos irmãos Russo, diretores completamente psicóticos na montagem desequilibrada das cenas de ação – exceto a já histórica cena do aeroporto, Taika parece ter um refinamento mais elegante e clássico para com a câmera. O filme inteiro não foge da linguagem clássica, com muita ênfase de câmera no tripé, em gruas ou travelling. Ou seja, a imagem é sempre estável, por mais que a situação retratada seja explosiva.
Apesar dessa abordagem muito menos afetada com o principal aparato cinematográfico, Taika não é um diretor caprichoso com suas composições. Apesar de não serem feias e haver uma predileção grande por enquadramentos centrais – para facilitar o compreendimento das cenas de ação também, o visual do longa é relativamente empobrecido, apesar dos grandes esforços do design de produção tentar tornar Sakkar um lugar excêntrico, cheio de cores aberrantes como verde-água e rosa choque.
Há uma inspiração cromática tirada dos filmes dos anos 1980, principalmente de Flash Gordon, mas como a maioria das cenas ocorrem de dia, nunca temos o feeling neon que o design de produção tenta emplacar. Além disso, o problemático retorno do baixo contraste se faz presente deixando o visual bastante estéril e pálido. Simplesmente vemos que as cores eram para ser muito mais vibrantes de como estão retratadas na imagem.
O mesmo ocorre com a trilha musical de Mark Mothersbaugh. Apesar de ser bastante original dentro do MCU, a música sempre é bastante tímida e quieta com seus sintetizadores que deveriam estar explodindo energia assim como ocorre em Tron: O Legado. Voltando para Waititi, é curioso que quando o diretor finalmente adquire recursos para mostrar o poderio imagético do filme, ele acerta em cheio. Claro que estou falando das gloriosas composições inspiradas na arte renascentista durante o flashback de Valquíria e suas companheiras lutando contra Hela - há sim uma vibe de Snyder a la 300 nessas imagens.
Mesmo não oferencendo o pacote completo de um blockbuster, não posso ser injusto com o mérito do diretor com seu elenco. É impressionante o que ele consegue fazer em termos de entrega cômica com Chris Hemsworth e Mark Ruffalo, esbanjando talento cômico. O diretor consegue pensar em contrastes e piadas nonsense que tornam as cenas com os dois personagens em um verdadeiro prazer. Digamos que há certa mistura de estilo e tendência da comédia perpetrada por Larry David e Woody Allen, só que adaptadas para a realidade do estúdio e da censura do filme. O resultado é arrebatador de tão bom. Sem exageros, Thor: Ragnarok é o melhor filme de comédia deste ano.
A diversão do Ragnarok
Quem é fã de longa data do personagem e dos quadrinhos, pode ter ficado decepcionado com a abordagem superficial que a Marvel decidiu adaptar uma das histórias mais densas do deus do trovão. Porém, analisando o longa pelo o que ele é, dá para notar com facilidade que a comédia de erros de Thor é uma experiência divertida e também cheia de falhas.
É evidente que é um filme feito pelas piadas e que elas, infelizmente, também acabam conduzindo a história. Pelo tom paródico, é impossível levar Ragnarok a sério quando o diretor almeja emocionar o público. Com uma ação medíocre e história rasa, a presença de Hulk, o trabalho de elenco estupendo e a comédia gloriosa, acabam tornando a experiência de assistir ao filme bastante agradável e distrativa.
No caso, seria o nível mais puro de entretenimento descompromissado. Diversão, pura e simples.
Thor: Ragnarok (EUA/Austrália, 2017)
Direção: Taika Waititi
Roteiro: Eric Pearson, argumento de Christopher Yost, Craig Kyle e Eric Pearson
Elenco: Chris Hemsworth, Mark Ruffalo, Tom Hiddleston, Tessa Thompson, Cate Blanchett, Karl Urban, Jeff Goldblum, Idris Elba, Anthony Hopkins, Benedict Cumberbatch, Taika Waititi, Clancy Brown
Gênero: Aventura, Comédia
Duração: 130 min
https://www.youtube.com/watch?v=UvNnqWLruXA
Leia mais sobre Marvel
Crítica | Seven: Os Sete Crimes Capitais - A Obra-Prima do Crime
Milagres existem.
Se Seven: Os Sete Crimes Capitais é o clássico que é hoje, certamente foi por alguma manobra milagrosa do destino. O fato é que seria apenas mais um filmão de mistério da Warner de 1995. Não havia os nomes de David Fincher, Brad Pitt, Morgan Freeman ou Gwyneth Paltrow no elenco. Na verdade, seriam atores um tanto quanto cartunescos como Sylvester Stallone, Val Kilmer e Christina Applegate – só Al Pacino salvava do elenco que os produtores queriam. Ou dirigido por Guillermo Del Toro? Algo bem estranho.
Quando Andrew Kevin Walker, o roteirista do filme, terminou o texto e vendeu para a Warner, também encontrou oposição de alguns produtores em respeito ao final da obra. Simplesmente não havia a coragem necessária para emplacar algo tão sádico, depressivo e sombrio. As opções eram totalmente ridículas apelando até mesmo para substituir certas cabeças por a de cachorros.
Então, o que aconteceu para que Se7en se tornasse o clássico fenomenal que é hoje? Como disse, um milagre. Por ironia do destino, a Warner acabou enviando o texto original de Walker para David Fincher no lugar do roteiro corrigido. Pode parecer loucura, mas Fincher já tenha poder o suficiente para demandar algumas coisas.
Depois da terrível experiência com a Fox em Alien³, Fincher tinha jurado nunca mais dirigir um filme na vida dele. Mas isso mudou quando se apaixonou perdidamente pelo texto magnético do roteiro. E era justamente o original que ele queria contar no seu filme. Para entender o motivo da Warner não ter se oposto é bem simples: Fincher era Mozart.
O diretor tornou a produtora publicitária que trabalhava em uma das maiores da indústria em questão de poucos anos e justamente por causa de seu talento em como trabalhar espetacularmente bem o sentimento e sentidos que uma peça visual precisa provocar no espectador. Já muito rico e famoso, Fincher não perderia nada recusando o filme, mas a Warner pode perder a prospecção de um contrato com um gênio.
A coisa ficou melhor com a chegada de Fincher no projeto que finalmente realizou o casting que queria. Com enorme vontade para realizar o filme, não deu outro resultado: ele finalmente cravaria sua primeira obra-prima nos cinemas. Mesmo que Se7en não tenha sido tão bem recebido na época (nunca vou entender o motivo), não demorou nada para que fosse considerado um dos filmes mais influentes e precisos do cinema depois da Era de Ouro hollywoodiana dos anos 1970.
A Importância da Mensagem
Sei que é difícil, mas se alguém ainda não assistiu a Se7en recomendo imediatamente que vá assistir. É evidente que trabalharei a análise com spoilers, pois é assim que se crítica um filme fenomenal como esse. E como afirmei, saber das viradas e da cadência perfeita do roteiro antes de assistir ao filme, com certeza matará sua experiência.
Se7en, possivelmente, é o filme que mais me impactou na vida. Logo, a experiência única da primeira visita é inesquecível, mas nunca, com toda a certeza, é replicada do mesmo modo. Se7en é o filme perfeito na para se assistir pela primeira vez. A narrativa que Andrew Walker traz parte de um alicerce clichê para trazer à tona um dos planos de serial killers mais originais da História do Cinema.
Aqui, temos o veterano detetive Somerset (Morgan Freeman) em sua última semana de serviço antes de se aposentar da força policial de uma metrópole sem nome. Para substituí-lo, um novato esquentadinho, detetive Mills (Brad Pitt), surge no cenário. Rapidamente, a animosidade fica clara, mas tudo piora quando os dois são obrigados a trabalhar em um caso monstruoso envolvendo assassinatos punitivos inspirados nos sete pecados capitais: Gula, Avareza, Preguiça, Luxúria, Orgulho, Inveja e Ira.
Um dos traços mais bonitos de Se7en é a confiança mútua entre roteirista e diretor. Somerset praticamente é todo desenvolvido através do contraste de sequência que estabelecem sua rotina. Ou seja, é algo totalmente focado na imagem. Porém, Fincher também sabe fazer maravilhas nos diálogos voltados a exposição do personagem.
Walker se vale do contraste mais clássico do cinema noir e policial: o velho amargurado e racional vs. o novato deslumbrado emocional que tem fé no sistema. Praticamente esse é o alicerce textual de Somerset e Miller. O roteirista tem a perspicácia de tornar esse contraste em uma lenga-lenga dramática cheia de conversas intelectuais. Como todo bom criador, sabe que o foco do filme não é esse, mas sim a jornada entre muitos assassinatos desumanos.
O primeiro ato da obra é focado justamente em colocar os dois protagonistas nos eixos e se tornarem parceiros trabalhando juntos para resolver as peças do quebra-cabeça doentio que estão jogando. É particularmente genial tanto Walker e Fincher trabalharem em uma sequência envolvendo a abordagem dos dois sobre o modus operandi do psicopata.
Enquanto Somerset rapidamente saca que o psicopata cometerá mais cinco assassinatos para concluir sua “obra” e logo parte para fazer uma coletânea de referência bibliográficas que conversem com os sete pecados, Mills passa a noite em claro, sem saída e sem dar atenção a sua esposa, Tracy (Gwyneth Paltrow), se debruçando sobre as fotos procurando alguma pista despercebida.
Se7en tem um roteiro que traz o contexto psicológico dos personagens muito adiante. Logo, se pensarmos de volta na narrativa, veremos alguns detalhes escondidos sobre as motivações de cada um. Essa cena, apesar de belíssima, é bastante cruel. Somerset apenas ajuda Mills para se livrar do caso e Mills, por ser novato e imprudente, tenta mostrar serviço a todo tempo sendo negligente para com sua família.
Pior ainda é notar que nem com a ajuda de Somerset, Mills consegue compreender o que está em jogo, revelando sua imaturidade intelectual e emocional para lidar com um caso desses. Dentre todas as vítimas do filme, Mills é potencialmente a mais frágil delas.
É preciso ir no cerne da filosofia do filme para compreender isso. E essa filosofia é acompanhada pelo sistema que cerca Mills, representado pelo chefe da delegacia, Somerset e John Doe (Kevin Spacey). De certa forma, a mensagem que persiste é: o mundo é um lugar depravado e doente, completamente sem solução. Em apenas uma cena, descobrimos que Mills não vê a cidade dessa forma – ele sai do interior para provar um ponto. Ele é um idealista que se recusa a acreditar que deve parar de se importar com os outros e viver sua própria vida.
Ligando um ponto a outro, logo fica claro que Mills veio para a metrópole para tentar melhorar a situação decrépita e fria daquela sociedade. Ele e Tracy destoam completamente dos personagens que os cercam, sempre quietos, evitando problemas. Também é revelado que Tracy não queria mudar para lá. Temos todas as cartas na mesa para transformar Mills e corrompê-lo até o osso.
Porém, pela firme resistência do protagonista, ele é difícil de quebrar. Somente no impactante clímax e na descoberta do conteúdo da caixa que Mills finalmente desmorona. Depois de perder sucessivas vezes, ser um fracasso como detetive, ter que lidar que só está vivo porque o alvo de sua caçada o deixou viver, Mills se torna um criminoso, um pecado capital, um cidadão da metrópole, sujo, deprimido e fracassado. É justamente por isso que o texto de Walker é brilhante. Quase nada disso é exposto nos diálogos, mas sugerido pelo decorrer das cenas e da ótima atuação de Brad Pitt.
O bem simplesmente não pode existir em um mundo doente e condenado à destruição. Ou será que pode?
A Hipnose Mentirosa
A essência do trato com Somerset é ganhar novamente um contraste no fim do desenvolvimento do seu personagem. Um perfeito jogo de opostos com Mills tanto no começo quanto no fim. Somerset é um homem já calcificado pelas monstruosidades que viu na vida e ao longo de sua carreira. Parou de se importar, nunca quis construir uma família, mora sozinho em apartamento meticulosamente organizado.
Seu objetivo inicial é somente se aposentar e deixar o mundo queimar em seu próprio tempo devido a degeneração da sociedade. Porém, assim como Mills sabe, o público sente que por trás dos olhos nublados e tristes de Somerset, há alguém vivo que não aceita a condição auto imposta por si.
O simples desenvolvimento do personagem é pautado por um elemento principal: o metrônomo. O instrumento é usado para manter padrões, um ritmo e sintonia específica. Para o protagonista, ele também estabelece esse padrão, esse pensamento condicionado e a relação morta com a cidade e os outros.
Após Tracy conseguir fazer que os dois se entendam no jantar e oferecer a primeira sensação alegre em anos para Somerset, a jornada, inerentemente, aproxima os dois detetives passam a virar amigos e compartilhar segredos. Quando esse desconforto de ter redescoberto a alegria da profissão e de viver, ele fica perturbado, afinal o padrão foi quebrado, assim como sua autohipnose. Antes de dormir, agora já quase transformado, em um ato súbito de raiva, destrói o metrônomo com fúria.
O que torna essa mudança ainda mais genial, é que Somerset também perde e fracassa no final. Logo, não há redenção para nenhum personagem no filme. Walker testa o espectador ao mostrar o seguinte: antes de John Doe se apresentar na delegacia, o antigo detetive diz para Mills que ficará no caso até ele terminar, não importa o tempo que leve.
É um momento otimista, indicando algum triunfo, até que Walker subverte totalmente as expectativas ao jogar o psicopata se entregando logo ali na delegacia, mantendo a superioridade psicológica de seu jogo. Já no deserto, Somerset e Mills perdem com a caixa. Mills perde a liberdade e Somerset perde seus amigos.
O final é bastante ambíguo e aberto para várias interpretações, mas é notório que, a partir dessas pequenas catarses que Somerset sofre ao longo da narrativa, ele desiste da aposentadoria. Ele mesmo fala que concorda com a segunda parte da frase de Hemingway: Vale a pena lutar pelo mundo. O descrente agora acredita. O indiferente agora se importa. O ocioso se torna ativo. É um final belo com uma ponta de esperança.
Mas para chegar até esse desfecho agridoce, é preciso caminhar através dos círculos do Inferno.
Jornada Diabólica
O ponto mais elogiado de Se7en geralmente é o decorrer da investigação. Walker capricha ao máximo para gerar um mistério envolvente, além de ter estudado a fundo a mente de um psicopata criminoso. As escolhas dos alvos para representar todos os pecados capitais funcionam e são até mesmo explicadas pelo assassino ao fim do filme – com notórias falhas inseridas propositalmente, afinal nada justifica tirar a vida de inocentes.
Nitidamente, há um sólido padrão bem cadenciado entre a descoberta dos corpos e os novos rumos da investigação oferecendo um pouco do trabalho de detetive dos protagonistas. Com uma reviravolta excelente a respeito da terceira vítima e sobre uma participação inusitada do psicopata na cena do crime, Walker parecer perder brevemente o rumo a tal ponto que ele recorre a uma conveniência tão feia que parece não fazer parte do filme que estamos assistindo.
O fato dos detetives encontrarem o assassino justamente por uma lista de leitura da biblioteca pública é bastante forçado, além do próprio roteirista mostrar posteriormente que John Doe possui uma boa quantia de dinheiro – logo, é perfeitamente possível Doe comprar os livros, simplesmente não combina com a mente de um gênio do crime extremamente organizado.
Tanto que a partir dessa marca, o ritmo do roteiro fica mais acelerado exibindo o quinto assassinato não mais do que uns poucos minutos para encaminhar o terceiro ato com a rendição de Doe, outra sacada espetacular do texto.
Como esse ato é muito concentrado em diálogos, temos um refinamento para a conversa final do psicopata com os detetives. Novamente, Walker aposta nos contrastes entre eles, no eterno quente e frio que está em jogo.
Por fim, é um mistério exemplar de tão bem construído, inserindo descobertas que dialogam ativamente com diversos trechos anteriores do filme.
A Aurora de um Autor
Se7en deve marcar a primeira vez que Fincher experimentou alguma liberdade criativa para contar a história que queria dentro de um filme de estúdio. Com uma restrição muito menos presente, o diretor conseguiu conceber uma estética noir reformulada para uma linguagem verdadeiramente atemporal.
É difícil acreditar que Se7en tenha quase 23 anos de tão imperceptível que é o esquema de sua linguagem. Nota-se, evidentemente, que o olhar de Fincher é mesmo de um publicitário/diretor de videoclipes. Não digo isso de forma negativa, pois esta caraterística é a que mais marca o cinema que ele se propõe a fazer de modo exemplar.
Apesar de isso já existir em doses menores em Alien³, é aqui que a assinatura visual de Fincher finalmente desabrocha: a câmera mímica. De formação, ele entende que a audiência não deve tirar os olhos do produto, mas que ela nunca deve perceber que tem o olhar condicionado para tal.
Então como fazer isso? Simples, movimento. A encenação de Fincher é tão firme quanto a de Hitchcock para a movimentação das peças principais do plano. E assim que as pessoas andam, a câmera também se movimenta, como se estivesse grudada por uma fina cola invisível. Se elas param, o mesmo acontece. Se elas se movem minimamente, o plano também é reajustado como se tivesse respirado.
Logo, personagem e imagem tornam-se um ser, assim como o nosso psicológico gera empatia pelos mocinhos da história que vemos acontecer. É algo minucioso de precisão matemática que também colabora para a fama dele repetir diversas vezes a mesmíssima tomada nas gravações. Tudo tem que ser perfeito para nós nunca notemos o aparato cinematográfico. É a mágica da câmera invisível.
Essa é sua principal assinatura que comanda a decupagem inteira desse filme e de outras diversas obras – mesmo que Clube da Luta seja visualmente mais imaginativo. Ferramente ligado à elegância do cinema clássico e principalmente do cinema noir que ele visa homenagear, a câmera raramente sai do tripé. É a linguagem clássica em sua glória e perfeição com movimentos panorâmicos, tilts e travellings, além de raras participações de gruas.
Mesmo que em todos os diálogos tenhamos esses ajustes nos enquadramentos seguindo a proposta da movimentação mimética, todos os enquadramentos que Fincher realiza são assombrosamente equilibrados com diversos pontos de referência visual para agradar aos olhos. Logo, é quase impossível ficar cansado ao ver filmes dele, justamente por essa precisão fascinante: sempre há coisas interessantes para olhar.
Justamente por isso que Fincher se torna um cineasta completo: ele valoriza todas as áreas da produção. Aqui, vale o elogio ferrenho ao design de produção genial que sabe separar os ambientes de forma perfeita: a casa nojenta, suja e cheia de gordura do obeso, o escritório minimalista do defensor público, o apartamento abandonado cheio de aromatizadores para ninguém sentir o cheiro pútrido do homem amarrado na cama, do puteiro/boate infernal do subterrâneo, do quarto branco que emana produtos ricos em contraste ferrenho com o vermelho do sangue da moça mutilada, da biblioteca vitoriana que lembra tempos de Sherlock Holmes, da casa cinzenta de Somerset e, por fim, no apartamento ainda sem identidade, mas aconchegante de Mills – a cidade nunca daria chance dele se estabelecer ali, por isso o foco nas caixas de mudança.
Curioso que a fotografia do iraniano Darius Khondji nunca omite esses detalhes, mas torna eles uma parte orgânica do cenário pelo jogo de iluminação que acabaria definindo outra assinatura visual de David Fincher até hoje: luzes baixas, filme muito sensível para captar a iluminação enquanto sustenta a atmosfera sombria dos cenários, contraste relativamente elevado, e predileção por fontes artificiais de luz para criar efeitos barrocos.
Isso é o que define a fotografia de Se7en, capaz de criar imagens verdadeiramente espetaculares como a de um reflexo sombrio em uma poça d’água ou a contraluz de um homem correndo por sua vida em um salão abandonado. Fincher e seu cinematógrafo conseguem manufaturar todos os sentimentos sinestésicos pela acuidade visual desses espaços malditos que atravessamos.
É impossível não sentir um desconforto sobrenatural quando Somerset e Mills entram no apartamento de John Doe que mais se assemelha a um túnel que daria diretamente para o Inferno. O lugar não recebe luz natural e as paredes são pintadas de preto, elaborando um contraste diabólico com as luzes vermelhas espalhadas pelo local – incluindo a de uma cruz de neon. A
Aliás, é interessante notar que, assim como em outras cenas, essa da descoberta do apartamento traz a relação mais pura da equação mimética da encenação e câmera. Nós só vemos detalhes do apartamento, das pistas e dos suvenires de Doe quando os personagens se aproximam e se deparam enfaticamente naquilo. É uma troca de olhares natural entre ficção e realidade. Sublime.
Mas todos nós sabemos que a masterclass de David Fincher que cunha a obra-prima que Se7en é ocorre no terceiro ato. Primeiro, pela atuação monstruosa de Kevin Spacey como John Doe, literalmente um João Ninguém. Depois, pela sacada memorável do uso da chuva. Reparem que durante toda a investigação, a cidade é castigada por uma chuva intensa e ininterrupta, dificultando ainda mais a percepção do mistério, como se uma força sobrenatural impedisse os protagonistas de ver a verdade.
Só que a verdade vem à tona quando John Doe se entrega para a polícia, ali, enfim, a chuva para e o sol brilha também indicando que o período de opressão do antagonista finalmente se encerrou... na cidade. O terceiro ato concentra a maior parte da antecipação e build up da trama. Pegar o vilão não é o fim aqui.
Durante todo o vil e ótimo diálogo entre os detetives e o psicopata, Fincher tem a bela sacada de sempre manter as duas partes separadas pelas grades da viatura. Porém, se for reparar minuciosamente, vai notar que a boca de John Doe é perfeitamente enquadrada em um dos buracos da grade. Sua maior arma ali é sua lábia e as palavras machucam. Mas o que vai, volta e Doe também perde as estribeiras quando Somerset chama suas vítimas de “inocentes”.
Quando enfim nos aproximamos do destino final, há um plano geral sublime enquadrando o carro bem no meio de torres de alta tensão. Primeiro, nota-se a teia provocada pela cacofonia visual das ferragens e dos fios. Sentimos que os dois foram conduzidos para uma armadilha perfeita. Depois, com um olhar mais cuidadoso, é possível notar o número 7 se repetindo diversas vezes no meio do caos das ferragens – em particular, no canto esquerdo da tela, a iluminação natural até mesmo destaca a forma.
Mesmo com a intrusiva participação das imagens do ponto de vista do helicóptero, vemos novamente a genialidade de Fincher culminar criativamente. Quando Somerset abre a caixa, ele logo se assusta e é jogado para trás. Visualmente isso é traduzido por um corte seco e rápido da montagem – a mesma técnica é usada quando Mills encontra um balde de vômito na casa da primeira vítima.
Quando a câmera retorna para Mills e Doe, Fincher frisa que a atenção do detetive não está no psicopata e sim no conteúdo da caixa (um grande erro de conduta). Nessa imagem, Doe aparece totalmente desfocado pela última vez. Somerset retorna correndo para Mills, tentando evitar que ele assassine Doe temendo que o psicopata domine a cabeça do parceiro.
Aqui, finalmente a câmera perde a estabilidade, assim como toda a situação se torna instável e os dois viram reféns do psicopata. O uso do recurso da shaky cam é muito mais inteligente do que utilizado na perseguição a Doe na metade do filme – Fincher queria homenagear os seriados policias da época, além de dinamizar a sequência. Repare que quando o enquadramento está centrado em Doe, a câmera se torna estável novamente, mas volta a tremer e chacoalhar quando está focada nos detetives.
Ao mesmo tempo, temos o lance mais genial da fotografia e da direção: um plano brilhantemente construído cria uma aura iluminada para Doe, em um sadismo visual intenso equiparando o personagem a uma santidade que finalmente concluiu seus trabalhos e está próximo de ser encaminhado para os céus.
Quando Mills enfim descobre a verdade da gravidez de Tracy – é particularmente genial que a última cena que a personagem aparece seja completamente banal nunca indicando que será assassinada posteriormente, cria-se outro recurso brilhante. O impasse está estabelecido e logo vemos Mills lutando para não sucumbir ao ódio, vemos o medo no rosto de Somerset e também o sorriso cheio de malícia de Doe – enquanto isso, a trilha musical de Howard Shore explode em padrões monocórdicos.
A montagem intercala esses três rostos e Fincher homenageia com precisão os western spaghetti, em particular Três Homens em Conflito de Sergio Leone, exatamente a cena clímax do filme durante um impasse que culminará em um sangrento tiroteio. É assim que se faz belas homenagens para filmes clássicos, aliás.
Inserindo outra característica pioneira que seria inserida mais enfaticamente em Clube da Luta, Fincher usa um recurso visual para finalmente por fim ao impasse. O detetive só mata o psicopata quando surge um flash com a imagem de Tracy. Por uma breve sinapse traidora, ele se lembra dos momentos que nunca mais terá com sua esposa, e cede a carnificina da vingança – que, obviamente, não é plena. Mills se rende ao seu temperamento e não se transforma do detetive racional que uma narrativa clássica traria.
Também nessa questão, de Mills se tornar Ira, Fincher entrega isso em um foreshadowing brilhante. Para ver isso, repare na lousa que Somerset apresenta a disposição dos pecados. O número 5 é justamente a Ira. Quando Somerset visita Mills, o apartamento é justamente o de número 5A. Sutil, simples e brilhante.
Não devemos esquecer, também, da abertura que revolucionou os créditos iniciais como há anos não se via. As imagens turbulentas mostram John Doe planejando meticulosamente seus alvos e assassinatos, além de trazer a principal razão de nunca encontrarem suas impressões digitais. Para construir o efeito desejado, do desconforto visual, Fincher fez de tudo com a câmera a fim de tremer a película, mexer com o diafragma e obturador e até experimentar com instrumentos da revelação fotoquímica. Não é à toa que a abertura é o que é até hoje.
I Can See Clearly Now
Não tem como negar. Muitos encaram Se7en como o filme definitivo de David Fincher até hoje. Como gosto muito da maioria de suas obras, é difícil afirmar algo assim, mas certamente posso dizer que é um dos meus dez filmes favoritos de todos os tempos. Me encanta a escrita tão esperta de uma história de proposta relativamente simples, com viradas encaixadas de modo perfeito.
Para quem leu o texto até aqui, já sabe que o filme é uma obra completa para proporcionar a melhor experiência de tensão possível. Se7en é um milagre da sétima arte e permanecerá assim por eras. Assustando e chocando todos aqueles afortunados de conferirem a magistral obra-prima do crime.
Nasce um autor cinematográfico, nasce um clássico digno da era de ouro hollywoodiana.
Se7en: Os Sete Crimes Capitais (Se7en, EUA – 1995)
Direção: David Fincher
Roteiro: Andrew Kevin Walker
Elenco: Morgan Freeman, Brad Pitt, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey, John Cassini, Daniel Zacapa
Gênero: Crime, Drama, Suspense
Duração: 127 min
https://www.youtube.com/watch?v=znmZoVkCjpI
Leia mais sobre David Fincher
Crítica | Mindhunter é uma viagem monótona sobre o ego inflado de John Douglas
É complicado ler Mindhunter depois de ter conferido a excelente adaptação trazida por David Fincher que estreou há pouco na Netflix. O motivo é bastante simples: a expectativa é muito alta.
Com foco inicial ferrenho nas entrevistas de Holden Ford, personagem inspirado em John Douglas, um dos responsáveis fundar a Unidade de Ciências Comportamentais do FBI, acreditei que a autobiografia homônima seria uma experiência perturbadora nos arquivos das mórbidas entrevistas que o agente conduziu com diversos psicopatas capturados anos antes dele iniciar sua pesquisa de perfis que revolucionou a criminologia dos anos 1970.
Mas, ledo engano, Mindhunter vai por outras vias nem tão interessantes. Por exemplo, o maior desafio da autobiografia é justamente seu primeiro terço. São mais de cem páginas em uma aventura de ego sobre histórias nada interessantes da vida pessoal de John Douglas, sua rotina, educação e vida amorosa. Ou sobre como ele aprendeu a jogar baseball entre outros esportes. É um negócio tão absurdo e contrastante que demorei a acreditar que estava lendo um livro sobre as mentes mais perigosas da América.
John Douglas e o Cotidiano
O problema é que os leitores desavisados vão estranhar essa enorme ladainha extremamente maçante. Tenha em mente, sempre, que Mindhunter é uma autobiografia de Douglas escrita em conjunto com Mark Olshock. Logo, para chegar no ouro do tema, é preciso aguentar muita ladainha nada pertinente ao leitor. Esse é o maior defeito do livro: Douglas trata o material como um “querido diário” e omite detalhes pertinentes sobre como consegue traçar o perfil dos suspeitos que, segundo ele, são sempre muito apurados.
A parte das entrevistas, na verdade, não compõem nem mesmo 10% da obra e, quando surgem, são extremamente resumidas apenas mencionando um breve histórico sobre o entrevistado e da conversa também. Não há nem mesmo uma menção aprofundada sobre entrevistas históricas com Ted Bundy e Charles Manson. Por mais irônico que pareça, o maior foco é restrito em Ed Kemper, a entrevista mais explorada no seriado – logo, quem já viu essa história não ficará muito animado em ler um capítulo inteiro trazendo as mesmas informações já tão bem trabalhadas.
Claramente minha análise está assumindo uma posição de quem foi motivado a ir atrás da fonte depois de ver o material adaptado. É claro que sei que o livro foi lançado anos antes nos EUA, mas sua publicação no Brasil é bastante oportunista para conquistar leitores que já tiveram contato com a série.
Porém, quem sobreviver a chatice inicial de mais de cem páginas, com certeza encontrará capítulos melhores até o fim do livro. Apesar da notória desorganização do material que mistura casos ativos com a vida pessoal de Douglas, é por eles que conhecemos detalhes importantes da investigação de diversos psicopatas que aparecerão nas próximas temporadas do seriado.
Eis o homem, a lenda.John Douglas e os Psicopatas
Casos como o de David Carpenter, Carmine Calabro, Bittaker e Norris, Robert Hansen, Larry Gene Bell e Wayne Williams são bastante detalhados, apesar de uma frieza excessiva de Douglas ao abordar a quantidade inacreditável de vítimas que esses assassinos ceifaram ao longo do período de atividade.
Douglas também parece relutar em contar mais detalhes sobre os diversos tipos de psicopatas com padrões diferentes como os que atuam em duplas, os homossexuais, psicopatas negros, mulheres, psicopatas casais ou de familiares. São assuntos pertinentes que envolvem perfis distintos, mas Douglas apresenta a pirâmide básica para identificar alguém cheio de potencial para se tornar um assassino em série: enurese tardia, incêndios diversos e tortura de animais.
Como Douglas rapidamente abandona as entrevistas das quais ofereceram a base para seu estudo, temos a apresentação dos diversos casos ativos de criminosos que ele e sua Unidade conseguiram colocar atrás das grades. Porém, como disse, Douglas não se importa em explicar minimamente como conseguiu traçar o perfil dos criminosos temendo que outros psicopatas lessem o livro e descobrissem o método.
Apesar de ser um medo crível, nada ajuda na obra que se torna enfadonha só ganhando força quando alguns casos realmente extraordinários como o da esposa que desejava matar um colega de Douglas surgem, ou o terrível caso de Gene Bell. Mesmo assim, com histórias fortes, a leitura encontra outros entraves: a escrita não é prazerosa e muito menos magnética.
Ao contrário de seu concorrente direto, o livro Serial Killers – Anatomia do Mal, de Harold Schechter, Mindhunter é enfadonhamente escrito sem gatilhos narrativos de suspense ou estruturas narrativas clássicas para deixar a leitura mais envolvente. Douglas faz uma mera descrição dos fatos, apesar dos esforços hercúleos do seu parceiro co-escritor em deixar a experiência mais envolvente.
Particularmente, acho surreal o talento que Douglas tem em deixar um dos assuntos mais interessantes do mundo virar uma verdadeira chatice. Ainda que o texto nunca supere o problema de Douglas mais desviar a atenção dos fatos para si e seu ego gigante, o leitor já está acostumado nessa altura a aturar as interrupções e logo é recompensado por detalhes valiosos da investigação como a de Wayne Williams e a razão da mudança do lugar de desova dos corpos das crianças que matava.
Uma das principais entrevistas da carreira de Douglas que ele nunca menciona direito: Ted Bundy.Potencial nunca atingido
Apesar da segunda metade do livro ser muito mais interessante, sentimos que o potencial de Mindhunter nunca é verdadeiramente atingido. Isso também acontece por conta da estrutura muito viciada que Douglas aplica no relato dos casos que nunca são verdadeiramente estudos, mas relatos de como ele estava certo.
Segue o padrão: vida de Douglas, assassinato com identidade revelada do psicopata na maioria das vezes, descrição do estado dos corpos das vítimas, perfil traçado por Douglas, investigação continua, Douglas viaja e alguém pede para ele retornar para ajudar no interrogatório do suspeito que bate com o perfil, interrogatório muito resumido, prisão, vida de Douglas, fim.
Isso se repete na maioria da segunda metade do livro e sentimos um rancor forte da personalidade do autor por nunca ter recebido reconhecimento suficiente sobre a sua ajuda no caso em particular. Logo, há também um sentimento de “lavar roupa suja” no meio dos capítulos que nada são pertinentes para nós.
Apesar de sua constante repulsa a psicólogos, talvez seja realmente o que o autor precisa: visitar um deles.
Mindhunter é um livro que custa muito a engrenar e muito provavelmente você já irá ter abandonado a leitura antes de chegar nas partes realmente interessantes. Douglas adora puxar a fofoca para o seu lado com uma das autobiografias mais chatas e malas que eu já tive o desprazer de ler.
Rapidamente o livro se torna em uma egotrip insuportável comentando como Douglas é forte, bonito e trabalhador. O engraçado é que, aparentemente, o agente especial é imune a falhas. O “perfeito” detetive nunca erra em sua jornada. Seus perfis são exatos e precisos, apesar de nunca revelar como raios ele chega a essa bendita dedução.
É particularmente curioso e irônico o livro terminar com o lamento de Douglas de que “os dragões vencem”, em alusão aos psicopatas soltos por aí. Se ao menos tivesse ensinado o básico e tornado o campo de seu estudo mais interessante, pode ter certeza que seria mais fácil identificar e monitorar indivíduos com essa disposição doentia.
Por fim, depois de aguentar as apresentações de sua “magia” em acertar os perfis dos assassinos sem mais nem menos e encerrar a leitura, é bem fácil de admitir que dificilmente o leitor sentirá que aprendeu algo ao longo das mais de 300 páginas do livro. Realmente, é uma conquista admirável pegar um tema tão relevante e torna-lo em algo tão... egocêntrico.
Mindhunter: O Primeiro Caçador de Serial Killers Americano (Mindhunter: Inside the FBI Elite Serial Crime Unit, EUA – 1995)
Autor: John Douglas, Mark Olshaker
Editora: Intrínseca
Edição: 1ª edição de 2017 – não atualizada com informações complementares
Gênero: Autobiografia, Crime
Pgs: 380
Quem é aquele cara? | O Final da 1ª Temporada de Mindhunter Explicado
Spoilers!
Mindhunter é uma das obras que mais prestigiamos neste ano aqui no site (leia a nossa crítica). Depois uma sólida estreia e esbanjar potencial para se tornar uma das séries pilares da Netflix, fica difícil não guardar muitas expectativas para a próxima temporada que chega em 2018.
Quem acompanhou a série deve ter ficado com uma pulga atrás da orelha para descobrir quem era aquele pacato cidadão mal-humorado que surgia sempre nas introduções de diversos episódios.
Certamente alguém nada amigável, certo? Depois de concluirmos o arco de Holden Ford na temporada, Fincher apresenta uma perturbadora cena mostrando esse mesmo homem queimando desenhos de diversas mulheres torturadas de variadas formas.
Não, o cara não é Holden Ford
Os novos fãs do seriado estão tão ansiosos para descobrir quem se trata esse cidadão que já estão considerando ele ser Holden Ford alguns meses depois dos acontecimentos mostrados na série. Mas o caso não é esse. Por mais que o desenvolvimento do arco do personagem mostre que ele esteja caminhando para um estado mental psicótico chegando até mesmo a repetir uma mesma frase que Ed Kemper fala durante um interrogatório, o final da temporada indica uma catarse no protagonista.
Ao ser abraçado por Kemper no fim do episódio e não saber reconhecer o que ele quer daquele cara, Holden tem um colapso nervoso ao perceber que está na mesma folha doentia que o objeto de seu estudo. Em desespero, foge e cai no corredor do hospital sussurrando que está morrendo.
Ou seja, por conta dessa reação exacerbada, Holden consegue fugir da escuridão. Céus, Fincher até termina a temporada com a excelente In the Light de Led Zeppelin para “iluminar” essa questão. A catarse deve mudar profundamente Holden que deve parar de se comportar como um maníaco que olhou por tempo demais para o abismo e agir novamente como uma pessoa equilibrada.
Então quem é?
Esse cidadão é um dos psicopatas recordistas de tempo que conseguiu fugir das forças policiais tendo assassinado 10 pessoas entre 1974 a 1991. Depois de 31 anos do seu primeiro assassinato, foi finalmente preso em 2005.
Trata-se do Assassino BTK, Dennis Rader. O apelido BTK vem do seu modus operandi no ato de matar: Bind, Torture, Kill. Ou seja, amarrar, torturar e matar – justamente por isso vemos tantos desenhos de mulheres amarradas enquanto são lançados ao fogo.
Rader tinha os meios mais fáceis para encontrar suas vítimas – isso é mostrado no seriado. Com livre acesso a diversas moradias para instalar sistemas de segurança, o psicopata já podia traçar seus planos para sequestra-las posteriormente. Era um psicopata organizado, extremamente metódico que planejava cada invasão com extremo cuidado para não ser surpreendido ou pego. Ou seja, aprendia a rotina das vítimas por meses antes de agir.
Todos os assassinatos ocorreram em Wichita, no Kansas. Ao longo das três décadas que a polícia falhou, o BTK adorava ridicularizar as forças da Justiça enviando pistas e cartas para veículos de mídia, além de reivindicar os assassinatos para si, afinal faz parte da mente psicopata uma enorme dose de narcisismo sádico.
Rader tinha tesão em lingeries e meias-calças. Em quase todas as vítimas femininas, roubou pertences íntimos e usou posteriormente para se masturbar no porão da casa da mãe. Era comum se fotografar enquanto amarrado usando também as roupas das pessoas que assassinou.
Dennis Rader relaxando no sofá com sua filha Kerri.
Seu primeiro ataque envolveu o infame assassinato da família Otero no qual Rader matou o casal e dois dos cinco filhos por sufocamento em 1974. O frisson midiático causou pânico em Whichita que foi assombrada pelos assassinatos de Rader até 1991.
No fim, Rader foi somente pego pela própria soberba e burrice. Quando foi anunciado que um livro seria escrito sobre os terríveis assassinatos do BTK, Rader recomeçou a infernizar a mídia reclamando a autoria de assassinatos até então sem solução. Uma dessas cartas foi enviada à polícia. O assassino ainda não entendia muito dessa novidade da informática consolidada nos anos 2000 e gostaria de saber se era possível rastreá-lo ao gravar documentos em um disquete.
Enganando o psicopata, a polícia afirmou que seria impossível pegá-lo através dos disquetes com seus escritos. E foi justamente por conta disso que Dennis Rader encontrou seu fim. Através de um documento gravado e deletado do disquete, por meio de metadados, a polícia encontrou o nome de usuário ‘Rader’. Em uma pesquisa rápida e simples na internet, foi rastreado um tal de Dennis Rader, presidente do conselho de uma igreja luterana.
Através de pistas reunidas na época, sabia-se que o BTK tinha uma camionete Cherokee preta. E na casa deste Rader também havia esse mesmo carro. Pegando DNA encontrado nas evidências dos crimes nos anos 1970 e colheita de DNA da filha do psicopata, a polícia reuniu provas o suficiente para colocá-lo para responder seus crimes.
Rader foi condenado a dez prisões perpétuas em uma penitenciária do Kansas. Na época não havia a sentença de morte no estado. Em um índice psicológico de maldade, ele atingiu o número 22, o máximo possível do estudo o categorizando como um indivíduo sádico que sente prazer em torturar pessoas e animais.
Agora resta ver como essa história perturbadora será trazida pelas telas de Mindhunter. Pela atmosfera do seriado, é bastante improvável que o BTK seja traído pela própria ignorância.
Crítica com Spoilers | Blade Runner 2049 - A Busca Artificial pela Realidade
Obs: aqui proponho uma análise cinematográfica e não apenas uma resenha. Logo, encontrará um texto bastante longo e repleto de spoilers. Evite ler se ainda não tiver assistido ao filme.
Nada mais belo no Cinema do que a infame justiça histórica, afinal, até que ponto um clássico realmente se torna um clássico? Ou que merece tal alcunha? É um verdadeiro mistério gerado por um consenso de opiniões positivas, relevância social e estudos profundos sobre o que cada uma dessas obras tem a nos dizer em diversos níveis e camadas.
Com o cinema cada vez mais pasteurizado, fica extremamente difícil apontar o que será clássico no futuro. Essa dúvida também permeava o cinema dos anos 1980. Na época, Ridley Scott estava em franca ascensão depois do estrondoso Alien, O Oitavo Passageiro, e o diretor não tardou a receber mais uma difícil incumbência em trazer o impossível da ficção científica para as telonas.
Adaptando Androides Sonham com Ovelhas Elétricas? De Philip K. Dick, Scott dedicou todo seu esforço intelectual para manufaturar um filme grandioso que dialogava com questões existencialistas que o cinema blockbuster da época nem sonhava abordar. Todo o esforço rendeu um dos maiores fracassos da História do Cinema. Blade Runner, O Caçador de Androides colecionou recordes negativos em sua estreia e todos pensaram que a história morreria por ali mesmo.
Porém, o destino reservava boas coisas para aquele diretor e também para seu projeto a frente do próprio tempo. De fato, Blade Runner nunca virou uma febre pop, mas virou um ícone cult. Os cineastas que buscavam se aventurar na ficção científica olhavam para trás buscando referências visuais e sonoras para ajudar a modelar uma nova visão.
A Perfeita Ironia do Destino
Assim como Kubrick virou uma obrigatoriedade por causa de 2001: Uma Odisseia no Espaço, também virou Ridley Scott com seu filme sobre o caçador de androides. Com tanta martelação, tantas menções e tanta discussão sobre seu conteúdo, as pessoas olharam para trás e perceberam que havia algo transformador em Blade Runner. Se não isso, simplesmente havia algo.
As pessoas passaram a olhar o filme com um carinho diferente o alçando para um sucesso tardio que torna a história dessa produção absolutamente fascinante. De todos os grandes filmes do Cinema, com certeza nunca pensaria que logo Blade Runner ganharia uma sequência nesse século. Mas nunca dica nunca. Com o renascimento da ficção científica cinematográfica nos últimos anos, as produtoras vasculham a fundo o que pode ser financeiramente relevante trazer para as telonas.
Mesmo atingindo aquela posição de filme intocável, nada é sagrado aos olhos do mercado. Blade Runner renasceu na forma de um blockbuster digno dos nossos tempos, mas abordado de modo mais cauteloso, afinal mexer em um ícone cult é algo delicado. Em uma raríssima joint venture – produção conjunta de dois estúdios – vimos a Warner e a Sony unindo forças para fazer Blade Runner 2049 um verdadeiro acontecimento.
Chamaram os nomes mais quentes da indústria para conduzir o longa de modo mais correto e apurado possível, afinal nada poderia dar errado nessa produção. Na direção, o franco-canadense Denis Villeneuve foi o encarregado da árdua tarefa de transportar o clássico dos anos 1980 para a atualidade. Roger Deakins, o maior cinematógrafo da atualidade, traria o requinte da iluminação e visual tão bem elaborado por Jordan Cronenweth no clássico. Na música, Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch entrariam de última hora para substituir Jóhann Jóhannsson e trazer de volta os sintetizadores aguçados de Vangelis. E até mesmo o roteiro contaria com a presença de Hampton Fancher, principal roteirista do original.
Com 185 milhões de dólares na mesa e diversos talentos realmente competentes envolvidos, a expectativa de todos era bastante alta. Será que Blade Runner 2049 também possui aquela alma que todos filmes desejam? É o que descobriremos a seguir.
A Insustentável Artificialidade do Ser
Como disseram, a própria sinopse do filme é um baita spoiler: o protagonista blade runner K é um replicante. Em mais um dia como qualquer outro no trabalho, K caça e mata um replicante Tyrell pré-Blecaute vivendo como fazendeiro de proteína para a Wallace, empresa que conseguiu driblar a crise alimentar com o advento das comidas sintéticas. Depois de destruir o gigantesco replicante Sapper Morton, K nota pistas de algo perturbadoramente curioso na árvore morta do jardim da casa.
Uma data misteriosa está incrustada na madeira. E há algo enterrado e escondido entre suas profundas raízes, uma verdadeira Caixa de Pandora guardando o mais perigoso dos segredos. Depois de uma análise minuciosa das ossadas encontradas, K descobre que o esqueleto era uma replicante chamada Rachael e que, driblando a impossibilidade, ela gerou um filho e morreu no parto.
Sob as ordens de sua chefe, que teme que essa criança possa trazer um colapso na sociedade extremamente dividida entre humanos e replicantes, K parte em busca desse híbrido ou novo ser para exterminá-lo. Porém, sua investigação apenas o conduz para uma jornada de autodescobrimento o encaminhando em uma conspiração muito maior que o papel que ele estava programado para desempenhar. Pela primeira vez em sua vida, o replicante K terá que seguir seus próprios instintos. Escrever seu próprio destino.
É bastante impressionante notar como Blade Runner 2049 é um filme bastante original por si só. A premissa de sua história traz algo de novo para o gênero, além de trazer uma investigação consideravelmente simples, mas de poder magnético tremendo. Se fosse para apontar com clareza o que é a alma do filme, essa certamente tem nome: o protagonista K vivido por Ryan Gosling.
Na verdade a narrativa de investigação, apesar de ser a trama principal desenvolvida por Fancher e Michael Green, é consideravelmente simples e bastante lógica. Suas reviravoltas muito cirúrgicas conseguem fazer o espectador trair o pensamento que havia construído na grande maioria do filme. Os roteiristas estão muito mais interessados no personagem do que na jornada dele.
É justamente por isso que os dois primeiros atos são verdadeiras peças de mestre. Neles, os roteiristas trabalham a narrativa em diversos níveis, explorando aquele futuro pessimista a fundo com inúmeros personagens que surgem de maneira sempre funcional. Assim como em Blade Runner, 2049 tem a grande beleza de desenvolver seu protagonista sem a menor necessidade de diálogos expositivos. O poder da transformação vem através da imagem e de situações calculadas de modos extremamente inteligentes.
Foquemos, por hora, no primeiro ato do longa. Nele, assim como em tantos outros filmes, somos apresentados ao cotidiano de K. Uma morte de um replicante qualquer, suas mini-batalhas ordinárias enfrentando o preconceito dos humanos tanto no trabalho quanto no complexo residencial, no infernal interrogatório de calibragem para checar o nível de confiabilidade de I.A., das ordens ásperas de uma delegada que nutre algum carinho por ele, mas que também o castra a todo momento, até, enfim, chegar em sua simples morada e ser recebido de braços abertos pela sua esposa Joi.
Porém, até mesmo em sua hora de descanso, K não tem paz ou pode ignorar sua natureza artificial. Joi é apenas uma outra inteligência artificial manifestada por hologramas na casa. Os dois nunca podem ter contato físico real. Ela é mais uma ilusão em seu dia a dia. Mas ela se torna a única verdadeira amiga e distração de K, pois há indícios de que Joi seja muito mais do que um programa pré-fabricado.
O espectador compreende naquele momento que a vida de K é cercada pelo artificial. Somente pelo trato da encenação de Denis Villeneuve e da melhor atuação da carreira de Ryan Gosling, é possível denotar certa melancolia em K. Ele simplesmente se contenta com sua existência e se resigna a aceitar seu papel na sociedade. Logo, não há aquela sensação de não pertencimento e visão crítica, niilista, do mundo ao seu redor como tínhamos com Deckard em Blade Runner. Nesse primeiro momento, não é preciso abordar o existencialismo.
Porém, na conclusão desse ato nada menos que perfeito, vemos um ápice criativo na relação de K com Joi. Por conta do sucesso da missão, o replicante recebe um bônus que permite comprar um emanador – um aparelho que torna Joi portátil tornando-a companheira de suas aventuras.
Em um momento belíssimo, vemos K levando Joi para experimentar a “sensação” da chuva. Mesmo que as gotas atravessem o holograma, Joi se sente plena naquele momento poético. Sozinhos no telhado, em um raro momento de escapismo e paz. Quando os dois estão posicionados para dar o beijo de suas vidas, a delegada Joshi liga para K, travando o programa de Joi. O momento mágico e quase real é completamente quebrado pela intrusão humana. K encerra a ligação, Joi permanece travada em uma inconsciência cruel que esbanja inocência. No fundo, K sabe que não há nada fora do ordinário em sua vida plástica. Tudo é artificial, tudo é sintético e sua vida já é programada. Sua liberdade como blade runner é apenas mais uma de tantas prisões que as I.A.s vivem diariamente.
Expansão do Mythos
O segundo ato de Blade Runner 2049 é onde os roteiristas e Villeneuve decidem expandir a mitologia desse mundo. Já com nosso protagonista consolidado, assim como seu conflito – reitero a importância da sensibilidade e atenção do espectador para decifrar as sutilezas oferecidas pela imagem, não é preciso focar no íntimo com tanta ênfase.
Agora é a vez da investigação brilhar. Apesar do miolo ser a parte mais extensa e de espaçamento lento, as novas características e pequenas descobertas fazem valer a atenção do espectador mais atento. A estrutura do texto acompanha a simplicidade do ato anterior, com uma pista levando a outra em uma sucessão de eventos bastante interligados.
A ossada de Rachael leva K até a Wallace Inc. para pesquisar os raros vestígios dos arquivos sobre quando ela era viva. Porém, antes de mover a narrativa, os roteiristas sempre se ocupam em encaixar diálogos pertinentes ao desenvolvimento de K. No caso, a chefe do blade runner ordena que ele encontre e elimine a criança nascida de Rachael. K apenas pondera que nunca matou algo que havia nascido, algo que possuísse alma. A chefe rebate dizendo que K está se saindo muito bem sem uma alma.
Novamente, Gosling se supera na sutileza das variações mínimas do olhar. Disfarçado pelo sorriso amarelo, sabemos que as palavras machucaram o protagonista. Além disso, é sugerido outro ponto importantíssimo ali quando K diz que não sabia que tinha a opção de desobedecê-la. Esse é um ponto-chave do seu desenvolvimento.
Já na Wallace, temos a mesma coisa acontecendo. A dupla de roteiristas usa estrutura similar a cada passo da investigação. Por muitos meios, Blade Runner 2049 é um filme de pouco papo. Quando os personagens abrem a boca para falar, pode ter certeza que algo de muito importante será dito. Em dos raríssimos casos do cinema recente, não há conversa fiada nesse filme.
E realmente coisas importantes são ditas nessa cena também. Pela primeira vez, abordamos o conceito da memória que será algo de extrema importância no resto do longa. O atendente contextualiza sobre o Blecaute e a perda de informações contidas nos drives da época. Ele se admira que o que restou foram apenas os antiquados registros em papel.
A crítica não poderia ser mais atual. A mensagem não serve somente ao filme e a questão da artificialidade da memória e da informação, mas como também atinge o espectador. É uma ponderação de pensamento básico: nós confiamos em sistemas on-line em excesso. Nossos dados são salvos na nuvem, os registros diários também, assim como fotos, vídeos, textos e diversas criações. Na era digital, temos apenas a ilusão de uma segurança estável quando na verdade ignoramos sua fragilidade. Tudo o que possuímos na internet não é real, é ilusão, assim como o cotidiano sintético de K.
Ainda ali, novamente há pinceladas de provocações quando Luv conhece K e indaga sobre Joi, se o cliente está satisfeito com o produto. Ele responde “ela é bem realista”. Como sabemos, o que é realista em Blade Runner também pode não ser real. K mergulhará em ideias e memórias tão realistas que ele mesmo passa a acreditar em uma mentira criada por si próprio, mas que no final é tão artificial quanto sua vida.
Ensaio Sobre a Cegueira
Pela primeira vez no filme, abandonamos o olhar do protagonista. Somos apresentados ao antagonista Wallace e sua motivação para encontrar essa mesma criança que K procura. Um momento raro de exposição surge, suas motivações são definidas e Jared Leto esbanja presença de cena. Wallace é extremamente contido, mas sabe que não é um gênio perfeito como Tyrell foi. O truque final da reprodução entre replicantes foi completamente perdido, e Wallace não aguenta saber que não consegue criar “anjos” perfeitos.
Obviamente, mais uma vez, temos um filme influenciado pela jornada bíblica tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Wallace faz às vezes do Diabo, é a representação clara da entidade maligna. Ele cria seres artificiais e faz personificações falsas de sentimentos. Como Joi, vem de Joy, a alegria. Uma alegria falsa de um produto claramente destinado para acalmar a ânsia da solidão do mundo moderno, da constante necessidade de atenção, apoio e companhia. Mas sabemos que Joi serve para meios muito mais escusos do que aqueles que K utiliza. No fundo, Joi não traz alegria a ninguém, apenas perpetua a falta de sentimento e empatia daquela sociedade nem um pouco distante à nossa.
Ou com Luv, de Love, do amor. Uma assistente replicante que somente representa caos, frieza e destruição. Um “anjo” que é apenas um acólito de um demônio maior. Sob o pretexto de boas conquistas como a erradicação da fome, Wallace se vê como um salvador, um Messias que trará grandes triunfos para a humanidade e sua expansão colonial enquanto o faz massacrando seus “anjos”, sua mão de obra escrava.
Apesar de ser uma representação que já está beirando o esgotamento neste ano, é funcional e traz bons elementos. O principal deles com certeza é quando presenciamos o nascimento e morte de uma replicante amedrontada.
Wallace interpreta que o medo instantâneo de morrer é o que traz a realidade da existência para os replicantes, um apego monumental à vida. Mas o que vemos é ambíguo. A mulher talvez tema justamente existir uma existência artificial, uma vida fadada a memórias falsas, a nenhum prazer, uma vida indesejada, uma vida de dor. Para a silenciosa replicante, a existência é um fardo. Que logo é encerrado quando Wallace a assassina para provar um ponto: mesmo em seus mais novos e perfeitos modelos, nunca haverá o tão sonhado sonho da fertilidade.
Nosso vilão desaparece e Luv passa a espionar K.
Medo da Verdade
De todas as decorrências da investigação, esse trecho que envolve a “descoberta” de K é o mais importante da obra. Com uma construção muito bem pensada, os roteiristas criam uma conspiração dentro de uma conspiração para enganar o espectador até os momentos finais do longa.
Aqui, a construção progride com uma mistura de cotidiano e expansão de mitologia. Há a inserção da personagem da prostituta, bem como temos mais diálogos entre K e Joi, além de maior aprofundamento na relação dele com sua chefe. Como a investigação empaca, K revisita a fazenda de Sapper Morton e descobre mais segredos guardados, incluindo a inscrição de uma data que o assombra com violência.
Em primeiro momento, não sabemos o que é aquele flashback tão súbito, mas logo descobrimos com o penúltimo diálogo de K com a tenente Joshi. O que antes era apenas sugerido, agora fica bastante evidente. Em um pedido para contar uma memória de infância, K indaga qual o sentido de compartilhar algo implantado, algo que não é real. Joshi apenas reforça o pedido e nós conhecemos a história da infância e do cavalo nas fornalhas frias, mas ainda faltando o detalhe crucial da inscrição com a mesma data cravada na árvore morta.
Praticamente no único momento de verdadeira conexão entre K e Joi, temos a sessão de procura pelo DNA da criança nos registros de nascidos naquela data. Enquanto K pesquisa, Joi se manifesta e compartilha o segredo da data com o público – percebam como a entrega de detalhes cruciais da investigação são oferecidos na cadência correta, espalhando informações completas em fragmentos revelados em cenas distintas e espaçadas. Esse é o truque que torna Blade Runner 2049 um filme longo, apesar da narrativa simples. O jogo de fumaça é preservado até os últimos instantes.
Porém, além da revelação da data no brinquedo, novamente temos outro dialogo cirúrgico. Joi diz que é “tudo bem sonhar um pouco” e K responde “não se formos nós”. O protagonista tem plena consciência de sua escravidão sintética e se recusa veementemente a aspirar algo acima disto. Aqui também, no âmago da “caverna”, os roteiristas oferecem a pista derradeira para o espectador que irá ignorá-la completamente. Quando K afirma que a menina de DNA igual está morta, ele também avisa que um deles é uma cópia, um registro falso. Isso funciona como um elegante foreshadowing que nenhum de nós enxergamos por conta de anos de narrativas manjadas que não tem a ousadia necessária para fazer um grande truque como esse. Simples, mas genial.
É particularmente curioso que na metade do segundo ato, os roteiristas mudem um pouco as regras que estavam estabelecendo em sua estrutura. A expansão da mitologia retorna quando conhecemos o Orfanato de Mesa e o lixão de San Diego. Vemos uma humanidade tão marginalizada quanto os replicantes, esquecidos à própria sorte no meio da podridão. Aqui, não há o muro que divide a sociedade, os dois lados são igualmente amaldiçoados.
A realidade que K tanto procura é mostrada com crueza, mas o herói não percebe que ser humano e ter uma história não significa absolutamente nada, que não há salvação naquele breu. K está focado na investigação que parece levar a um beco sem saída, mas ao chegar no Orfanato, reconhece os corredores das fornalhas que tanto viu na memória que julgava ser implantada até então.
Com medo da verdade, K vai até a fornalha fria na qual se lembra de ter guardado o cavalo. Ali, o impossível acontece. Ele “reencontra” seu brinquedo de infância. Se há uma infância, K é mais do que um replicante. K acredita ser o filho de Rachael, a criança que ele tanto procurava. E instantaneamente é apavorado pela ideia de sua vida deixar de ser uma ilusão.
Prisões Artificiais
Após essa até então verdadeira catarse, K retorna para casa a fim de discutir com Joi. Aqui, temos a inserção de um conceito importantíssimo, do nome de K. Joi o batiza de Joe e esse ponto é um ótimo gatilho que só é disparado no fim do filme. Como disse, nada dos diálogos de Blade Runner 2049 vem por acaso.
Para averiguar se sua memória é real, K visita a fábrica de memórias de Ana Stelline. Já aqui, é bem possível perceber o jogo que os roteiristas empregam para semear revelações que estavam na nossa cara. Também, já adiantando o que sabemos, é curioso notar o cuidado de Fancher e Green para criar uma história e contrastes de Stelline com seu pai e K.
Mencionando a palavra apenas uma vez, notamos que um tema pilar do longa é “prisão”. Nossos cinco personagens principais vivem em diversas prisões: Luv, Joi, Stelline, K e Deckard. Todos estão de algum modo isolados, sem liberdade, em confinamentos artificiais. Inclusive, K, Joi e Stelline estão presos em uma enorme mentira: Joi acredita que seu sentimento por K é real e não programado, K acredita ser real e Stelline acredita na razão de seu confinamento – mesmo que isso não seja admitido no final, é bastante lógico que a personagem seja preservada em uma prisão esterilizada tendo a importância que tem.
É um grande momento tanto para a narrativa quanto para Ryan Gosling. A confirmação do seu maior temor o machuca profundamente. O personagem sabe que está em maus lençóis - ele nunca quis ser mais do que era e, subitamente, torna-se um acontecimento na história. É uma mentira tão sólida e boa que os roteiristas constroem que é praticamente impossível não cair como um patinho. Todos nós acreditamos que K era o filho perdido de Deckard.
Nessa catarse amedrontadora, K não tem nem tempo para digerir a informação da sua memória real, tornando-o tão real quanto ela. Aqui os roteiristas fecham as pontas de outras subtramas envolvendo o cotidiano de K: a vida profissional e a amorosa. É algo tão bem desenhado e rimado com o fim do primeiro ato que posso até dizer que me sinto apaixonado pela estrutura dessa narrativa.
Primeiro pelo novo teste de paramêtro insuportavelmente alto. Aqui, o diretor Denis Villeneuve brilha ao usar diferenças tão sutis com o primeiro teste que o espectador pode não perceber, mas as indicações da mudança profunda em K estão lá. O personagem demora mais para responder, engole em seco e sua frio. A resposta do inquisidor que antes era tão simpática – Constant K! – agora se torna irritadiça e áspera com Você não está nem perto do seu normal. K sabe que sua vida como blade runner acabou, assim como sua história com a chefe Joshi. Nesse ponto, a catarse já não o assusta mais. Está na hora de K assumir seu verdadeiro eu.
Para isso conta com Joi, sua única confidente e que sempre disse que ele era especial – atenção ao “sempre disse”. Mas antes de qualquer conversa, Joi o surpreende com a presença da prostituta que K havia conversado com em cenas antes. Como sempre, para Fancher e Green, detalhes que poderiam ser insignificantes ganham novas dimensões, assim como a prostituta ganha mais importância na trama no terceiro ato.
Em uma cena mimese de Ela de Spike Jonze, vemos uma sincronização de Joi com a replicante prostituta, na vã tentativa de tornar a relação amorosa entre ela e K algo “real”. Como de hábito, Villeneuve e os roteiristas não encerrariam o segundo ato em tom otimista e já dão outras pistas sobre a mentira que K passou a acreditar.
O resultado é cruel. A cena da sincronização é tão mágica e romântica quanto a da visita de Joi no telhado antes do sistema operacional travar. Aqui, não vemos todo o progresso do ato, nós sabemos que K e Joi se relacionam. Por isso, Villeneuve, através do cruel contraste dessa cena com a imagem que encerra o ato, consegue transmitir mensagens importantes. A câmera abandona o protagonista e passeia rapidamente na cidade até encontrar um outdoor de Joi. Nesse momento, pela primeira vez, é revelado o slogan do produto: Tudo o que você quer ver, escutar, sentir...
E de fato, Joi somente diz o que K quer ouvir, se exibe do modo que ele quer vê-la – a personagem é apresentada com as vestes e penteados típicos dos anos 1950, de uma tradicional família americana suburbana, trazendo um prato virtual com comidas saborosas de ingredientes reais que disfarçam o gosto amargo da gororoba sintética da qual ele se alimenta – e também faz ele sentir um sentimento “real”. Detalhe até mesmo para a escolha da canção de Fank Sinatra, Summer Wind, uma música sobre solidão, reforçando a ironia cruel sobre Joi e a vida pessoal de K.
A magia de Blade Runner 2049 é não deixar essas sutilezas sublimes escancaradas. É preciso pensar um pouco para decifrar o filme que é consideravelmente bastante fácil de compreender. Dito isso, nós sabemos que K realmente ama Joi. É a única coisa real na vida dele. Mas também sabemos que Joi é apenas programada para adorá-lo e fazê-lo se sentir bem. A visão do filme é essa e isso é sustentado pelos fatos pertencentes à diegese que já apresentei acima. Se não fosse por esses momentos de clara lucidez cinematográfica, o longa perderia bastante do seu encantamento misterioso.
O amor de K pelo artificial, segundo o filme, é um sentimento totalmente irreal. Mesmo na esfera mais íntima do seu ser, K está condenado ao artificial, a uma prisão ainda mais cruel que a de seu trabalho. E ele não tem consciência disso.
Ainda.
A Ilusão de Édipo
Após mais uma preocupação dos roteiristas em estabelecer o caminho das pedras, K se coloca em jornada até Las Vegas, local que Deckard possivelmente está escondido. É aqui que começa uma narrativa que trai o mito de Édipo: ele segue o mesmo tema da profecia do mito e acredita estar cumprindo os passos, mas que no final, tudo o que fez não passava de mais outra ilusão. K não cumpre profecia alguma, K não é o escolhido.
Estamos pulando partes nesse momento. O terceiro ato é o mais silencioso de toda a obra por um motivo bastante simples: só resta uma ponta fundamental para concluir o arco de K e sua busca pelo real.
Possivelmente, toda a sequência em Las Vegas é onde Villeneuve arregaça as mangas para mostrar sua autoria como diretor. Imediatamente já temos uma repetição estética de usar a câmera como parte natural da diegese com o olhar aéreo do drone de K. A cada ordem do personagem, a câmera obedece. É um efeito bastante interessante que é mais corriqueiro na linguagem de games digitais.
Enquanto K vaga entre as ruínas de uma cidade artificial, há alguns importantes planos mostrando duas imensas estátuas erotizadas de mulheres objetificadas, vendidas como produtos em uma terra fantasiosa de prazeres. Nota-se, obviamente, que o diretor busca criar um paralelo entre aquela publicidade de outra era com Joi. A crítica é ferrenha: mesmo com tantos anos de progresso, a humanidade ainda comete os mesmos erros e vícios na modernidade.
A comparação visual é tão forte que uma das estátuas está exatamente na mesma posição que Joi fica no fim do 1º ato, com os olhos fechados, de boca aberta, esperando um beijo que a tire de uma vã e vil existência.
Atravessando o artificial, Deckard tem o seu primeiro contato com a realidade na vida: uma abelha pousa na sua mão. O choque com a realidade é tão impactante que K não se importa de ter um punhado inteiro de abelhas coladas em suas mãos momentos depois. A cena tem significado prático e simbológico. O prático é para mostrar como Deckard sobreviveu tanto tempo sozinho em uma zona supostamente radioativa. A abelha tem diversos significados em muitas culturas, mas a simbologia mais universal é que a abelha simboliza a alma.
Desse modo, temos um foreshadowing muito sutil sobre a conquista da alma, da realidade, da humanidade que K tanto procura. Preste atenção justamente pelas abelhas estarem concentradas pela mão. A mão é enfatizada a todo momento por Villeneuve. Vemos K tentar tocar a artificial Joi e o amor que julgava verdadeiro, vemos ele tocar no papel procurando desesperadamente uma pista, depois tocando no cavalinho de sua memória (um dos toques reais de sua vida) e, por fim, o toque com a neve, a forma sólida mais leve da agua. Uma transição do seu ser.
O encontro de K e o reencontro da plateia com Deckard é fiel a alma do filme: anticlimático, traidor de expectativas. O tempo é perdido em uma grande sequência de luta e tiroteio. As respostas nunca chegam e Deckard se retira. As respostas são encontradas pelas memórias reais e físicas que K encontra no salão.
Não há paz para o protagonista. Luv e outros replicantes da Wallace partem para capturar Deckard acreditando que ele tem o segredo para a reprodução replicante. Esse é o ponto mais controverso do filme: o sequestro de Deckard. Luv explode uma parte do cassino, destrói Joi antes dela completar sua despedida amorosa à K e vai embora. Em uma jogada burra, ela não mata K ali mesmo quando ele está completamente ferido.
Mas seria essa escolha uma verdadeira burrice do roteiro? Na verdade, não, não é. Isso também vem através do minucioso e sutil trabalho de Fancher, dos roteiristas e das atuações de K e Luv. Os novos replicantes têm apenas a ilusão do livre arbítrio. Eles são designados sempre a obedecer às ordens humanas. K diz a Joshi que não sabia que tinha opção de não matar a “criança” especial, K nunca age por si só enquanto está normal, apenas passa a mentir quando já é transformado pela descoberta da “realidade" de sua memória. E partir disso é que K passa a agir por conta própria, tornando-se especial.
Luv já é apresentada como “alguém muito especial por receber um nome”. Ela já é ardilosa e mente, mas também obedece única e exclusivamente às ordens de Wallace. Além disso, não crê que exista um replicante capaz de agir de modo tão abstrato, sem as ordens de um mestre. Logo, não esperava que K fosse partir atrás de Deckard. Para ela, K é só mais um produto da Wallace, como Joi. Logo, faz total sentido ela deixá-lo vivo naquele instante para perecer sem um mestre.
O que Luv espera não acontece.
Quando a Realidade Bate à Porta
Agora sim adentramos as partes delicadas do roteiro. Fancher e Green tinham se preocupado até mesmo em dar explicações lógicas para eventos conhecidos como deus ex machina com os bombardeios de drone para salvar K, mas aqui, não há muito capricho em apresentar uma célula revolucionária para a libertação dos replicantes.
K é resgatado pela prostituta e outros replicantes rebeldes que o apresentam para a líder da vindoura revolução, a replicante da Tyrell, Freysa que também batalhou em Calantha ao lado de Sapper Morton.
Fancher e Green já tinham introduzido Freysa de forma misteriosa na trama. A importância da personagem Mariette, a prostituta, cresce bastante ao amarrar essas pontas, unindo-as em uma subtrama só. De certo modo, mesmo que seja claramente um foco narrativo incluído na esperança de deixar uma ponta solta para uma improvável sequência, os roteiristas têm a esperteza de inserir a revelação final do filme justamente nessa cena.
Freysa surge primeiramente como uma figura materna, pronta para receber K ou Joe, o especial, como o Messias da revolução. K até mesmo anseia por isso, mas Freysa rapidamente se torna uma figura castradora, alguém de papel similar a de Joshi em seu passado. Freysa lamenta, mas informa a K que ele não é especial, é apenas mais um dentre milhares de replicantes escravos de vidas artificiais.
A desolação do personagem é grande e Gosling brilha novamente na entrega da cena. Ele mesmo tem uma catarse e o quebra-cabeça se encaixa inteiro em sua mente. Porém, agora que ele provou a realidade e o livre-arbítrio, como raios voltaria a ser um replicante normal? Ele voltaria a receber ordens de outra figura feminina que acha que possui autoridade? Voltaria a ser um replicante domado?
Freysa tenta persuadí-lo em seu plano pérfido para matar Deckard temendo que ele revele seu paradeiro. Freysa também não é flor que se cheire e sentimos a ambiguidade na personagem. Ela diz que a atitude é “mais humana que humana”, se pondo em um patamar acima da humanidade, proclamando que a resistência precisa sobreviver. Mas o que realmente temos aqui é um instinto de preservação. Freysa não quer morrer e essa é a principal motivação para ela persuadir K. Lembre-se, em Blade Runner, a zona cinzenta é gigante.
A realidade não bate à porta apenas de K. Deckard agora em poder de Wallace também é obrigado a enfrentar seus próprios demônios. Na segunda cena em que o antagonista Wallace surge, temos momentos excelentes de entrega de Harrison Ford e Jared Leto em um diálogo fascinante de tão bem escrito e tão bem sacado.
Fancher e Green mantém a ambiguidade se Deckard é ou não um replicante, além de testarem o limite do sentido da vida do herói. Para compreender a delicadeza cruel da cena, precisamos lembrar sobre o filme de 1982. Deckard odiava sua existência, odiava seu ofício, odiava a cidade, odiava tudo. Não havia prazer em sua vida. Até que ele reencontra um sentido de viver ao se apaixonar por Rachael. A replicante torna sua vida real novamente.
Porém, quando ela morre dando à luz, Deckard novamente se vê assombrado pelo passado, alienação, ostracismo e isolamento. Ele é condenado à infelicidade, a abandonar a própria filha para não ameaçar a vida dela, se lançando em uma cidade fantasma. Deckard só existe, assim como K. Ele não vive e não tem contato com o real. É caso clássico do dead man walking.
É justamente nessa negociata com o Diabo disposto a oferecer maravilhas, sonhos e novas memórias – todas artificiais – que nosso querido herói precisa ter compostura. Quando Wallace oferece uma nova Rachael, um anjo refeito, para Deckard, vemos Harrison Ford se esforçar para trazer o sentimento de pesar e leve repulsa por aquele ser que recusa a acreditar ser Rachael de volta a vida.
Aqui, muita gente aponta como um erro do filme, mas este é um dos maiores acertos hardcore que só fãs muito atentos vão notar. Quando Deckard diz para Wallace que aquela replicante não era Rachael por conta da cor errada dos olhos, na verdade se trata de uma mentira gigantesca – assista ao anterior novamente para averiguar a informação, é fato concreto, além da própria Sean Young possuir olhos castanhos.
A cor dos olhos de Rachael era aquela mesmo na nova replicante. E como sabemos, os olhos são a janela da alma – um dos temas mais presentes do original. Ao se deparar com aqueles mesmos olhos artificiais que ele já amou um dia, Deckard é confrontado com dúvidas: se aquilo tudo foi real, se teve valor, se Rachael realmente era única e se ela realmente tinha uma alma – lembrando que “nascer é ter uma alma, eu suponho”, segundo K.
Wallace oferece um presente, mas apenas amargura ainda mais a existência de Deckard. Preservando o que lhe resta do grande amor que viveu no passado, mente e vira as costas. O fato dele mentir torna toda a situação ainda mais triste, já que é a segunda vez que ela morre. Ele não a vê partir novamente e sai andando, derrotado e destruído.
O Diabo, insolente e possesso por ter sido recusado, se vê na sabedoria de ameaçá-lo. “Você conhecerá a dor verdadeira”. Em sua megalomania arrogante, Wallace não percebe que seu presente foi a maior dor possível que Deckard poderia encarar. Sua vida já não tem mais significado e ele está pouco se lixando para o que irá acontecer consigo. Ele mesmo admite antes do presente que “já conhece a dor".
Desse modo, Wallace, o criador de sentimentos artificiais como Joi e Luv, acaba oferecendo a única sensação que sabe ofertar a todos que consomem seus produtos: dor.
Mestre do próprio destino
Como perceberam, em apenas duas grandiosas e importantes cenas, a realidade atropela e pune K e Deckard. A existência é só dor. E é a dor que nos torna reais, nos lembra a razão de estarmos vivos.
Ainda falta um ponto importante para concluir K. Ele não atingiu o fundo do poço ao terem roubado tudo o que ele estimava, a sua memória “real”. O pior vem com a caminhada noir do policial derrotado. Sob a chuva ácida e lacrimosa de uma cidade fétida e desprezível, K precisa enfrentar a maior das mentiras que tinha vivido até então: o amor que nutriu por Joi.
Interrompido por um holograma outdoor de Joi, K para e escuta. A abordagem da I.A. é muitíssima similar a abordagem de uma prostituta, afinal o holograma só tem uma razão de existir: vender o produto. Mesmo cabisbaixo, um alento de uma antiga amiga parece confortar K, até chegar a hora da despedida de Joi.
Para dar um adeus sem a consciência da história de K com outra Joi, o holograma apenas diz: You’re a good Joe. Essa é a grande sacada de mestre de Fancher e Green e que torna esse roteiro verdadeiramente perfeito. A última catarse de K ocorre ali, diante de seus olhos surrados e mortos.
Ao arruinar um dos momentos mais íntimos que ele compartilhou com Joi, seu batismo, o texto faz com que K perceba que sempre, em todos os sentidos, em tudo que ele acreditava ser real, sua vida é cercada por mentiras artificiais. Com nada mais lhe restando na vida, qual o sentido de existir?
Adaptando o clássico clichê dos filmes policiais: he’s nothing but a loose cannon, K se torna alguém com nada a perder. O alguém perfeito para uma missão suicida. Uma missão para matar Deckard... Ou algo muito maior que isso.
Voltando à Deckard, temos um diálogo curioso entre o antigo herói com Luv. Ao indagar sobre onde estão indo, Luv apenas responde “casa”. A casa de um replicante, no sentido mais literal da resposta, seria sua fábrica. O modo que Luv responde a pergunta, subentende-se que ela conhece uma verdade sobre Deckard que não conhecemos.
Mas isso realmente é o que menos importa nessa altura do filme. K surge e destrói a escolta, batalha contra Luv, a mata afogada e salva Deckard. Porém, até esse momento, o espectador desconhece completamente o objetivo do protagonista. Assim, podemos até acabar torcendo para que Luv triunfe e salve Deckard da morte certa.
Mantendo uma consistência tão única com Deckard, a primeira coisa que ele pergunta a K após ser salvo é justamente “por que não me deixou morrer lá?”. Essa pergunta complementa o raciocínio exposto na parte anterior do texto. Não há a menor dúvida sobre a enorme vontade de morrer depressiva que Deckard possui.
A conversa termina com apenas um “há alguém que precisa conhecer”. Rapidamente, já somos levados ao que interessa. Ao conduzir Deckard até a filha, K atinge algo mais humano que um humano. Agora sim, pela primeira vez, ele conseguiu criar algo real, uma relação humana, um elo.
Disposto a arriscar sua própria vida e até mesmo morrendo pelos ferimentos da luta, K acaba virando um altruísta. E, acredite, pouquíssimos podem se chamar de altruístas na vida, pois talvez seja o gesto de amor mais puro e sagrado que exista nessa gama tão abstrata de sentimentos e moralidade que enfrentamos no cotidiano.
Ele se sacrifica por um homem que acreditava ser seu pai, mas que não era. Ao levá-lo ao encontro de uma filha a qual nunca conheceu, acaba salvando duas vidas confinadas em prisões distintas para que seguissem uma jornada da qual ele nunca faria parte.
Tanto que, antes de entrar no laboratório, Deckard pergunta a K: “O que eu sou para você?”. Ele quer entender esse gesto de bondade no replicante. Ele quer entender uma motivação que nunca será capaz de compreender e mensurar, pois talvez nunca tenha testemunhado um ato tão nobre em um mundo tão pérfido e egoísta.
K não responde e Deckard parte para reencontrar o sentido e alegria de viver – novamente Ford brilha ao explodir de emoção ao ver Stelline. No fim, em seu altruísmo extremamente amável, K se torna mais que humano. Ele é dono de si. Não se move para realizar vontades e missões designadas por terceiros. Ele descobre que o sentimento e os laços entre indivíduos que tornam a vida real e imbuem significado à sua existência. Nesse gesto, pouco importa o destino de Wallace ou de uma revolução.
No fim, contempla a luz, sente a neve caindo e derretendo em suas mãos, sente o verdadeiro gosto da realidade e morre olhando os céus. A serenidade de seu olhar indica que não há mais medo ou amargor, mas satisfação. Sua jornada de Pinóquio para se tornar um garoto real terminou.
Se K encontrará algo além da vida, somente ele sabe. Mas pelo tom tão iluminado e belo desse final, pode ter certeza que K encontrou algo melhor do que sua existência.
Tudo o que você quer ver, escutar e sentir
Denis Villeneuve já dispensa apresentações. Se nunca tinha ouvido falar deste cara até Blade Runner 2049, realmente precisa assistir a sua filmografia muito consistente. Até agora, o diretor não fez um filme ruim ou que atinja o nível do mediano. É tudo do ótimo ao excelente.
Se pudemos captar tantas nuances inteligentes no roteiro do filme, a grande parcela de méritos também recai no colo de Villeneuve. Adaptar um texto cinematográfico em imagens é um tremendo desafio e no caso desse roteiro, no qual quase todo o desenvolvimento dos personagens depende da encenação exata com visual certeiro e experiência sonoro apurada.
Ao contrário de muitos diretores contemporâneos, Villeneuve é um diretor completo. Ou seja, ele pensa na montagem, no som, nas cores, na luz, no design de produção e nos seus atores para trazer a potência máxima da história que pretende contar. É justamente por isso que temos uma grande distinção desse filme com o clássico de Ridley Scott.
É possível ver as influências de Scott, Jordan Cronenweth e Vangelis em Blade Runner 2049, mas são momentos pontuais. Aquele tom do rococó futurista com iluminação baixa e alta contraluz invadindo cenários amontoados de objetos de um passado há muito esquecido é abandonada completamente. Não é função de uma sequência tão distante repetir as mesmíssimas coisas que já vimos há tempos – isso já aconteceu com O Despertar da Força e todos nós sabemos como que isso acabou “beneficiando” o filme.
Villeneuve traz a sua visão sobre o universo de Blade Runner, mas visto sob os olhos de K, um replicante, um sintético. Logo, faz todo o sentido a abordagem clean, sem ruídos, de iluminação milimetricamente calculada. Roger Deakins, o maior cinematógrafo americano vivo, traz seu melhor trabalho ao iluminar essa distopia tecnológica.
Na jornada de K, conhecemos tons frios, bastante dessaturados e de incidência delicada. A iluminação artificial apenas remonta o sentimento de K ao seu redor. Mas os verdadeiros destaques da iluminação surgem quando Deakins resolve homenagear Cronenweth em trechos importantes do filme como durante a luta final.
De resto, os destaques ficam pela conquista tão bela da fotografia em neon que não é tão presente como alguns podem imaginar já que raramente exploramos a cidade de Los Angeles. O filme mais se passa em grandiosas internas do que em cenas externas. Porém, quando o neon surge, o efeito é arrebatador, vide a luz que preenche K quando é chamado pelo holograma de Joi no fim do filme.
O verdadeiro ponto alto de Roger Deakins está na iluminação da estrutura piramidal do escritório principal da Wallace. Ao mesmo tempo que é uma homenagem sutil à arquitetura da Tyrell, a produção inova com a iluminação. Em todos os ambientes do filme, apenas naquele lugar castigado pela escuridão e chuva ácida que cai constantemente no lado exterior da estrutura, que temos a incidência mais bruta de luz natural.
Sim, exatamente. Deakins cria um aparato que consegue mimetizar a luz natural do sol. Mas pela montagem de transição entre um cenário e outro, Villeneuve nos mostra que toda aquela luz divina e belíssima não passa de um truque. Nada mais conveniente que o covil do Diabo ser iluminado por uma luz tão angelical que nada mais é que uma ilusão.
O efeito é avassalador pois quão mais forte é a luz, mais fortes serão suas sombras. E Villeneuve entende bem disso ao apresentar Wallace saindo e retornando às sombras em suas duas cenas. Também é curioso notar que o design de produção sempre tenta encaixar a água nos cenários do covil. Seja para construir uma ilha na qual Wallace permanece ou no escritório de Luv, repleto de luzes cáusticas geradas pela refração da água.
Retornando à direção de Villeneuve, admito que não se trata de seu melhor trabalho como diretor, apesar do mais complexo. Em A Chegada, ele criou uma obra-prima visual como se raramente vê hoje em dia. Em Blade Runner 2049 sentimos que o diretor está mais preso à proposta visual sem experimentar tanto.
Claro que isso não acontece já na abertura do filme que é uma belíssima masterclass de direção. O primeiro plano que vemos é justamente um enorme olho se abrindo. Um olho real ou sintético, não sabemos. Também não sabemos se acorda de um sonho, mas é fato que Villeneuve busca homenagear o original com este primeiro plano.
Porém, assim como constrói contrastes duros na montagem, o primeiro deles já surge aqui: um olho orgânico dá lugar a painéis solares que, em mosaico, formam a imagem de um olho. Já este, totalmente artificial. Um olho que não enxerga a verdade ou o milagre.
A simbologia é tão pertinente a esse primeiro momento que vemos uma névoa espessa quando K entra na fazenda de Sapper Morton. A verdade está nublada e K não chegará perto de descobri-la nesse instante – a primeira revelação está concentrada no segundo ato. A névoa é dissipada depois de Morton falar sobre o milagre permitindo que K encontre a flor na base da árvore morta. Aliás, é curioso que o sentido da descoberta e também redescoberta da vida original de uma árvore morta, mas de uma árvore real.
Há homenagens à Stanley Kubrick, não somente com os jogos centrais dos enquadramentos, mas também por toda a cena do teste de parâmetro de K (uma nova e mais aterrorizante versão do teste de Voight Kampf). Se até então não suspeitávamos da força sonora do filme, aqui ela se faz notada. Villeneuve explora o som para nós sentirmos na pele o amago dos sentimentos de K.
Durante os dois testes, um barulho infernal preenche a sala de cinema refletindo todo o desconforto silenciado que K passa provavelmente em todos os testes. Talvez um medo de morrer, por saber que, se falhar, será eliminado e substituído. Por isso que o barulho termina com um alívio. K consegue enganar quem aplica o teste cotidianamente. A deixa é dada pelo comentário Constante K. Mas depois de uma mudança tão profunda no 2º ato, é impossível continuar mentindo de modo tão eficiente.
São inúmeros os exemplos de como Villeneuve se esforça para criar uma experiência de expansão sensorial do protagonista. Em termos de Blade Runner, Villeneuve não tem tanta preocupação em explorar a cidade, mas em apresentar novos espaços únicos daquele mundo. Para isso, a paleta de cor é sempre alterada: ora profundamente azulada, ora cinzenta e sem vida, ora sépia de tons nauseabundos.
O diretor trabalha enfaticamente na linguagem clássica de câmera parada. Assim como Kubrick, é evidente que Villeneuve deixa o enquadramento dominar o plano e a encenação. Quando movimenta a câmera, novamente é nítido que ela acompanha uma transformação do enquadramento, e não o contrário. Esses planos mais soltos geralmente estão restritos a acompanhar planos aéreos belíssimos que contam mais sobre aquela cidade superpopulosa.
Mas vejam bem, não é uma característica negativa não movimentar a câmera neste caso em específico. O ritmo da montagem de Villeneuve é sempre agradável oferecendo novos enquadramentos que são um festim para os olhos. Diversos enquadramentos têm precisão cirúrgica na construção e mesmo que muitos não tenham valor simbólico, todos são competentes em contar a história.
Essa questão da mobilidade da câmera é uma das principais características de Villeneuve que cada vez mais se torna um diretor de estética irreparável de composição, mesmo que ele esteja experimentando cada vez mais a montagem, uma escola estética hitchcokiana. Lembrando, isso não significa que um diretor é menos completo que outro, apenas que há outra abordagem estética com seu filme.
Na condução da música, Villeneuve traz Hans Zimmer e Benjamin Wallfisch para criar algo único como Blade Runner 2049. Um trabalho que homenageie Vangelis e seus sintetizadores melódicos, mas que crie sua própria identidade. E de fato, a trilha musical dos compositores é bastante distinta da criada por Vangelis. Os temas do filme são mais sintéticos, mais caóticos na construção refletindo também nosso protagonista replicante e seus sentimentos, além de oferecerem “cor” para a cidade.
Já faz um tempinho que Zimmer gosta de inserir efeitos sonoros em algumas de suas composições. No caso, temos a inserção genial do ronco de escapamento furado de uma motocicleta. O barulho incomoda, mas dá outra percepção para a cidade de Los Angeles. Algo sempre inquieto, vivo e com milhares de histórias acontecendo simultaneamente. O curioso é que nunca vemos uma nave ou moto que justifique a presença do barulho. O som incômodo viaja milhas até chegar no ponto de escuta do longa, K.
Villeneuve também se preocupa em usar a trilha licenciada para trazer mensagens não ditas através dos diálogos. Como mencionei muito acima, já tinhamos o uso brilhante de Summer Wind. Mas o melhor da metáfora do uso das músicas antigas, de um período real, vem no encontro de K com Deckard. A mais potente é Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, usada para fechar a sequência de apresentação de Deckard. A música evoca um sentimento de amor paternal ilusório que K passa a nutrir pelo ex-blade runner. Isso é sutilmente desenvolvido ao longo do restante do filme como o fato do protagonista se atirar para salvar Deckard dos estilhaços de um míssil.
A outra, de Frank Sinatra, One for my Baby, traz um diálogo de um cidadão cheio de histórias para contar para um Joe (K), mas que no fim só está ali para tomar uns drinques e cair na estrada. Uma boa contextualização de uma relação paternal impossível e bem menos interessada do que a música que Villeneuve usa para explicitar os sentimentos de K por Deckard. No fim, sabemos pelo altruísmo do protagonista, que ele realmente ama o personagem. A trajetória do uso dessas músicas, portanto, elabora o amadurecimento de K. Seu contato com as músicas reais mais significativas só surgem durante esse trecho em Las Vegas. Depois, a trilha musical computadorizada de Zimmer e Wallfisch retornam à plena potência.
Também é curioso que Villeneuve utilize um compasso de Pedro e o Lobo Prokofiev para fazer o jingle musical da Wallace. É possível sim corresponder os personagens da história com os de Blade Runner 2049, mas também é possível interpretar diversas outras leituras tão interessantes quanto. É apenas uma outra grande sacada esperta do diretor que suscita o debate.
Aliás, vale mencionar a sacada de gênio que Villeneuve teve em replicar Tears in the Rain, uma das faixas mais prestigiadas de Vangelis em Blade Runner, no momento que K morre. É sensível, nostálgico e repete um sentimento forte gerado pelo filme anterior.
Mas não há nada de errado na direção do canadense? Bom, é difícil apontar, mas há arestas óbvias que poderiam ser evitadas. O uso recorrente de flashbacks para explicar a solução do mistério é bastante incômoda, usando um artefato narrativo de exposição bastante preguiçoso que acaba destoando de todo o resto da atmosfera inteligente do filme e do ótimo trabalho dos roteiristas em amarrar o filme.
No geral, a visão de Villeneuve para Blade Runner não deixa nada a dever daquela concebida pelo perfeccionista Ridley Scott. Ambas estão em sintonia e um update futurista foi bem-vindo. Nunca vou esquecer até mesmo do modo que o diretor pensa a publicidade diegética das empresas fictícias do filme (excetuando a Sony). Hologramas surgem do nada surpreendendo transeuntes tocando jingles ou slogans para vender seus produtos ou eventos. É uma visão bastante pessimista, mas realista sobre a publicidade no futuro. Tudo só tende a ficar mais invasivo, mas histérico e mais insuportável.
Mais Humano que um Humano
Mesmo depois de tanto texto, afirmo com categoria absoluta que ainda há mais elementos para explorarmos em Blade Runner 2049. Em um pacote cinematográfico verdadeiramente completo, Denis Villeneuve e o time dos sonhos entregaram uma obra perfeita para ser vista nos cinemas. O ritmo é lento quando comparado aos filmes contemporâneos, mas como discutimos, os roteiristas sabem tornar cada cena um verdadeiro festival de relevância.
Através delas, ganhamos reflexões sobre a memória, o artificial e o principal questionamento sobre o que é real ou não. Para mim, esse filme foi bastante real assim como sua filosofia interessantíssima e original. Ainda que a visão sobre a I.A. seja bastante manufaturada e dê importância absurda na necessidade do significado paternal, da família e da hereditariedade para definir a jornada do protagonista, temos um estudo de personagem magnífico e uma elaboração final para a transformação de Deckard.
São forças diversas que tornam Blade Runner 2049 uma obra magnífica que parece estar destinada a sofrer muitas das dores históricas que seu antecessor sofreu. Mas, pelo menos, já é possível afirmar a pergunta que tantos estão fazendo e que eu fiz no começo do texto.
Certamente há algo em Blade Runner 2049. Aquele algo que acaba consolidando clássicos no decorrer da História.
Blade Runner 2049 (EUA – 2017)
Direção: Denis Villeneuve
Roteiro: Hampton Fancher e Michael Green, baseado nos personagens de Philip K. Dick
Elenco: Ryan Gosling, Harrison Ford, Jared Leto, Ana de Armas, Robin Wright, Dave Bautista, Mark Arnold, Mackenzie Davis, Barkhad Abdi, Sylvia Hoeks
Gênero: Ficção Científica
Duração: 163 min
https://www.youtube.com/watch?v=dZOaI_Fn5o4
O Fim da Ilusão | O Final de Blade Runner 2049 Explicado
Spoilers!
Chegou como um estouro. Blade Runner 2049 se consagrou como um dos melhores filmes de 2017 trazendo peças muito originais para o gênero sempre em expansão da ficção científica.
Como em raríssimas novas interações de consagrados filmes do passado, o novo Blade Runner consegue criar muitas coisas ao mesmo tempo que expande a história do original para limiares que nunca tínhamos sonhado conhecer antes. Logo, sua história termina com diversas pontas soltas, além de confrontar os personagens com destinos amargos.
Um breve contexto
A essência do conflito desse novo filme é a busca de K pelo real. Caso não saibam, K é um replicante e toda sua vida é cercada pelo sintético. Em um trabalho de rotina, elimina um replicante Tyrell pré-Blecaute, Sapper (Dave Bautista). Antes de morrer, Sapper diz a K que ele não valoriza sua espécie por não ter presenciado um “milagre”. A partir das consequências dessa investigação, K se vê completamente envolvido em uma conspiração muito maior do que o seu papel na sociedade.
O “milagre” é, como o personagem descobre depois, a filha de Deckard com a replicante Rachael, a primeira modelo dos novos Nexus 8 (androides com tempo de vida útil similar ao da vida humana). De alguma forma, Tyrell conseguiu atingir o limiar que tanto procurava para acabar com a linha que separava os humanos dos sintéticos: a reprodução natural. Rachael seria a primeiro androide a ter a capacidade de conceber vida. Porém, com o Blecaute, toda a informação sobre a possibilidade de criação desse androide é perdida e como sabemos, Tyrell é assassinado.
Rachael tem uma filha com Deckard depois de fugir com ele no final de Blade Runner. Para proteger a criança, Deckard foge e Rachael morre ao dar à luz. A criança então tem seus dados genéticos duplicados para criar um arquivo falso que indica sua morte. Depois, Sapper a envia para um “orfanato” de sucateiros com apenas um único pertence: um cavalinho de madeira talhado por Deckard contendo a data de seu nascimento.
Lá ocorre toda a memória infeliz que é, posteriormente, implantada em K. A menina é resgatada de sua infeliz vida no orfanato e, talvez pelas condições precárias ou por uma mentira para protegê-la, acaba desenvolvendo um problema imunológico que a impede de sair de uma bolha de proteção. Seus pais adotivos criam um quarto com diversas tecnologias de hologramas para que Ana Stelline não viva em uma prisão. A menina cresce e acaba virando uma ótima profissional de criadora de memórias para serem implantadas em replicantes desenvolvidos pela Wallace.
Ela é a representação do fim do muro que separa humanos e andróides. Ela despertaria uma revolução e acabaria com a escravidão no mundo de Blade Runner.
O Final
Ao fim do filme, Deckard é sequestrado por Luv e Wallace, os antagonistas que querem descobrir como foi possível Rachael e Deckard terem reproduzido natural um novo replicante. A motivação de Wallace é conseguir replicar a tecnologia de reprodução entre replicantes para conseguir atender a demanda impossível de novos Nexus para colonizar os novos planetas dominados por humanos.
Enquanto isso, K é resgatado por uma espécie de Resistência replicante revelando a verdade sobre a filha de Deckard que, até então, K julgava ser ele o replicante especial, o escolhido, etc. Nessa célula da resistência, K recebe a missão de matar Deckard para impedir que Wallace descubra o paradeiro da garota ou que disseque o corpo do antigo Blade Runner.
Sendo a coisa “mais humana” a fazer, o desolado K tem o poder da escolha: matar Deckard ou abandonar o papel ingrato dessa narrativa que assumiu. Mantendo a ambiguidade até o fim, sem revelar a intenção de K, vemos o protagonista impedir Deckard e Luv de chegar em um covil de Wallace.
Depois de uma longa e árdua luta, K mata Luv e... salva Deckard. Com o naufrágio da nave, K fala para o herói que ele está finalmente livre para conhecer a filha que nunca conheceu. Deckard e K então vão até o laboratório de Ana Stelline. K não acompanha Deckard no reencontro.
Gravemente ferido pelo confronto com Luv, K senta nos degraus do prédio. Admira a neve caindo ao redor. Sente o gelo derretendo entre os dedos, interligados. Hora de morrer.
Mas e daí?
De fato, e daí? Bom, há uma beleza na trajetória de K ao longo do filme. E essa trajetória é perfeitamente dividida em três atos e acontecimentos que fazem uma reviravolta em sua psiquê.
No começo do longa, K não almeja nada além de sua vida normal e função. Apesar de sentir um desconforto pela artificialidade que o cerca e até mesmo da sua própria natureza como replicante, K não se odeia como acontecia com Deckard no primeiro filme. K vive cada dia normalmente, já se contentando apenas com sua existência.
Porém, ao descobrir que a memória implantada realmente aconteceu, K passa a suspeitar que teve uma infância. E, portanto, é humano ou algo especial, um evento nesse mundo distópico. Logo, ele não seria mais um replicante como os outros. Finalmente em sua vida artificial, ele poderia dizer que possui algo real: um significado maior. Também teria uma alma, uma humanidade, suas memórias seriam história e comprovariam existência verdadeira, existência orgânica.
Até tudo isso lhe ser arrancado com a revelação de que ele não é o filho de Deckard, ele não é especial como imaginava. Ele é somente um replicante que acreditava ser humano – traça-se um belo paralelo com Blade Runner se levarmos em conta que Deckard também é um replicante segundo Ridley Scott. Lá tínhamos um humano que acreditava ser humano, mas que era replicante. E aqui um replicante que acreditava ser humano, mas que era somente um replicante.
Com isso, K entra em profunda crise existencial. Como voltar a ser artificial se provou um pouco do sabor da realidade? Mesmo que falsa? A líder da célula revolucionária diz a K que a coisa mais “humana” a fazer é matar Deckard.
Porém, nosso protagonista está cansado de receber ordens de mulheres cínicas em posições de pretenso poder. Ele vaga pela cidade até ser confrontado por um outdoor em holograma de Joi, sua antiga namorada virtual que nada mais era que um produto feito pela Wallace para atender a demanda de carência e sexo que a sociedade necessita.
Ali, há uma leve catarse, mas importantíssima. A nova Joi o chama de ‘um perfeito Joe’. No caso, associamos imediatamente que até mesmo seu nome que lhe foi dado pela namorada era artificial, algo completamente sem personalidade, algo programado. Além disso, é possível associar o Joe com John Doe, no inglês significa um Zé ninguém, um fulano X.
Isso afeta fortemente o protagonista a reencontrar um norte na vida. Ele cansou de seguir a programação e a ordem dos outros. Pela primeira vez na vida, K possui o poder da escolha.
A escolha já vira uma das características mais reais e humanas para ele, pois está escrevendo o próprio destino. K vai ao resgate de Deckard e, ainda por cima, o faz reencontrar a filha perdida, conseguindo frustrar os dois lados do jogo: Wallace e a Resistência.
De alguma forma, K percebe que o sentimento humano de afeto, de amor, é algo profundamente real. Isso é justificado pelo encontro do replicante nas memórias sólidas de Deckard: seja em retratos ou nos animais talhados na madeira. O protagonista enxerga o amor do antigo Blade Runner e vê que aquilo é real e cheio de significado. O amor é o que significado e realidade para a existência.
Ao conduzir Deckard até a filha, porém, K atinge um nirvana que transcende o amor. Um sentimento verdadeiramente puro e messiânico: K vira um genuíno altruísta. Ele se sacrifica por um homem que acreditava ser seu pai, mas que não era. Ele salva duas vidas confinadas em prisões distintas para que seguissem uma jornada da qual ele nunca faria parte.
Tanto que, antes de entrar no laboratório, Deckard pergunta a K: “O que eu sou para você?”. Ele quer entender esse gesto de bondade no replicante. Ele quer entender uma motivação que nunca será capaz de compreender e mensurar. K não responde e Deckard parte. No fim, em seu altruísmo extremamente amável, K se torna mais que humano. Ele contempla a luz e morre olhando aos céus. A serenidade de seu olhar indica que não há mais medo ou amargor. Se K encontrará algo além da vida, somente ele sabe.
E pelo tom tão iluminado e belo desse final, pode ter certeza que K encontrou algo melhor do que sua existência.