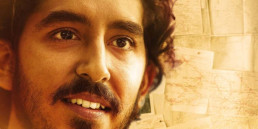Crítica | Cinquenta Tons Mais Escuros, de E. L. James
Os livros de E. L. James se tornaram um fenômeno mundial assim que foram lançados e agora os filmes também seguem essa linha de sucesso. O longa Cinquenta Tons Mais Escuros foi lançado esse mês e aproveitando esse momento, resolvemos analisar o segundo livro também.
Assim como no primeiro livro, vemos aqui a história pela perspectiva de Anastasia. Ela se mudou para Seattle e conseguiu um emprego como assistente de um editor, e mesmo separada (e sofrendo muito por isso!) de Grey ela aceita as flores que ele mandou pelo seu primeiro dia de trabalho e a carona para a exposição de fotos do amigo dela, José. Christian está disposto a reconquistar Ana e durante uma conversa intensa num jantar depois da exposição, ele se declara e propõe um novo acordo. A ideia agora é não ter regras. Sim, isso mesmo! Christian Grey quer tentar um relacionamento baunilha com Ana e claro que ela aceita, com isso ela promete ter fé e paciência com ele.
Parece que a única coisa que pode impedir disso dar certo é o próprio Christian com todos os seus problemas e seu estilo de vida totalmente diferente do de Ana, mas o que não esperávamos é o retorno de questões do passado dele que voltam simplesmente para atormentar a vida feliz do recém casal. Leila, uma ex submissa de Grey, começa a aparecer "perseguindo" eles com pequenas aparições como quando aborda Ana na rua e solta a pergunta "O que você tem que eu não tenho?".
Aqui começa um dos pontos positivos da história, o clima tenso quase constante que E. L. James consegue criar com a ameaça de um ataque que pode acontecer a qualquer momento. Mas infelizmente ela não consegue manter isso por muito tempo, pois começa a criar outros diversos (sério, são vários) conflitos que tem o intuito de aumentar o clima de tensão. Outro conflito que a autora gosta de focar é entre Ana e o chefe, Jack Hyde. Esse por sinal é pior trabalhado do que o primeiro que citei, pois existe sempre uma expectativa de algo acontecer e quando acontece é algo raso e facilmente resolvido. Até Kate e Elena, amigas de Ana e Christian respectivamente, entrem em cena para gerar tensão e alguma discussão sem sentido.
O principal problema de Cinquenta Tons Mais Escuros é realmente a falta de desenvolvimento. Todos os conflitos são resolvidos de maneira tão simples e óbvia, alguns até de maneira casual. E não pense que os momentos bons estão fora dessa regra, a autora consegue ser extremamente criativa criando os cenários mais românticos e belos para o casal, mas todos seguem sempre a mesma fórmula de desenvolvimento regada de clichês.
Apesar de tudo isso, aqui temos um Christian mais aberto e até apaixonado. Pra quem ansiava por conhecer melhor os conflitos internos dele, aqui a autora foi além e entregou os maiores segredos desse personagem quase complexo. A parte boa é mesmo entregando tanta coisa, ainda existe um oceano de coisas que gostaríamos de conhecer sobre ele de tão bem trabalhado desde o primeiro livro. Ana por sinal consegue se abrir mais também, expondo medos que não havíamos conhecido. A melhora na comunicação dos dois e os momentos de confissões de Christian realmente são pontos altos da história. Devo assumir que uma cena onde Grey realmente conta o seu grande segredo (não tão segredo assim, vai!) é um momento tão tenso e chocante que se tornou o meu favorito. Mesmo não sendo perfeito, por todos os problemas que citei estarem ainda presentes.
E isso nos leva as cenas íntimas do casal. Diferente do primeiro capítulo da história, aqui os momentos de conversa entre eles são constantes o que torna real a ideia de relacionamento "normal" deles. Porém não pense que a autora deixou de lado as cenas de sexo mais pervertidas e quentes, elas ainda estão aqui, mas regadas de amor que enriquecem esses momentos.
Enfim, esse livro serve para nos mostrar a ansiedade da autora em expor ideias. Tudo aqui é importante, tudo é urgente e tudo serve para gerar tensão e expectativa no leitor. Porém essas ideias na sua maioria, cansam e atrapalham a história. Falta de desenvolvimento é um ponto gravíssimo, principalmente quando a pretensão é criar uma gama de detalhes e conflitos como aqui. Então, por favor, não espere uma grande obra.
Ps: Se resolver comprar, escolha a nova edição lançada para aproveitar o lançamento do filme. Além de contar com fotos dos bastidores das gravações, conta também com o primeiro capítulo escrito pela perspectiva de Grey.
Crítica | Os Visitantes
O professor e experiente jornalista Bernardo Kucinski é hoje reconhecido no meio literário, principalmente, pelo seu romance de estreia K.: Relato de uma Busca, publicado em 2011, e consagrado como uma das melhores peças literárias sobre a ditadura militar e suas sequelas, partindo do desaparecimento de sua irmã, Ana Rosa Kucinski – no romance, filha do protagonista. O autor, que até o momento já havia publicado livros de economia e política, teve também editada sua produção de contos e novelas. Infelizmente, dessas outras obras, nenhuma abalou tanto quanto o romance.
Agora, sob a égide da Companhia das Letras (que republica agora em agosto também sua maior obra), Kucinski publica mais uma novela: Os Visitantes. Depois de enveredar pelo gênero policial, com muitos tropeços, em Alice, a opção atual é estruturalmente mais segura. Narra a partir do ponto de vista do escritor de K., numa espécie de realidade alternativa de sua própria situação. A cada curto capítulo, um nova pessoa vem bater à porta do escritor e perturbar-lhe, seja para apontar erros no romance, discutir a exposição dos personagens retratados, como suas atitudes são descritas… “Tudo neste livro é invenção, mas quase tudo aconteceu”, epígrafe dessa novela e do romance, torna-se mais que um esclarecimento, um motivo, um embate, uma posição que agora é voltada contra seu próprio criador.
Segundo Kucinski – o de carne e osso – de todos os visitantes, apenas o primeiro, uma senhora sobrevivente do Holocausto, não existiu realmente. Foi, na verdade, um colega historiador que lhe confrontou a afirmação de K. de que até os nazistas guardavam o registro de todas as suas vítimas. O que não é verdade. No primeiro capítulo, o escritor narra que, depois do encontro com a senhora, foi buscar informações na Wikipédia e, em seguida, correu atrás de mais obras de Primo Levi. Surpreende encontrar esse tipo de ação quando se conhece a biografia do autor. O artifício da “ficção” ressurge para provocar proporcional dúvida.
Vale ressaltar que nesse mundo, K. não é um sucesso. A cada capítulo-crônica o narrador se emburra por não ver menção nenhuma a seu romance em jornal nenhum. Apenas o nicho retratado na obra (a comunidade judaica, as colegas de sua irmã desaparecida, parentes e colegas uspianos) parece ter notado sua existência: uma provocação ao nosso país-enigma, não só quanto à construção da narrativa da ditadura, como em relação à recepção de obras que a contestem 30 anos depois do fim desse período da história brasileira – hoje, um cenário absurdo de florescimento da anti-política.
O que conferiu a agilidade seca e chamou a atenção no primeiro romance de Kucinski foi fruto da sua formação jornalística. Preciso, cada capítulo tinha um objetivo, era uma progressão – mesmo que ilusória – da busca dos desaparecidos. Sua inclinação kafkiana, como é discutido em um dos capítulos da novela, (não só pelo uso da abreviação K. para o protagonista, como pela sua brevidade, aspecto labiríntico e total desesperança) retorna através da justaposição dos episódios tenuemente conectados, especialmente quando identidade e reconhecimento nas páginas do livro é a razão da visita. Os Visitantes é um outro relato da mesma busca de K., a busca pela verdade, forçadamente interessada nos mecanismos sistemáticos por debaixo do regime, visto que as chances de realmente encontrar a filha desaparecida são quase nulas.
Bernardo Kucinski afirma em entrevistas que sua dedicação à literatura ficcional funciona como uma sobrevida. As páginas derradeiras da novela, no entanto, parecem uma despedida. O destino da filha de K. e de seu marido são reconstruídos em “Post Mortem”. Até lá, a história se sucede da maneira que anuncia o título “Sangue no escorredor de pratos” – lavando roupa suja. Admitindo conscientemente ou não as problemáticas invocadas pelos visitantes, importa é que o narrador incorpora as autocríticas e reflete sobre a complexidade ética do raconteur dos acontecimentos que “desafogou” em seu livro. Porém, mesmo com apenas 90 páginas, como um todo, falta fôlego à articulação da prosa de Kucinski, deixando pontas soltas pelos curtos capítulos. Não equivale-se aos melhores momentos de seu aclamado romance.
Sua desilusão emociona, mas quem procura algo profundo tematicamente vai encontrar em Os Visitantes uma reiteração estilística anódina. Firme em suas convicções políticas, Kucinski parece frágil em seu processo de reconstruir a História ao reconstruir suas histórias e experiências. De tanto alterar suas perspectivas, desgastou-se. Mas o assunto em si, para todos os leitores, não pode ser deteriorado de forma alguma.
Os Visitantes (2016)
Autor: Bernardo Kucinski
Editora: Companhia das Letras
Páginas: 88
Crítica | A Cura
De tempos em tempos, certos filmes bizarros brotam nas telas dos cinemas. Obras estranhas que exigem um esforço além do convencional para envolver o espectador e agraciá-lo com uma ótima história. É fácil afirmar que A Cura será um dos filmes que mais dividirá opinião do público neste ano. Aqui, na minha opinião, A Cura simplesmente é a obra-prima da carreira repleta de altos e baixos de Gore Verbinski.
Lockhart, um executivo que avança avidamente em seu ofício em Wall Street, é enviado pela diretoria da empresa que trabalha para um sanatório de repouso para idosos milionários localizado em alguma cidade remota dos alpes suíços. O jovem viaja para tão longe na tentativa de convencer um membro da diretoria, sr. Pembroke, em retornar ao escritório em Nova Iorque para assinar o contrato de fusão do escritório.
Porém, ao chegar lá, contrariando suas expectativas em apressar a saída de Pembroke do estranho lugar, Lockhart sofre um acidente e acaba virando um “paciente”. Em sua estadia, descobre que, entre as muitas rotinas de hidroterapia, há muitos segredos perversos por trás das aparências inocentes dos enfermeiros e médicos do misterioso lugar.
A Cura para a Ignorância
A Cura vem do argumento original de Gore Verbinski com Justin Haythe, que também trata o roteiro. O que é preciso levar em consideração logo que embarcar na história é que não se trata de uma narrativa de terror, mas sim de um bom suspense psicológico que bebe das fontes de clássicos romances góticos do século XIX.
Verbinski e Haythe constroem uma história de mistério que possui magnetismo exemplar. A própria estrutura narrativa é bastante similar de Ilha do Medo, ótimo filme de Martin Scorsese. Porém, isso não é demérito. A Cura tem bastante identidade por si próprio como veremos a seguir.
A maior proeza do roteiro é a honestidade para com o espectador. Enquanto Lockhart tem suas sessões de andanças pelo sanatório, atravessando as camadas de uma cebola linda, mas podre por dentro, temos sugestões de elementos bizarros, de cunho possivelmente sobrenatural, fugindo do discurso realista e cético que acompanhamos pelo ponto de vista de Lockhart.
O discurso sobrenatural, de uma mitologia sombria e amaldiçoada sobre o passado do castelo onde o sanatório funciona, é transmitido assim que o protagonista se dirige para o lugar. Uma história de assassinato e obsessão por pureza de linhagem aristocrática através do incesto que causou a rebeldia da comunidade cristã do lugar que, por sua vez, atacou o castelo o incendiando até suas próprias fundações. Logo, esses ares de “fantasia” permeiam a história inteira por oscilações, como um metrônomo.
Obrigatoriamente, o mistério precisa te prender até o filme se resolver no final e seguir ao clímax. Então, até lá, acompanhamos a investigação de Lockhart. Porém, Haythe usa de um artificio clichê para provocar conflitos internos com o personagem. Todo o elemento sobrenatural ou maligno que sugerem uma real natureza do sanatório, é posto em dúvida por outros personagens ou através de choques de realidade sofridos pelo próprio Lockhart. Com um ponto de vista pouco confiável, o mistério atiça a curiosidade.
Então, com essa narrativa que avança através de linhas côncavas e que parecem redundantes e repetitivas, é provável que o espectador se canse, pois fica a impressão de que as revelações pontuais que surgem a cada nova cena não valham todo o esforço das longas sequências – isso é bem subjetivo: eu achei o filme bastante fluído, mas é possível que ache uma chatice, pois as nuances de ritmo são perceptíveis, principalmente no final.
Acredito que a maior graça seja a sustentação da narrativa em um arquétipo conceituado na literatura e em diversos filmes há muito tempo: a jornada forçada para um ambiente inóspito disfarçado de inocente e puro. Verbenski e Haythe, como disse, bebem muito das influências de romances góticos como Drácula, Frankenstein, O Retrato de Dorian Gray, O Médico e o Monstro e alguns contos de Allan Poe para construir a mitologia “mística e amaldiçoada” que ronda o sanatório e da própria natureza do mistério. Revelar como as obras se encaixam na narrativa, seria um pecado.
Ainda sobre a natureza da jornada, diversas outras referências e similaridades surgem com outras obras consagradas do cinema como Um Estranho no Ninho, O Homem de Palha, Nosferatu (Herzog) e, principalmente, Suspiria, o clássico de Dario Argento. São narrativas similares que, quando compiladas, resultam na maioria das cenas de A Cura. Então o filme é um festival de clichês? Sim e não. Os clichês da estrutura narrativa já experimentada por outros filmes não é revolucionada aqui. Nem mesmo é a proposta de Verbinski que parecer querer homenagear tantos clássicos. O mistério é original e envolvente o bastante para suprimir os clichês utilizados para sustentar seu desenvolvimento através de muitas características peculiares e sádicas.
Creio que, na verdade, toda essa abordagem de homenagear os clássicos do terror é a maior força do longa. Como dito, ele não se limita apenas nos góticos como O Castelo de Otranto, nem mesmo com filmes de jornada para o conhecido desconhecido, mas também aborda terror “lovecraftiano” de Nas Montanhas da Loucura e até mesmo romances muito mais filosóficos de Thomas Mann como A Montanha Mágica.
Nesse caso, esses dois elementos ajudam a moldar o trato dos personagens. Tomemos Lockhart, o protagonista que é plenamente desenvolvido. O jovem empresário é ambicioso, disposto a fazer todo o possível para atingir seu objetivo ao ponto de prejudicar a vida e liberdade dos outros. Quando o arrogante Lockhart perde suas posições privilegiadas para entrar em uma descida à loucura que provoca catarses de sua fragilidade emocional, é possível delinear diversas comparações de desenvolvimento com os outros dois personagens importantes da trama.
Já ressalto que a linha de desenvolvimento da trindade protagonista conversa bastante. A evolução de Lockhart geralmente corresponde inversamente com a de Hannah, a única paciente jovem da casa de repouso. Já com Dr. Volmer, o diretor responsável, percebemos similaridades assustadoras entre os dois nos momentos finais do longa – embora Lockhart já tenha sofrido certa transformação nesse ponto.
Paraíso Idílico
É difícil falar de A Cura sem soltar qualquer spoiler, pois muitas de suas qualidades se devem às passagens interessantes das investigações intensas de Lockhart. Entretanto, não é somente de roteiro que A Cura consegue provar seu valor. Conforme dito no primeiro parágrafo do texto, esse filme é a obra-prima de Gore Verbinski até agora.
Algo que é inegável – até mesmo para o mais profundo hater, é a beleza visual de A Cura. É um manjar para os olhos que raras vezes aparecem nos cinemas, pois todo enquadramento é meticulosamente pensado por Verbinski. As cores dessaturadas obedecem sempre a paleta da trindade prata, azul e branco acompanhada de um filtro esverdeado nauseabundo estabelecido pelo maravilhoso design de produção. Os momentos mais coloridos e diversos só surgem perto do fim. De resto, é uma experiência sempre tensa e depressiva.
Embora sua encenação em termos de movimentos de câmera deixe a desejar, o trabalho diversificado da decupagem preocupada em mostrar pontos de vista peculiares supera facilmente essa ausência.
Também é possível interpretar esse estilo de filmagem com ênfase na montagem para explorar espacialmente como uma metáfora da dificuldade de locomoção do personagem. Praticamente, no filme inteiro, Lockhart está aprisionado figurativamente ou literalmente e com mobilidade reduzida por conta de um gesso instalado em sua perna.
Um dos principais focos narrativos que Verbinski martela incessantemente é a água. Obviamente, há uma bela simbologia que agrega ao discurso de promiscuidade contemporânea vs. clássica. A razão pela hidroterapia, além de ser peculiar e garantir espaços maravilhosos criados pelo design de produção, favorece uma busca por um ideal, uma cura. Almas velhas, mórbidas e cruéis que buscam redenção através de sessões intensas de uma limpeza que nunca lavará seus espíritos.
Verbinski apresenta muitos momentos valiosos aqui até mesmo recorrendo em criar diversos labirintos entre aposentos e corredores do sanatório. Uma das marcas mais presentes é o uso espetacular da montagem paralelo que consegue criar metáforas visuais estupendas. Outras vezes, insere algum plano detalhe de um objeto de cena com uma pequena ação para refletir um sentimento de Lockhart. Isso acontece já na primeira reunião com a diretoria quando o protagonista é confrontado para buscar Pembroke – uma gota gelada percorre no suor da jarra d’água gelada detonando certo frio na espinha de Lockhart em pensar nas consequências caso falhar em sua missão.
Não somente em questões de montagem paralela, mas também com alguns espelhamentos bem elaborados, além de outros momentos inspirados de foreshadowing em algumas cenas diferentes. Tudo trazido através do poder da imagem sem a necessidade de recorrer a exposição barata. Aliás, essa é uma característica que pode ser uma faca de dois gumes.
Verbinski realmente aposta no poder de suas imagens para contar ou explicar partes do mistério. Somente há um curto diálogo expositivo para explicar a tal “cura”. Logo, certas dúvidas que surgem ao redor do mistério do sanatório nunca são respondidas o que acho adequado para tornar aquele ambiente ainda mais surreal de onirismo de pesadelos. O que realmente é importante para a história está na tela e é suficiente – lembrem-se dos romances góticos, sempre.
Acredito que a maior graça no trabalho de Verbinski seja na mão firme que tem para conduzir a narrativa sempre de modo dúbio, mantendo um suspense kubrickiano – O Iluminado e Laranja Mecânica são inspirações diretas. Verbinski realmente consegue nos fazer entrar em dúvida sobre os fatos apresentados a todo o momento. Importante lembrar que A Cura basicamente veio de toda a inspiração que Verbinski teve para o filme abortado do game Bioshock, portanto, há também um forte clima de um game survival horror quando o protagonista perambula pelo sanatório.
Mas então onde que o diretor se excede? Exatamente em excessos. Não quero ser arrogante ao apontar que o filme “dura/se alonga demais” porque isso é um dos argumentos mais pífios para atacar uma obra. Entretanto, mesmo que eu tenha apreciado o filme em totalidade, há certos momentos que exclamam um déficit de ritmo que incomoda. Essa impressão é reforçada pela certa estrutura do roteiro que inventa diversos clímaces na segunda metade da obra. Outro excesso é o uso recorrente da melodia fantasmagórica de Hannah que pontua muitas cenas, muitas mesmo.
A Cura para o Bem-Estar
Infelizmente, A Cura deve agradar a pouca gente. A sensação das referências pode dar a impressão de que o projeto é apenas um coquetel de clássicos misturados que resultaram em um novo sabor, mas não é. Quem já é fã das obras citadas, certamente terá uma experiência muito melhor de quem não tem bagagem prévia. Ainda assim, isso certamente pode funcionar como perfumaria.
A história por si tem grande magnetismo, boas atuações e personagens interessantes. Além disso, é a oportunidade em ver Gore Verbinski em sua melhor forma criando um filme que deveria ser lembrado pelo seu visual exuberante repleto de simbologias. Apenas sua narrativa pode ter um formato antiquado que cause estranhamento – principalmente quando suas verdadeiras cores são reveladas.
A Cura receberá o ingrato destino de muitas obras visionárias: condenadas ao rodapé da História até receber seu devido valor em algumas décadas. Assim como o mistério que ronda o estranho sanatório sem nome, há muito mais em A Cura do que os olhos podem ver.
A Cura (A Cure for Wellness, EUA, Alemanha – 2017)
Direção: Gore Verbinski
Roteiro: Gore Verbinski, Justin Haythe
Elenco: Dane DeHann, Jason Isaacs, Mia Goth, Ivo Nandi, Adrian Schiller, Celia Imre
Gênero: Suspense, Thriller Psicológico, Horror Gótico
Duração: 146 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=NsADsl8oMZc
Crítica | John Wick: Um Novo Dia Para Matar
Há algo de empolgante em ver um mundo todo nascendo de forma inesperada. Acho que nem mesmo Keanu Reeves poderia esperar que sua carreira tivesse uma Segunda Vinda tão marcante e bem sucedida quanto a que Chad Stahelski, que fora seu dublê durante a trilogia Matrix, lhe proporcionaria com John Wick. Um filme simples, mas executado com eficiência e que trazia Reeves chutando traseiros e explondindo cabeças com precisão de uma forma que há muito não víamos. A recepção do filme o transformou em um cult do gênero, e uma sequência maior e - sim - melhor ganha forma com John Wick: Um Novo Dia para Matar.
A trama tem início imediato às ações do anterior, com John Wick (Reeves) amarrando pontas soltas de sua vingança explosiva e recuperando seu carro roubado da máfia russa. O passado novamente bate à sua porta quando Santino D'Antonio (Ricardo Scamarcio) vem lhe cobrar uma dívida antiga, algo que a sociedade do qual fazem parte chama de Promissória, exigindo que Wick assassine sua irmã para que ele ganhe um cargo de alto nível dentro da organização. Ameaçado e obrigado pela obrigatoriedade do contrato, Wick retorna mais uma vez da aposentadoria para completar a missão, mas é traído quando D'Antonio revela segundas intenções.
É uma premissa muito mais complexa e desenvolvida do que a do primeiro, a qual carinhosamente é resumida como "o filme de vingança pelo cachorrinho". Era um simples e eficaz que agradou meio mundo, mas acredito que seja mesmo com Um Novo Dia para Matar que John Wick realmente prove a que veio, e quais as possibilidades de seu suculento universo expandido. O roteiro de Derek Kolstad explora ainda mais o funcionamento do Continental, o brilhante hotel dos assassinos, assim como suas divisões internacionais e o alto leque de departamentos e serviços disponíveis, desde um armamento e alfaiataria que impressionariam James Bond em nível de fogo e deixariam a agência Kingsman no chinelo em termos de sofisticação e elegância. Esse é o real credo dos assassinos que a Ubisoft falhou miseravelmente em adaptar com Michael Fassbender, surpreendendo ao revelar diversos civis disfarçados, prestadores de serviço a praticamente toda esquina e uma bizarra expansão que envolve o personagem de Laurence Fishbourne em uma cena memorável, ou as ótimas participações de Ian McShane e Franco Nero.
Um admirável novo mundo, de fato. É o palco perfeito para que Stahelski conduza uma narrativa impressionante e que nunca perde o interesse, mesmo que o roteiro de Kolstad siga uma missão básica e com reviravoltas previsíveis; é funcionalidade feita com estilo. Não sentimos a frustrante sensação de repetição de fórmula, já que o fato de que Wick ter saído de sua aposentadoria abruptamente atraiu a atenção de alguns colegas do Continental, mantendo a perfeita lógica de causa e efeito de um longa para o outro. E, novamente, é justamente a expansão do universo que torna tudo tão novo, especialmente por vermos interações de Wick com outros assassinos e membros do clube, em diálogos repletos de sugestões de interações prévias e até um respeito rancoroso; vide a excelente cena em que toma um drinque com o personagem de Common, após uma violentíssima luta.
Falando de luta, não há outra forma de descrever o que Stahelski faz com as cenas de ação além de puta que pariu. O ex-dublê revela-se um diretor ainda mais competente e criativo do que no anterior, valorizando a coreografia dos brutais confrontos corporais em planos longos e uma montagem ágil, permitindo ao espectador compreender a ação e se impressionar por seu realismo e estilização. As lutas agradam pela coreografia inventiva, enquanto os tiroteios são absurdamente envolventes graças à sua câmera solta (jamais shaky cam) que acompanha o rampage de Wick de maneira fluida, mantendo também o impacto ao trazer sangue digital sempre presente e um design sonoro marcante para cada bala disparada.
É um filme absolutamente violento, sem sombra de dúvidas, mas de bom gosto. Isso porque Stahelski aposta em uma elegância visual que me faz relembrar o fenomenal trabalho de Sam Mendes e Roger Deakins em 007 - Operação Skyfall, já que a maioria das cenas de ação ocorrem em algum tipo de exibição artística, galerias de arte ou outros eventos pirotécnicos que exigem um visual dinâmico do diretor de fotografia Dan Laustsen. Temos tiroteios em meio a um show pop dominado por canhões de luz difusa, uma perseguição de carros banhada pelo neon da Times Square e um confronto brilhante que se desenrola dentro de uma sala espelhada; um artifício que já vimos diversas vezes, mas que ganha vida nova nas mãos de Stahelski e seus enquadramentos engenhosos. É, sem trocadilhos, a real definição de "filme de ação de Arte."
No centro disso, temos Keanu Reeves. Nunca um ator conhecido por seu carisma ou expressividade, Reeves é a escolha perfeita para John Wick, com sua "canastrice charmosa" rendendo inúmeros momentos sutis de humor e frases de efeito apropriadamente desajeitadas e piegas - do tipo que Stallone ou Schwarzenegger soltariam na década de 1980. Vale ressaltar também como Reeves mostra-se incrivelmente dedicado às cenas de ação, sendo possível notar seu esforço e competência ao rapidamente recarregar armas de fogo ou imagens inacreditáveis como ver o ator no volante realmente chocando seu carro com outro veículo; o enquadramento de Stahelski em tal momento é revelador demais para suspeitar de CGI. Ah, e Wick tem um novo cachorro, sendo sempre divertido observar a doçura que fornece ao animalzinho.
John Wick: Um Novo Dia para Matar é o raro exemplo de continuação que supera o original em absolutamente todos os aspectos, impressionando pela qualidade de suas cenas de ação e o ambicioso universo expandido que desabrocha e deixa portas abertas para uma inevitável continuação. Que Keanu Reeves não pare quieto em casa.
John Wick: Um Novo Dia Para Matar (John Wick: Chapter 2, EUA -2017)
Direção: Chad Stahelski
Roteiro: Derek Kolstad
Elenco: Keanu Reeves, Riccardo Scamarcion, Ian McShane, Laurence Fishburne, Ruby Rose, John Leguizamo
Gênero: Ação
Duração: 122 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=REt99QNJ5Gs
Crítica | Nas Estradas do Nepal
Durante a Guerra Civil do Nepal (1996-2006), conflito entre o governo monárquico e os rebeldes comunistas (denominados maoístas), que exigiam o estabelecimento de uma república, houve um cessar fogo. É nesse período que “Nas Estradas do Nepal” (Kalo Pothi) se estabelece e sob o ponto de vista de Prakash (Khadka Raj Nepali) e Kiran (Sukra Raj Rokaya), dois garotos habitantes duma pequena vila ao norte do país e divididos por suas castas sociais.
Parkash é um dalit filho do caseiro faz-tudo (Jit Bahadur Malla) da família de seu colega. Kiran pertence à linhagem mais endinheirada da vila. Eles são melhores amigos, apesar das advertências de não passarem tanto tempo juntos. O preconceito existe, porém é brando, afinal, o vilarejo é pequeno e humilde, não dando espaço a manifestações discriminatórias tão explicitas como acontece em grandes centros urbanos. Todavia, a casta mais pobre é excluída socialmente, conforme acompanhamos a família de Prakash. Eles executam trabalhos braçais e de serventia, e estão constantemente obedecendo ordens e baixando a cabeça.
Os dois moleques se aventuram pelas ruas de terra do povoado onde moram, sempre com uma nova atividade em mente. Kiran costuma dar as ideias, Parkesh executa – de certa forma, perpetuando o ciclo que divide suas castas, ainda que, para os dois, ser pobre ou rico não faça diferença. A câmera tem planos longos e é quase que objetiva, já que acompanhamos a cultura local sob a perspectiva virginal de duas crianças. A história, então, ganha camadas quase documentais enquanto a narrativa avança.
O elemento que une e motiva a dupla a uma nova missão é a galinha que Parkesh ganha de presente de sua irmã mais velha (Hansha Khadka). A ave pertencera à mãe recém-falecida do menino, então ele e seu comparsa assumem como missão cuidar do ave com fervorosa dedicação. Mas a vida de uma penosa não é fácil num lugar como aquele e ela acaba indo parar nas mãos dum senhor de outra cidade. Os jovens decidem cruzar as perigosas fronteiras para recuperar o animal de estimação.
Dentre os aspectos técnicos, a fotografia de Aziz Zhambakiev – premiado em Berlim por outro trabalho – é o que chama mais atenção. É pautada em tons terrosos que harmonizam com roupas gastas, enquanto camufla os habitantes da região na paisagem árida e cenografia rústica com casas de pau, concreto e cores simples. A vegetação verde escuro combina com as vestimentas dos soldados – de ambos os lados – da guerra posta em pausa.
Ainda que o contexto seja entre o cessar-fogo da revolução nepalesa, o clima é hostil e os maoístas não estão parados, afinal viajam continuamente pelo país para recrutar jovens para a causa. Sente-se que algum conflito logo eclodirá. Eles chegam à vila e levam embora consigo alguns sangues-frescos, incluindo a irmã de Parkesh, mas a causa deles não é bem definida. Por que ela decidiu se unir? Nunca sabemos. Por outro lado, nem seu irmão. Seria difícil para crianças entenderem do porquê de uma revolta comunista no país, mas, mesmo assim, os guerrilheiros que ajudaram a libertar grande parte da população do imperialismo imposto não têm direito à voz. São retratados como rebeldes confusos e liderados por uma cópia étnica do Che Guevara. Essa frieza na representação do grupo torna seus componentes descartáveis, meros peões. Assim, no momento de clímax, as baixas do conflito não causam empatia, deixando que a possibilidade de um momento dramaticamente intenso se perca. O espectador não se permite ser deixado nu e desolado como seus personagens.
“Nas Estradas do Nepal” foi premiado no Festival de Veneza – melhor filme no Fedeora Award, uma categoria especial –, foi a escolha do país para submissão oficial ao Oscar de língua estrangeira e, segundo o Nepali Times, é “um exemplo da nova onda do cinema nepalês”. O diretor e roteirista, Min Bahadur Bham, entrega-nos um drama de irmãos – seja na camaradagem ou nos laços familiares –, com toques de humor e estrelado pela figura central de um jovem e determinado dalit, enquanto contornado por detalhes da cultura local e uma crítica social inocente, porém presente.
Nas Estradas do Nepal (Kalo Pothi, NEP – 2015)
Direção: Min Bahadur Bham
Roteiro: Min Bahadur Bham, Abinash Bikram Shah
Elenco: Khadka Raj Nepali, Sukra Raj Rokaya, Jit Bahadur Malla, Hansha Khadka
Gênero: Drama
Duração: 90 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=mO5RcM-hiM4
Salvar
Crítica | Um Homem Chamado Ove
Baseado no romance de Fredrik Backman, escritor, colunista e blogueiro sueco, Um Homem Chamado Ove trata de um cotidiano ocidental nada distante. Um dos mais velhos residentes de um condomínio de casas, Ove (Rolf Lassgård) é um viúvo plenamente rotineiro, linha dura, seco, programático, disciplinado. Não é um militar. É só um típico homem com a doença dos costumes, obsessivo pela tradição, pela ordem, pela seriedade. Foi por muitos anos síndico do condomínio, até sofrer um “golpe”, atitude que só contribuiu para o enrijecimento de sua conduta, da vigilância e da aplicação das regras no bairro.
Fatigado das irresponsabilidades dos novos moradores do condomínio e dos ruídos comunicacionais do novo século, Ove decide se juntar à esposa na outra vida. Suas tentativas de suicídio secreto, por enforcamento, porém, são interrompidas uma série de vezes. Sua nova vizinha sem noção, a iraniana Parvaneh (Bahar Pars), interessada na amistosidade que o aparente pétreo coração de Ove guarda, desperta nele uma nova esperança na vida dele, mesmo que à força. À força do destino, como quer pintar o filme.
Um Homem Chamado Ove, lançado na Suécia em fins de 2015, foi um sucesso comercial estrondoso no país, popularidade devida também ao livro, maior fenômeno literário em questão de números do país desde a trilogia Millenium de Stieg Larsson. Se pensarmos no caso dos romances policiais, eles nada tinham de especial, para além de desenvolverem bem uma fórmula – ao menos nos dois primeiros títulos. No caso de Ove, não se trata de uma série. O que importa, no entanto, é o tipo de história narrada. E como pode-se perceber dos frutos fílmicos da obra de Larsson, os americanos, mais experientes, versáteis e com melhores condições de produção (ainda mais com a mão de alguém como David Fincher), fizeram em um filme o que três suecos não conseguiram fazer. Obviamente, Hollywood, mesmo com a exclusão de regionalismos, sabe desenvolver narrativas capazes de gerar lucro. Infelizmente, a maior parcela desses filmes são remakes autodestrutivos. Foi Fincher que adicionou sal, pimenta e seu tempero secreto na adaptação de Larsson. Agora, transformar essa adaptação de Backman em algo mais interessante é tarefa mais difícil.
O diretor do filme, Hannes Holm, faz em Ove um filme quadrado demais, transmitindo uma sensação de “superprodução” local. A premissa já é uma velha fórmula americana que as pretensas particularidades suecas não conseguem suplantar, seja lá que estereótipos sejam pensados. Essa tentativa de dar um outro tom, um humor negro que brota da austeridade das situações, violência branda e ainda sem tesão, não passa do primeiro terço do filme. Uma vez liberto dessa apresentação sem sal e sem cor, o filme entra numa derrocada açucarada de descoberta do personagem através de flashbacks vibrantes, expondo didaticamente como um pobre jovem construiu sua vida após perder o pai, encontrou o seu amor (a professorinha), passou de peão a engenheiro e perdeu tudo por barreiras mundanas: a irresponsabilidade alheia, a burocracia, o preconceito. O romantismo potente é estragado pela perda e os traumas expurgados na tela são paulatinamente transformados em boas ações, na reconstituição de um ambiente aconchegante, na, enfim, pacífica passagem para o outro lado.
Tudo se constrói da maneira menos realista, mais metafísica e, nos instante finais até, melodramática. Calcado nas bases da simpatia e do modelo de prosperidade espiritual, o filme se alonga para incluir cenas de carinho, ao invés de apostar nos pequenos gestos. Para um personagem tão rotineiro e pretensamente ordinário, o filme contém momentos explícitos demais para evocar simplicidade onde só há uma maquinário perverso do emocional.
O filme de Hannes Holm é quadrado demais especialmente frente a representantes do cinema sueco contemporâneo, como as inventividades de Roy Anderson (Um pombo sentou num galho e refletiu sobre a existência; Nós, os vivos) ou de Tomas Alfredson, de Deixa Ela Entrar, sueco refilmado nos EUA – mas que o original é melhor. Se é para Um Homem Chamado Ove ser repasteurizado no grande polo industrial do cinema, que seja antes das refilmagem de Toni Erdmann, esse sim um filme simples, rigoroso, muito mais cotidiano do que qualquer ronda que o não tão velhinho artificial Ove poderia planejar.
Um Homem Chamado Ove (En Man Som Heter Ove, Suécia – 2015)
Direção: Hannes Holm
Roteiro: Hannes Holm, baseado no romance de Fredrik Backman
Elenco: Rolf Lassgård, Bahar Pars, Filip Berg e Ida Engvoll
Gênero: Drama
Duração: 116 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=HTkiDY2yLIE
Crítica | A Tartaruga Vermelha
Numa ilha deserta, o corpo de um homem semiafogado é deixado na areia após enfrentar a tormenta dum mar agitado. Desmaiado, é desperto por um siri do tipo maria-farinha que, com jocosidade, penetra sua calça surrada. O eco dum Robson Crusoé naufragado acorda assustado e espanta o crustáceo de sua vestimenta. Ele olha aos lados e já sabe: está solitário.
Na animação francesa, produzida pelo renomado japonês Studio Ghibli (A Viagem de Chihiro, “Tartaruga Vermelha” (La Tortue Rouge), o diretor Michael Dudok procura transmitir seu fascínio por histórias como o clássico de Daniel Defoe. No entanto, a narrativa sem falas está menos preocupada em desvendar formas de sobrevivência num ambiente desolado e mais no modo como um homem se sentiria e interagiria com a natureza ao seu redor.
Como dito, não há diálogos – apenas esporádicos gritos expressivos. O personagem é, então, um apátrida destituído de personalidade, o arquétipo de perdido, papel branco a ser preenchido pelas sensações do novo lar. A belíssima trilha de Laurent Perez Del Mar existe conforme o universo, o tempo, a fauna e a flora interagem em volta do herói. Nós, como espectadores, somos submetidos ao vai-e-vem das ondas, o farfalhar das folhas, ventos fortes, ecos, pipilar de albatrozes e ao movimento dos simpáticos siris – parentes daquele primeiro. Exploramos a terra junto com esse protagonista desorientado e conhecemos o mapa local dotado de floresta tropical de bambus, pedras litorâneas, vastas praias e infinito mar.
Passada essa fase, a segunda metade do longa assume tom de fábula quando nosso Crusoé conhece a personagem-título, uma mulher misteriosa com quem se relaciona. A partir daí pode-se relacionar a trama com alguns temas antes trabalhados em “Father and Daughter”, curta-animação do mesmo criador e vencedora do Oscar em 2011. Lá, Michael Dudok havia trabalhado intimamente com a relação de abandono entre um pai e sua filha. No longa-metragem, o diretor expande para o cosmo de uma nova família, formada na ilha. Vemos o surgimento dum lar e seu desmantelamento, conforme o primogênito amadurece. É íntimo e comovente.
“Tartaruga Vermelha” oferece uma narrativa poética que aposta em sentimentos, sons e imagens com arte caprichosa, além de fortalecer o drama da relação familiar. A animação em 2D, desenhada manualmente – com exceção das tartarugas marinhas digitais devido à enormidade de detalhes –, é dotada de uma paleta de cores harmoniosa e cheia de texturas. É um deleite para olhares atentos que prezem pela minuciosidade do paisagismo requintado. Michael Dudok é ilustrador de formação, não abdica do trabalho artístico e, por isso, garante com tanta legitimidade sua indicação no Oscar de Melhor Animação, assim como a merecida conquista do prêmio especial de júri na categoria Un Certain Regard (Um Certo Olhar) em Cannes 2016.
Esse é o primeiro filme não japonês produzido pelo famoso estúdio responsável por obras do mestre Hayao Miyazaki e não fica atrás das obras tradicionais. “Tartaruga Vermelha” presenteia seu público com uma linda e contemplativa animação, uma certa fuga da explosão de cores e artificialidade que Hollywood costuma submeter-nos. Há um respeito profundo pela natureza, exaltando a beleza da paisagem e oferecendo uma experiência empírica, mesmo que animada, dum lugar onde o ambiente é racional e tem personalidade.
A Tartaruga Vermelha (La Tortue Rouge, FRA/JAP – 2016)
Direção: Michael Dudok de Wit
Roteiro: Michael Dudok de Wit, Pascale Ferran
Gênero: Animação
Duração: 80 minutos
Escrito por Rodrigo de Assis
https://www.youtube.com/watch?v=gylyhyqeSWQ
Crítica | Lion: Uma Jornada para Casa
Inspirado no livro auto biográfico, “A Long Way Home” (2012), “Lion – Uma Jornada Para Casa” conta a história do autor, Saroo Brierley, que se perdeu da família biológica aos cinco anos de idade e vinte e cinco depois tenta encontrá-los.
Lion é um filme de estrutura pautada sempre em pares e dividido em duas metades. É sobre a ida e a volta de um indivíduo por suas origens. Na primeira parte, passada na Índia, Saroo (Sunny Pawar) é um garoto de família pobre e, junto ao irmão mais velho Guddu (Abhishek Bharate), tenta de tudo para conseguir trocados que complementem na renda de casa. Desde ajudar a mãe no trabalho pesado de carregar de pedras, até roubar carvão em trens de carga e, sempre com bom humor, Saroo almeja o dia em que poderá comprar os apetitosos jalebis. Numa noite, Guddu vai à área movimentada da cidade para trabalhar e leva o pequeno consigo, que acaba se perdendo, entrando num trem errado e indo parar na grande Calcutá, há cerca de 1600 km de sua cidade. Por algum tempo vive na rua até que vai parar num orfanato, porém, é incapaz de dizer de onde veio e acaba indo para a fila de adoção, sendo então levado por uma família da Austrália.
Saroo mais velho (o vencedor do Bafta 2017 Dev Patel, de Quem Quer Ser um Milionário? e Chappie) abraçou a nova cultura. Somos apresentado a um homem forte e saudável saindo da água trajando roupas modernas de surf, uma cena que reforça sua metamorfose plena. Ele fala com sotaque australiano e até diz torcer no críquete para seu país de criação ante o biológico (ambos são rivais no esporte). Seu alter ego juvenil é um estranho para si mesmo, até que, numa festa de amigos, suas lembranças reprimidas são reativadas ao defrontar-se com uma porção de jalebis. O herói, então, sente o vazio de uma vida inteira deixada para trás. Ele ouve os gritos de desespero de sua mãe que perdeu um filho e de Guddu procurando-o na estação de trem.
As duas histórias caminham paralelas. Na Índia do jovem Saroo, tudo que a falta de dinheiro esvazia, é preenchido com o amor que une sua família e o cuidado que um tem pelo outro. Apesar da vida ser mais difícil, é muito mais simples. O próprio tom desse ato é mais leve e tem menos diálogos – todos no idioma local (hindu), evitando ocidentalizações. O diretor, inclusive, diz que inspirou-se muito na animação Wall-E (2008) para contar essa história e sabe como captar a inocência e ingenuidade no olhar do jovem Sunny Pawar. Por outro lado, nos anos posteriores, a segurança financeira da casa é garantida. A instabilidade é emocional, já que o problemático irmão mais velho Mantosh (Divian Ladwa) – também adotado e indiano – sofre de algumas psicoses e aptidão por más decisões, causando situações que tiram o sono da mãe (Nicole Kidman). Saroo vive bem, mas assim que se depara com o vácuo dentro de si por causa da perda de suas origens, começa a desmoronar. Há dois momentos de perdição para o personagem principal e são justamente quando ele perde a figura que o guia. Na primeira metade é Guddu, na segunda, a namorada interpretada pela sempre ótima Rooney Mara (A Rede Social e Millennium: Os Homens que Não Amavam as Mulheres). São princípios paralelos e opostos ao mesmo tempo.
A partir do ponto que sua memória reativa-se pelo olfato, Saroo passa a lembrar-se da infância na Índia. Ele não sabe o nome da cidade, mas enxerga uma caixa d’água na estação de trem e, usando de uma “nova descoberta” tecnológica, o Google Earth, Saroo inicia sua busca. Sozinho, assim como no final da outra metade do longa-metragem.
A relação do personagem principal com alguns coadjuvantes, como seu irmão e pai adotivos, é mal investigada, mas a ligação que Saroo estabelece com suas mães, ou seus suportes (Guddu e a namorada) atinge profundidade íntima necessária, compensando.
O diretor estreante Garth Davis tem mão muito segura na condução da trama. Ainda que aplique uma estética básica de construção narrativa, ele não deixa pontas soltas, nem subestima o telespectador, evitando explicações literais. Tudo flui bem e é fácil de digerir, mas é um filme comercial, afinal começa com um picote de paisagens e termina com uma música pop feel good para que o público consiga se recompor rapidamente do final comovente. A trilha, melosa e enjoativa na maior parte – principalmente nos momentos enternecedores –, ganha temperos vibrantes e distinto quando mescla elementos indianos na composição.
Garth Davis dá a entender que tem plena noção da proposta do filme e cuidou para que o tom fosse leve. Por mais que seja gostoso de assistir, o público não pode permitir-se a desatinar em choro, pois o drama não se estende por tempo o suficiente. No final, só algumas lágrimas bastam para absorver Lion e preencher o vazio que somos levados a sentir junto com Saroo Brierley.
Lion: Uma Jornada para Casa (Lion, EUA, Austrália, Reino Unido – 2016)
Direção: Garth Davis
Roteiro: Saroo Brierley, Luke Davies
Elenco: Dev Patel, Nicole Kidman, Rooney Mara, Sunny Pawar
Gênero: Drama biográfico
Duração: 118 minutos
Escrito por Rodrigo de Assis
https://www.youtube.com/watch?v=R08HjFmDa3A
Salvar
Salvar
Crítica | Santa Clarita Diet - 1ª Temporada
Há algo estranhamente cômico e mórbido na nova série da Netflix, Santa Clarita Diet, estrelada por Timothy Olyphant e Drew Barrymore. Sua premissa pode não ser uma das mais originais, mas o modo literalmente visceral como ela é tratada é o que chama a atenção aqui: a história gira em torno de Sheila, uma corretora de imóveis que vê sua vida virar de cabeça para baixo ao se transformar numa morta-viva.
A ideia parece ordinária, a priori, principalmente se nos recordarmos de outras produções audiovisuais que retrataram o mesmo tema com perspectivas diferenciadas: The Walking Dead, cujas criaturas fazem parte do núcleo antagonista, e iZombie, que traz uma detetive zumbi como personagem principal, são séries completamente divergentes entre si e que fornecem outros pontos de vista sobre o mesmo assunto. De que modo Santa Clarita Diet conseguiria superar ou entregar uma narrativa original utilizando-se do mesmo prisma narrativo?
Primeiramente, podemos dizer que o show criado por Victor Fresco tem uma mitologia própria. Apesar de não ser ambientado num cenário pós-apocalíptico ou numa sala legista, a narrativa absorve estórias antigas e medievais que se relacionam a aparições de mortos-vivos na sociedade e de como isso ocorria. Diferentemente do que achamos, o modo de contaminação não é explorado, apesar da existência sim do “paciente zero” - Sheila - a qual é incumbida com tais habilidades, que mais tarde se mostram um fardo.
A série se passa no subúrbio de Santa Clarita, um local aos moldes de Wisteria Lane (Desperate Housewives), dentro do qual mora o casal principal. Eles são corretores de imóveis que de repente se deparam com mais um obstáculo - como se não bastasse a impetuosidade e a vicissitude de seus vizinhos inconstantes: num dia qualquer - e já aqui somos apresentados ao incidente incitante da trama principal - Sheila literalmente põe as tripas para fora e começa a se alimentar de carne crua, além de tornar-se imune a ferimentos. Mas, ao contrário do que se espera, ela não se transforma numa máquina de caçar incontrolável; muito pelo contrário, continua vivendo sua vida normalmente - exceto por alguns acessos de impulso e alguns sucos duvidosos com cor de sangue.
A outras narrativas se desenvolvem através disso. Temos, além do casal principal, a filha Abby (Liv Hewson) e seu amigo Eric (Skyler Gisondo), que tentam ajudar a família a enfrentar todos os novos problemas e as suspeitas levantadas por um dos vizinhos, Dan (Ricardo Antonio Chavira), policial do distrito da Califórnia cuja principal nuance de personalidade é a desconfiança exacerbada e o machismo destilado. Santa Clarita traz o seu potencial sim nos personagens e, como supracitado, numa nova vertente para um tema considerado batido, mas falha no quesito identidade.
É preciso saber que o desenrolar das situações é acompanhado do mais puro gore - um gore talvez tão excessivo que faça grande parte dos espectadores prefira permanecer com a sutileza de obras semelhantes a mergulhar em cenas tão explícitas quanto essas. Não estamos falando de cabeças cortadas, mas sim de sequências primitivas e cruas que são capazes de transgredir o próprio significado da palavra “escatológico”.
A série parece não ter uma estruturação, quando falamos de roteiro. Ao que o trailer e os featurettes indicavam, a história principal deveria seguir os passos de uma tragicomédia híbrida com thrillers de perseguição. Sheila e seu marido, Joel, deveriam - ao menos em teoria - adaptar suas rotinas de corretores de imóveis à caça de carne fresca para saciar a vontade da protagonista e mantê-la apta para ainda conviver em sociedade. Mas não é isso o que acontece, tirando em alguns poucos episódios. Tudo permanece num âmbito mais intimista que não se alastra para uma arquitrama - e o foco começa a existir nos momentos finais, quando a preocupação do corpo físico de Sheila começar a se decompor torna-se motivo de procurar ajuda.
A comédia é bem utilizada, principalmente se levarmos em consideração a grande experiência que Barrymore e Olyphant têm dentro deste gênero. Suas atuações podem não agradar a todos, mas não se baseiam em estereótipos de gênero, mantendo uma sutileza agradável para construir os personagens e fornecer mais endossamento e fidelidade aos seus arcos. Sheila é a matriarca da casa que se transforma, de uma para outra, numa rebelde sem causa imprevisível e cujo lado racional parece tê-la abandonado junto com a vida. Joel tenta ignorar essa brusca mudança ao mesmo tempo em que pensa num futuro próximo e nas possíveis consequências de tê-la dentro de casa. Através dos episódios, percebemos que ele não sabe se a perdeu ou se ainda a tem - apesar de ser uma morta-viva. Durante os trinta minutos do episódio piloto, cuja capacidade de envolver o público não atinge as expectativas necessárias, todos estão muito confusos, tentando compreender como suas vidas culminaram numa virada inesperada.
É quase impossível dizer que o drama existe em Santa Clarita, visto que a maioria de seus diálogos utilizam do foreshadowing ou do autoexplicativo para a atmosfera de cada uma de suas cenas - e tal estética funciona a maior parte do tempo. Entretanto, não é de se esperar que as construções narrativas mais densas e sóbrias venham carregadas de fórmulas pré-existentes - e aqui ares novelescos adornam estes momentos. Temos, por exemplo, Joel e Sheila conversando sobre seu relacionamento e sobre tudo o que aconteceu de forma a chegarem num consenso e finalizarem os clímaces em poucos segundos. Nossa conexão com os personagens é sustentada pelos escapes cômicos, mas de nenhuma forma são endossados pela seriedade de alguns pontos a serem explorados - em teoria - pela premissa.
Santa Clarita Diet é uma série original. Seus elementos retomam outras obras, como já dito, e alguns aspectos ainda precisam ser trabalhados. Mas confesso que o season finale me deixou na expectativa para acontecimentos futuros - e creio que, caso venha a ser renovada, poderá mergulhar ainda mais numa mitologia e em arcos ainda não tão bem explorados assim.
Santa Clarita Diet - 1ª Temporada (Idem, 2017, Estados Unidos)
Criado por: Victor Fresco
Direção: Ruben Fleischer, Marc Buckland
Roteiro: Victor Fresco, Tamra Davis, Lynn Shelton, Ken Kwapis
Elenco: Drew Barrymore, Timothy Olyphant, , Liv Hewson, Skyler Gisondo, Ricardo Antonio Chavira, Mary Elizabeth Ellis, Richard T. Jones
Gênero: Comédia
Duração: 30 min.
https://www.youtube.com/watch?v=qobxBv9x3Qk
Crítica | Aliados
No atual período do cinema americano, é perfeitamente comum sentir uma dose de saudades e nostalgia em relação ao passado. O público pode sentir isso diante do estilo de narrativa mais acelerado e violento do que o comum, e até cineastas por trás das câmeras podem voltar seu estilo para algo mais saudosista. E isso parece estar tornando-se cada vez mais popular, bastando observar como La La Land: Cantando Estações, um musical que presta homenagens à Era de Ouro da Hollywood clássica, é o grande favorito ao Oscar deste ano ou como grandes franquias hollywoodianas (em especial os dois últimos Star Wars) tentam desesperadamente captar o espírito de grandes clássicos do passado.
Nessa linha de raciocínio, Robert Zemeckis é um cineasta que segue muito tradicional, e com Aliados ele claramente nos mostra o quanto é apaixonado por Casablanca, o cinema de Alfred Hitchcock e por thrillers de espionagem dos anos 40, tanto pelo setting da história quanto pela natureza de sua narrativa. E ao balancear o clássico com uma técnica moderna e inconfundivelmente própria, Zemeckis entrega um projeto surpreendentemente eficiente e que eu não sabia que precisávamos.
A trama parte de um roteiro original de Steven Knight, ambientando-se no auge da Segunda Guerra Mundial em 1942. Nesse cenário, o espião canadense Max Vatan (Brad Pitt) é enviado para Casablanca, onde fará contato com a agente francesa Marianne Beauséjour (Marion Cotillard) para que juntos conspirem o assassinato de um influente embaixador alemão. Surpreendentemente, essa é apenas a premissa do primeiro ato do longa, que então revela-se algo muito mais intimista e devastador quando o casal acaba se apaixonando e muda-se para Londres, onde se casam e têm uma filha bebê. Porém, a lealdade dos dois é testada quando a central de inteligência britânica desconfia que Marianne seja uma espiã alemã, algo que Max fará de tudo para provar sua inocência.
É um roteiro sem grandes ambições, afinal já vimos esse tipo de história ao menos um milhão de vezes - curiosamente, o próprio Brad Pitt já protagonizou uma narrativa similar de espionagem e casamento em Sr. & Sra. Smith. Esse provavelmente é ponto mais frágil da produção, ainda que eficiente, já que é uma história batida e que é movida através de alguns clichês, principalmente na relação inicial do casal protagonista e - principalmente - na resolução de algumas pontas soltas e muletas narrativas que fazem a ação se mover. Estruturalmente, é até estranho a transição entre o primeiro ato fortemente centrado na missão de guerra e o restante centrado na paranóia de Max quanto à real natureza de Marianne, mas confesso que até o fato de o assassinato ter sido executado de forma tão eficiente ("Nem estamos sendo seguidos!", exclama Marianne durante a fuga de carro dos dois) é justificado posteriormente pela reviravolta final.
Felizmente, as coisas podem sair muito diferentes quando um roteiro razoável é entregue nas mãos de um mestre indiscutível, e que espetáculo cinematográfico Robert Zemeckis é capaz de entregar aqui. Todos os conhecedores de seu cinema sabem que o diretor é absolutamente criativo e inventivo com seus enquadramentos e posicionamentos de câmera, e fica bem claro que estamos assistindo a um filme de Zemeckis logo nos segundos iniciais, quando o plano de um pôr do sol no deserto é lentamente invadido pelos pés de Max aterrissando de pára-quedas através de um tilt dinâmico e efeitos visuais elegantes. De forma similar, temos suas tradicionais brincadeiras com a câmera dentro de espelho, atravessando carros digitais e os discretos planos longos que começam em um ponto e terminam em outro inimaginável - vide a aterrissagem de um avião que tem início na lanterna piscando de um guarda. Definitivamente foi mais trabalho para o diretor de fotografia Don Burgess.
Essa mise en scène elaborada também contribui para o grande trunfo do filme, que é seu inesperado mergulho na paranóia. Do momento em que Max recebe a tarefa de testar Marianne e eliminá-la caso as suspeitas se confirmem, o filme transforma-se em um thriller do melhor sentido da palavra, onde Zemeckis nos revela também ser um dedicado aluno do cinema de Alfred Hitchcock. Max passa a observar Marianne através de cantos da porta e reflexos no espelho (sempre um recurso competente para ilustrar a dualidade), e a câmera quase voyerística de Zemeckis nos faz lembrar da obsessão de James Stewart em Um Corpo que Cai. Os planos sequência também contribuem para a sensação de tensão e até terror, como quando Max caminha pela festa lotada em sua casa, sempre de olho no comportamento de Marianne e nas diversas figuras suspeitas com quem ela parece interagir, enquanto a câmera de Zemeckis o segue, circula e explora as diferentes possibilidades do ambiente.
De maneira similar, o trabalho de som é absolutamente impecável para essa atmosfera dúbia e inconstante, em especial pelo momento em que Max aguarda uma ligação de seus superiores na inteligência britânica, e os quase inaudíveis ponteiros do relógio na cabeceira logo aumentam para batidas esmagadoras e torturosas, e o efeito é bem equlibrado com a tensa música de Alan Silvestri. Para um efeito mais simbólico, reparem no inteligente raccord (quando um áudio começa em um plano e termina em outro) quando Max coloca sua mão na barriga gestante de Marianne, e o som de bombardeios invade a tela antes de finalmente cortarmos para a batalha que o foley sugerira, já nos indicando o tipo de vida que o casal está condenado a seguir: marcado pela guerra e a violência.
E que violência. Não é sempre que Robert Zemeckis conduz um filme de censura R, mas ele certamente o faz com estilo e inteligência. As cenas de ação são intensas e não optam pelo tipo de combate "limpo", então vemos o sangue saindo de corpos baleados e sentimos cada pancada, disparada e golpe ao longo de tais sequências, outro bom fruto da edição de som potente do longa. E ainda assim, Zemeckis jamais transforma a experiência em um festival gore, já que algumas das mortes que mais sentimos ocorrem offscreen, e são ainda mais impactantes do que poderíamos imaginar; vide a cena em que Max entra em uma joalheria para executar um suspeito, e somos deixados do lado de fora, aguardando com nada além do som da chuva intensa; que demora um bom tempo para ser cortada pelo som do disparo. O susto que levamos durante a explosão de um tanque ou até a revelação de um rosto desfigurado são momentos memoráveis que Zemeckis é hábil ao brincar com expectativas: o tanque pela panorâmica que acompanha Max preparando a granada antes de seu lançamento, e o rosto escondido pelo enquadramento do personagem - um irreconhecível Matthew Goode.
Mas grande parcela do público provavelmente se interessará pelo elenco, especialmente pela junção dos talentos de Brad Pitt e Marion Cotillard. Pitt surge mais contido e cool, evidentemente emulando um aura charmosa de Humphrey Bogart durante boa parte do longa, transformando tudo isso em uma performance mais furiosa e fechada quando as suspeitas em relação à Marianne tem início. Já Marion Cotillard é o grande destaque em termos de atuação, tendo uma presença em cena magnética e carismática. É Marianne quem apresenta a Max o universo de Casablanca e os perigos da missão, o que rendem momentos divertidos que a atriz é definitivamente capaz de expressar bem. A partir do momento em que o arco de suspeita em torno da personagem começa, Cotillard mantém a mesma nota de sua atuação, tornando praticamente impossível para Max e o próprio espectador saber no que acreditar. A desconfiança se dá a partir de alguns flashbacks de frases chave de Marianne durante a missão inicial, como quando menciona que "fingir emoções é sua especialidade", já dando um toque de dualidade através de uma performance já estabelecida. Um excelente trabalho, sem dúvida.
Já a química dos dois é algo mais complicado, já que realmente não é uma relação que explode nas telas. É funcional, mas isso se dá mais por decisões estéticas do que pela interação entre os dois, vide a excelente cena de sexo dentro de um carro em meio a uma violenta tempestade de areia no deserto - mais uma boa simbologia do tipo de relação entre os dois. Porém, a baixa no romance não é nada que realmente prejudique o suspense do filme, muito menos o dramático clímax que certamente demonstra a coragem dos realizadores em seguir as consequências mais brutais de sua proposta, em uma das imagens mais emblemáticas do cinema recente de Robert Zemeckis.
Com um pé no espírito saudosista do clássico cinema hollywoodiano dos anos 40 e outro em uma abordagem moderna de alta qualidade, Aliados é um filme surpreendente que nos lembra o prazer de um bom thriller e o frio na barriga que uma boa condução é capaz de fazer. Nas mãos de um mestre como Robert Zemeckis, até um roteiro imperfeito é capaz de fazer maravilhas, e eu sinceramente espero que Zemeckis não mude nunca.
Aliados (Allied, EUA - 2016)
Direção: Robert Zemeckis
Roteiro: Steven Knight
Elenco: Brad Pitt, Marion Cotillard, August Diehl, Jared Harris, Lizzy Caplan, Simon McBurney
Gênero: Drama, Suspense, Guerra, Espionagem
Duração: 124 min
https://www.youtube.com/watch?v=iQz2MleXtEw