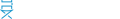Há certos convencionalismos dentro da carreira de inúmeros cineastas que aprendemos a apreciar, como as construções intimistas de Alfred Hitchcock, que brinca com o zoom in e a distância focal da câmera, ou com a explicitação sangrenta de Quentin Tarantino. Entretanto, isso talvez ocorra de forma mais endossada dentro das obras de Woody Allen, cuja principal característica é a criação de personagens muito complexos, dotados de uma verborragia difícil de ser acompanhada em certos momentos e que possuem uma necessidade inenarrável de se explicarem. É isso o que acontece com sua mais nova iteração, Roda Gigante – mas não necessariamente acompanhado de conotação negativa.
De forma instantânea, a narrativa nos transporta para meados da década de 1950, mais precisamente para a onírica e saturada Coney Island, lugar onde os sonhos se tornam realidades e cada um de seus “residentes” é praticamente um personagem extraído de histórias em quadrinhos ou filmes clássicos. Ao menos olhando de fora; mas movendo-se através dos corredores à beira-mar do parque de diversões, pessoais reais se escondem por trás de toda a arquitetura colorida e alegre, vestidas com figurinos teatrais desbotados ou empoeirados – e esse é o caso de Ginny (Kate Winslet), uma garçonete que, diferentemente do que esperamos dentro de um filme do gênero, já teve grande sucesso nos palcos da Broadway e abandonou uma vida de glamour e aventuras para buscar a salvação e a estabilidade.
Desde o primeiro momento em que vemos a mulher de meia-idade correndo para juntar seu ganha-pão diário, percebemos que algo está errado. Ela mantém-se em uma rotina estressante e ao mesmo tempo monótona, vivendo em um pequeno apartamento acima do parque, dentro do qual ainda busca um refúgio para as constantes enxaquecas e distúrbios de violência do marido Humpty (Jim Belushi), o qual trabalha como operador de carrossel. É interessante ver como um lugar tão convidativo e agradável como aquele emerge como o principal responsável pelas manifestações físicas e psicológicas de seus protagonistas, que enxergam Coney Island como uma prisão sem muros cuja única salvação é a praia que se estende para além da roda-gigante. Entretanto, Ginny diz para si mesma que Humpty a salvou de uma morte precoce, resgatando-a de um momento obscuro da vida onde havia traído seu primeiro e único amor e desperdiçado a chance de ser realmente feliz às custas de um caso efêmero.
As coisas mudam com a chegada inesperada de Carolina (Juno Temple), filha renegada de Humpty que retorna para a vida do pai após se meter em uma enrascada mortal; acontece que, assim como Ginny, Carolina decidiu abandonar os valores e a educação prezados pela família para seguir seu coração, casando-se com um gângster e mergulhando em inúmeras jornadas de autodescobrimento e perigos apenas para descobrir que não era exatamente aquilo o que desejava. Diferente da salvação forçada na qual a personagem de Winslet entrou, a jovem já desejava por algo estável, uma família completa, com filhos, comida posta na mesa todo dia e uma carreira de sucesso.
Roda Gigante é um filme que fala, de forma poética e shakespeariana, de decadência. Esse tema-base finca-se a todas as tramas e subtramas e inclusive insurge como o gatilho para as resoluções finais dos personagens, os quais conversam de certo modo com os vistos em Blue Jasmine. Mesmo assim, a alma artística ainda permanece nas carcaças dos protagonistas: Ginny vale-se de sua outrora superioridade e classe para dissertar acerca dos acontecimentos de sua vida, sobre suas atitudes, suas escolhas e até mesmo para dar conselhos a Carolina, uma figura que vem para lhe tirar ainda mais a paz e é, em sua própria perspectiva, mais um indício de instabilidade. A garota, por sua vez, parece uma bonequinha de porcelana frágil e exposta ao mundo, fadada a perder ainda mais sua inocência. O marido é o bruto italiano patriarcal que detém a sabedoria necessária para o funcionamento de sua família.
Todos emergem como estereótipos dos arquétipos criados por Allen: seus personagens são sim complexos, mas para si mesmos; para os outros, eles são frutos de algo que desejavam ser, e que nunca conseguiram. E tudo isso é narrado pelo charlatão, conquistador e pseudo-filósofo Mickey (Justin Timberlake em uma de suas melhores performances), o qual também tem o sonho de ser alguém, mas seu individualismo exacerbado o impede de enxergar além da caixinha. E as coisas ficam ainda mais complexas quando ele e Ginny começam a ter um relacionamento amoroso que vai contra tudo aquilo que ela passou a defender, levando-a por caminhos tortuosos e que culminam em nada além de tragédia.
A quantidade de diálogos metafóricos e simbólicos é quase normal para um filme de Allen. Entretanto, a investida em uma narrativa não tão envolvente quanto as outras é o principal deslize: o roteiro mantém-se firme e bem estruturado até a sutil virada para o último ato, no qual nem mesmo a amálgama química entre Timberlake e Winslet é capaz de salvá-lo de seus claros defeitos. E mesmo assim, ainda que o diretor peque em um de seus pontos mais fortes, ele ressurge com uma direção segura, perscrutada por incríveis planos-sequências que diminuem a amplitude de Coney Island e aumentam significativamente o cubículo residencial da família em questão, colocando-os ainda mais em um cosmos impossível de se escapar.
Além dessa fluidez cênica, as arquiteturas imagéticas optam pela montagem entre enquadramentos mais íntimos, resgatando as identidades teatrais e que praticamente permitem um único foco de luz em detrimento do cenário. Porém, essa facilidade de transição entre o geral e o específico é perscrutado pelo incrível trabalho de Vittorio Storaro. Se em Café Society Storaro prezava pela clara discrepância entre a riqueza e o glamour de Hollywood com o dourado e pela racionalidade exacerbada de Nova York com cores mortas, aqui ele permite-se criar: a iluminação ao mesmo tempo segue e não segue um padrão específico. Segue por ter como paleta principal as cores destoantes do parque de diversões, e não segue por permitir que todas se fundam em um ciclo constante e inquebrável que conversa com os anseios de Ginny.
A personagem de Winslet, a qual brilha mais uma vez com sua versatilidade e sua entrega total a uma figura disfuncional, histérica e sem qualquer certeza do que está fazendo, oscila entre todas as facetas do ser humano. Ela é linda e horrenda, verdadeira e falsa, e essa dualidade de emoções é reafirmada mais uma vez pela fotografia. Em uma determinada cena, ela está conversando com Carolina acerca dos sentimentos da jovem por Mickey, tentando dissuadi-la de uma possível “decepção amorosa”. O diálogo é quase ofuscado pelo trabalho de cores, que varia do frio ao quente, do vívido ao melancólico enquanto a protagonista se permite acompanhar um fluxo irrefreável de sensações.
Roda Gigante pode não ter a história mais comovente do mundo, mas certamente é um dos filmes mais maduros de Woody Allen. E com um trabalho estético tão soberbo quanto este, bem como seu elenco de primeira linha, os deslizes, ainda que não por completo, até conseguem ser ignorados.
Roda Gigante (Wonder Wheel – EUA, 2017)
Direção: Woody Allen
Roteiro: Woody Allen
Elenco: Kate Winslet, Jim Belushi, Justin Timberlake, Juno Temple, Max Casella, Jack Gore, David Krumholtz, Robert C. Kirk, Tony Sirico
Gênero: Drama, Comédia
Duração: 101 min.