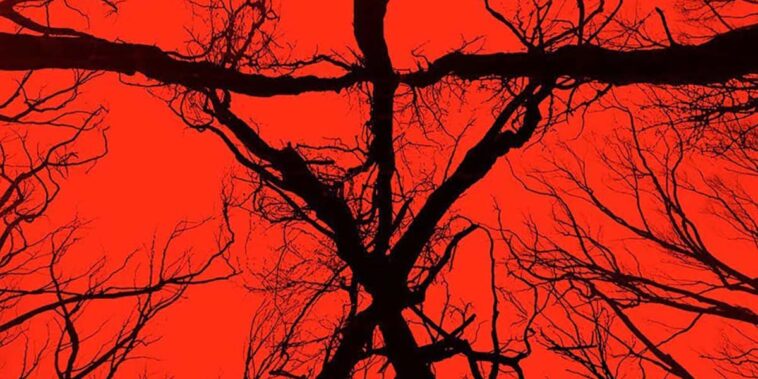Crítica | Bruxa de Blair (2016)
É espantoso como toda uma novíssima geração de fãs dos filmes de terror simplesmente não conhece o original “A Bruxa de Blair” e, como tal, não pode reconhecer sua extensa e persistente influência sobre dezenas de filmes produzidos neste século, entre eles sucessos como “Atividade Paranormal” (2007), “REC” (2007) até títulos muito recentes como “A Forca” (2015).
Recordando: em 1999, Daniel Myrick e Eduardo Sánchez, dois jovens cineastas (norte-americano e cubano, respectivamente), levaram a cabo uma operação cinematográfica sui generis, que consistia em soltar três atores numa floresta desconhecida munidos de câmera e bússola, e enviar a eles durante o processo instruções eventualmente contraditórias e assustá-los durante a noite com barulhos e objetos para que a filmagem de um documentário falso se tornasse o mais real possível.
O resultado foi a reinvenção moderna do “mockumentário”, na verdade uma junção entre o clássico “Canibal Holocausto” (uma infame produção italiana de 1980 e banida em diversos países) e “Aconteceu Perto de Sua Casa” (a comédia belga de humor negro de 1992) que inauguraria também uma era de filmes-eventos que transcendem sua rede de distribuição e acabam por ser incorporados irremediavelmente pela mídia e pela cultura popular (na época do lançamento, os realizadores deixaram aberta a possibilidade de o filme ser um documentário de verdade, o que provocou polêmica e alavancou as vendas do filme, até hoje um dos mais bem-sucedidos em relação a seu custo em toda a história do cinema).
O relativo esquecimento a respeito do filme de Myrick e Sánchez está certamente relacionado ao irônico fato de que ambos, após sacudirem a indústria de maneira quase que irreversível – ao, juntamente com “El Mariachi” (1992), abrir as portas da distribuição em larga escala ao cinema de “No-Budget” (um passo além, ou abaixo, do habitual “Low-Budget”) –, envolveram-se em uma série de projetos decepcionantes, o que, antes de atentar contra o talento da dupla, reforça o caráter inovador e impossível de ser integralmente replicado da experiência original. Embora nada a ser comparado com o esquecimento reservado ao similar “The Last Broadcast”, produção de 1998 que teria custado menos de mil dólares e cujo pioneirismo acabou sobrepujado pelo sucesso imediatamente subsequente de “Blair Witch Project”.
Ao contrário da continuação “A Bruxa de Blair 2-O Livro das Sombras” (2000), uma fracassada e apressada tentativa de criar uma franquia para o original, este novo “Bruxa de Blair”, que chega aos cinemas em 2016, é uma reedição bastante fiel da experiência de 1999 para um novo público que não sentiu o arrepio inevitável do pequeno e perturbador “The Blair Witch Project”. Embora a distribuidora avise que esta “não é uma refilmagem”, mas uma “continuação”, o tributo ao trabalho de Myrick e Sánchez está evidente na forma e na estrutura do novo enredo, que não dispensa até mesmo citações diretas do seu predecessor.
Na nova trama, James Allen McCune interpreta o irmão da cineasta desaparecida há 15 anos, numa floresta do estado norte-americano de Maryland. Ele está de volta ao local onde a irmã jamais seria encontrada, novamente acompanhado por uma (ou melhor, duas) equipe(s) de filmagem. Seu objetivo é finalmente descobrir o que realmente aconteceu com os desaparecidos do filme (documentário) anterior, depois de encontrar uma fita nova e que supostamente mostraria sua irmã numa casa no meio da floresta. Este não é o principal objetivo da cineasta Lisa Arlington (Callie Hernandez), mais preocupada em tirar da coisa toda um filme de sucesso para si mesma. A equipe se completa com um casal de técnicos (Brandon Scott e Corbin Reid) e é guiada por outro casal de nativos (Wes Robinson e Valorie Curry) que, por sua vez, tem seus próprios planos “cinematográficos” para a viagem que será feita coletivamente.
Evidentemente, o que poderia ser uma aventura de final de semana em grupo acaba perturbado por acontecimentos inexplicáveis, mentiras e uma confusão – ora proposital, ora não – entre o que é verdadeiro e o que é falso, testando os limites emocionais dos jovens (e da plateia).
O cinema mudou muito nas últimas duas décadas e este novo “Blair’ ensaia aderir a alguma forma de militância politicamente correta quando propõe um foco de conflito entre os cineastas nativos (red necks que expõem uma bandeira confederada) e o casal afroamericano que chega aparentemente de uma cidade maior, mas tal registro cede velozmente ao humor e o tema se desfaz. Não é este o foco do roteiro de Simon Barrett, nem da direção de Adam Wingard (dupla responsável pelo inteligente “Você é o Próximo”, de 2011). Seu olhar é muito mais próximo do original e seu objetivo parece ser replicar a sensação brutal de impotência diante do selvagem desconhecido que encontra na escuridão de uma floresta à noite sua perfeita tradução.
A principal limitação do estilo “Found Footage” manifesta-se sempre que o ponto de vista da “câmera-atriz” mostra-se insuficiente para contar a história em todas as suas nuances. Aqui, tal problema é superado maliciosamente com a inserção das minúsculas câmeras auriculares, que tornam possível cobrir toda a ação necessária para a narração da história praticamente o tempo todo. Isso não impede, contudo, que a direção trabalhe muito bem o espaço externo, aquilo que se ouve, mas não se vê, e que é uma das bases do suspense presente o tempo todo.
Outro problema que o filme parece superar é o de se manter dentro de sua premissa mesmo tendo à disposição um orçamento de grande estúdio, o que não acontecia com a produção de 1999, que efetivamente era muito barata e não dispunha de recursos hoje elementares para Hollywood. Sem revelar muitos detalhes da trama para não comprometer os sustos e as surpresas, “Bruxa de Blair” não precisa de muito mais que o conceito brutal, primitivo, para provocar medo na plateia, e isso o eleva a um patamar aonde outros títulos do gênero repletos de firulas em computação gráfica (como “Mama”, de 2013) jamais sonhariam chegar.
Mesmo quando o enredo ameaça levar o filme para algum tipo de reedição de “Alien” ou quando, perto do desfecho, os efeitos especiais começam a aflorar (e os fãs mais entusiásticos do gênero temem, talvez, por algum final ao estilo J.J.Abrams, onde tudo se explicaria com a chegada de uma nave espacial, o que definitivamente não é o caso), a direção e o roteiro retornam o filme para sua linha mestra, a ponto de o protagonista repetir literalmente alguns trechos do roteiro original. Mais uma vez, este novo “Blair” desiste, felizmente, da tendência excessivamente digitalizada, artificial, que tem marcado a indústria nos últimos anos, e opta por momentos em que tudo que se precisa é dos recursos tipicamente cinematográficos (inclusive numa cena claustrofóbica que remete a outro filme valioso, “O Abismo do Medo”, de 2005).
Aqueles que possivelmente não estão familiarizados com o “Blair” de 1999 ou com o estilo originado dele possivelmente oscilarão, em alguns momentos, entre a incompreensão e o atordoamento diante das câmeras frenéticas e tremidas, repletas de sujeira e granulação, e serão intrigados pelo plano final (que também referencia o original, mostrando mais uma vez que, se esta nova trama continua a anterior, sua abordagem reedita a experiência com visível reverência).
Nada, entretanto, que atrapalhe ou comprometa uma sessão de cinema dotada de alguma originalidade e inegável competência ao dar continuidade a um dos mais bem-sucedidos experimentos em toda a história do gênero. “Bruxa de Blair” é garantia de entretenimento em duração precisa, sufocante, incômodo e, muitas vezes, apavorante. Tanto a produção de 1999 quanto a de 2016 terminam com um “pedido de desculpas” dos protagonistas pelos seus projetos malfadados.
Tais pedidos não se aplicam ao público, que em ambos os casos está diante de exemplares de cinema cada vez mais raros: filmes repletos de matizes e texturas naturais, pensados prioritariamente para a sala escura e cujos realizadores sabem lançar mão de recursos muito simples e genuinamente cinematográficos que continuam funcionando (a contraposição entre luz e trevas, preenchido e vazio, ruído e silêncio, movimento e paralisia), sem lembrar a todo tempo que o filme passou por dezenas de computadores antes de ficar pronto. O que seria exigido, além disso, de um simples filme de terror?
Crítica | Quando as Luzes se Apagam
Ao lado do segmento infantil, em uma ponta, e do adulto, em outra, o gênero de terror tem sido uma aposta relativamente certeira para produtores dispostos a seguir a cartilha básica da tradição, que manda reunir atores baratos e despesas controladas a fim de, mesmo não figurando entre as maiores bilheterias do ano, um lançamento bem-sucedido possa se pagar e ainda retornar algum lucro para o estúdio.
Para o teórico do roteiro Robert McKee, o grande gênero de terror subdivide-se em pelo menos três categorias: filmes de mistério (onde a trama tem explicação racional possível), filmes sobrenaturais (onde a trama busca explicação fora do mundo físico conhecido) e o que ele chama de “supermistério” (quando o espectador adivinha qual das possibilidades é a correta para o enredo). Embora sensata, tal divisão não dá conta das habituais variações que a indústria tem explorado, criando estilos ou subgêneros específicos que também não são complicados de identificar.
Como produzir cinema não é fazer contas aritméticas com resultados exatos o tempo todo, os filmes em si costumam oscilar entre pulsões originadas desses subgêneros. No caso do cinema de terror, tais pulsões podem vir da tradição de “filmes de fantasma” (mormente baseada em contraposições como ver-não ver e som-silêncio); do gore (onde a violência gráfica é determinante); do desenvolvimento tecnológico das ferramentas de composição (filmes com efeitos visuais elaborados em computador); entre outras.
Quando um mesmo filme mistura de forma relativamente desordenada essas pulsões, o resultado pode ser confuso na cabeça do espectador e certamente poluído na tela. Este é o caso de “Quando as Luzes se Apagam”, lançamento da Warner a partir de um curta-metragem cujo conceito (usando a luz de cena para criar um jogo de gato e rato dentro da trama) não é exatamente original (“O Mistério da Rua Sete”, de 2010, e “A Hora da Escuridão”, de 2011, já lançavam mão de premissas semelhantes).
Exigir originalidade de qualquer filme em 2016 (e 2015, e 2014, e 2013, etc.) pode ser uma demanda quase impossível de ser atendida, mas há sempre na audiência o desejo de que o universo com o qual se vai relacionar em duas horas (ou, neste caso, menos) de projeção tenha princípios que guardem mínima coerência interna, de modo que quem assiste possa participar sabendo quais regras estão valendo. Em outro filme do mesmo gênero, por exemplo (“O Sono da Morte”, também de 2016 e que também mostra uma criatura atormentando uma criança que não consegue dormir), este problema torna-se quase insuportável ao usar o expediente habitual dos “sonhos” para justificar qualquer coisa que possa aparecer: depois da segunda ou terceira vez em que o recurso é repetido, o espectador entedia-se ao perceber que o próprio filme não segue regra alguma, e simplesmente tudo que for mostrado terá algum tipo de correspondência na (in)coerência da trama.
No caso de “Quando as Luzes se Apagam”, as regras estão bem definidas (o que estimula a identificação de quem assiste), mas a miscelânea de subgêneros presentes evidencia a falta de uniformidade do produto final (repetindo, decorrente de uma premissa revelada num curta-metragem).
No enredo, eventos de natureza desconhecida e que estão perturbando a vida escolar do pequeno Martin (Gabriel Bateman) trazem de volta ao núcleo familiar sua irmã mais velha Rebecca (Teresa Palmer, atriz australiana que parece uma versão surfista de Kristen Stewart), levada por sua vez a enfrentar a mãe neurótica (Maria Bello), que parece esconder algum segredo do passado e que volta e meia aflige os filhos em forma de uma aparição sobrenatural de nome “Diana”.
A quantidade de referências presentes pode ser atordoante ao apreciador do gênero. Os manequins remetem a um célebre episódio da série “Além da Imaginação” (The After Hours). A “criatura” lembra desde alguns clássicos recentes do cinema japonês até mesmo o alienígena de “Sinais” (2002). A protagonista é uma releitura da personagem de Jessica Chastain em “Mama” (2013). Alguns conflitos familiares e a construção da biografia de Diana remetem por sua vez a “O Chamado” (2002). Os olhos de Diana lembram “Tio Boonmee, Que Pode Recordar Suas Vidas Passadas” (2011), e assim por diante.
Esteticamente, a maior fraqueza do filme é exatamente tentar equilibrar-se, por exemplo, entre pulsões estranhas, querendo ao mesmo tempo ser um filme de elegantes contraposições (a mais óbvia delas é entre claro e escuro) ao mesmo tempo que impressiona com violência gráfica (sangue) e alguns efeitos visuais (econômicos, mas presentes). Este é um balanço complicado de ser atingido e é talvez por isso que alguns dos melhores filmes de terror já feitos (desde “A Bruxa de Blair”, de 1999, até “Espíritos – A Morte Está ao Seu Lado”, de 2004), preferem concentrar-se numa abordagem mais uniforme, evitando embaralhar na cabeça do espectador que regras (não só de verossimilhança, mas até mesmo “visuais”) estão valendo.
O maior mérito do filme, por sua vez, não é exatamente sua premissa, mas a admissão na curta duração de que ela é insuficiente para preencher mais que 90 minutos de projeção. Quando o jogo proposto parece próximo ao esgotamento, o filme acaba, deixando eventualmente um gosto de “quero mais” e até mesmo uma porta aberta para continuações. Barato para o padrão dos grandes estúdios de Hollywood, “Quando as Luzes se Apagam” é quase um compacto com melhores momentos de diferentes subgêneros e estilos, tentando – tal qual um rodízio onde são servidas carnes, massas, pratos japoneses, saladas, pratos árabes, pizzas... – agradar a todo mundo, com fantasma, sangue, sustos, crianças e efeitos (talvez esta, também, uma admissão de que sua ideia inicial não fosse capaz, sozinha, de agradar muita gente).
N. E. (Matheus): apesar de ter gostado um pouquinho mais do filme do que nosso amigo Daniel, adiciono aqui que o filme também busca mecânicas vindas diretamente do game Alan Wake.
Artigo | A geração do Facebook precisa (re)descobrir Seinfeld
Muito antes de a tirania politicamente correta espalhar-se como uma praga pela dramaturgia de humor, houve uma série cômica que antecipou o mal estar da sociedade culturalmente patrulhada. Antes de hashtags virarem ferramenta de comunicação, houve "the yada-yada" e seus múltiplos usos. Uma série que "viralizava" antes mesmo que a expressão adquirisse o significado que tem hoje, "Seinfeld" foi tão revolucionária e desafiadora que alguns de seus princípios permanecem intocados - como a regra informal de jamais finalizar um episódio com "abraços" (ou a situação dramática que reinstaura o equilíbrio perdido), o que mesmo seriados desafiadores e elaborados como "The Office" e "Brooklyn Nine-Nine" não conseguiram igualar.
Para quem não sabe exatamente do que se trata, "Seinfeld" foi uma típica sitcom norte-americana (daquelas com claque após as piadas) apresentada durante nove temporadas (entre 1989 e 1998) e que rivaliza na memória de quem tem mais de 30 anos com "Friends", por exemplo. Embora esta última permaneça na história da dramaturgia da TV como um sucesso charmoso e nostálgico, não há termo de comparação entre ambas além do retrato de uma mesma cidade (Nova York), época e formato. Enquanto "Friends" sempre foi uma comédia de situações típica, romântica, sem nunca abdicar dos costumeiros laivos de sentimentalismo, "Seinfeld" foi do princípio ao fim uma crônica ácida da comunidade liberal (no sentido norte-americano do termo), pequeno-burguesa, do final de século, neurótica, refém de códigos de conduta social, cultivando relações pautadas em aparência e interesses mesquinhos e obcecada pela vida alheia. Na verdade, uma irônica premonição do que se tornaria a imensa comunidade que vivencia, no século XXI, a rotina virtual em grupo.
Vencedora de inúmeros prêmios Emmy e Globos de Ouro, a série deixou de existir pouco antes de uma inevitável decadência. Um de seus criadores (ao lado de Larry David), Jerry Seinfeld, rejeitou a milionária proposta de continuar estrelando a atração por saber que seria impossível ir ainda mais longe do ponto aonde haviam chegado. Uma decisão inteligente que ajudou a tornar o seriado numa mitologia perene e que permanece atual mesmo num período quando mudanças ocorrem mais rapidamente do que podemos antecipar.
Sua premissa ficou conhecida como uma "série sobre o nada", em que o bate-papo aparentemente irrelevante entre seus quatro protagonistas (o cômico profissional que dá nome ao programa, seu amigo de infância fracassado e inseguro George Constanza, seu vizinho amalucado Cosmo Kramer e sua ex-namorada eventualmente ninfomaníaca Elaine Benes) é a maior atração.
Seria um desperdício de raciocínio, entretanto, reduzir "Seinfeld" a um "seriado de personagens", uma vez que muitas das situações apresentadas individualmente em cada episódio têm importância tão grande quanto a mera caracterização dos protagonistas. Muitos deles, inclusive, dificilmente seriam produzidos hoje, quando mesmo as atrações de ponta obedecem a rígidos códigos morais determinados pela agenda politicamente correta. Quem arriscaria em 2016 fazer piada com assistentes sociais afroamericanas autoritárias de nome "Rebecca De Mornay" (o mesmo nome de uma atriz loira dos anos 1990), com feriados hispânicos, com militantes LGBT que espancam apoiadores que se recusam a usar "fitas" durante uma passeata, com mendigos que rejeitam "muffin tops", com uma descendente de nativos americanos que se ofende a cada três frases do pretendente caucasiano, com funcionários públicos que impedem um pobre contribuinte de descartar seu lixo em simplesmente qualquer lugar dentro da cidade, e assim por diante?
A despedida inesquecível, o desfecho tragicômico do seriado, se dá no episódio derradeiro, no qual seus quatro protagonistas acabam presos por obra de uma lei municipal absurda, após darem risada de um morador com problemas de sobrepeso enquanto este é assaltado.
Muito além de rir de vítimas fáceis do humor da TV (o caipira, a beata, o capitalista inescrupuloso, a gostosa burra e arrivista), "Seinfeld" expandiu o tema da comédia para a comunidade ligada à produção de cultura, aos formadores de opinião, à elite intelectual do leste da América (mas poderia ser de qualquer outro lugar), aos artistas, críticos de arte, fãs de jazz e balé, militantes de cafeteria, juízes da consciência alheia, "benfeitores" mesquinhos, cientistas tirânicos, acadêmicos e formuladores de "políticas públicas", revertendo o espelho cômico para capturar a imagem de quem está habituado a rir dos outros - mas nunca de si mesmo.
Ao trazer à tona o lado mais imperfeito (e, portanto, genuinamente humano) de grupos sociais ora intocáveis, "Seinfeld" humanizou, através do riso iconoclástico, a todos nós. Sua experiência permanece na história do entretenimento como um fenômeno aparentemente inigualado, quando hoje, rimos apenas do que é "permitido" - ou rimos nervosa e sorrateiramente, com medo das convenções sociais, de mágoas tolas e incontornáveis, da polícia do humor, da judicialização da espontaneidade, o que de forma alguma fez do mundo "um lugar melhor".
"Seinfeld" está disponível no Brasil num box completo com as nove temporadas distribuídas em 33 DVDs. Há ainda um curioso livro chamado "Seinfeld e a Filosofia: Um Livro sobre Tudo e Nada", da editora Madras, que procura analisar a série abordando diferentes episódios da perspectiva de pensadores como Nietzsche e Wittgenstein. Este site, em inglês (http://www.seinfeldscripts.com/), oferece uma vasta visão das temporadas, com detalhes, curiosidades e um arquivo com os 180 roteiros originais.
Crítica | Negócio das Arábias
Você já viu algum americano no deserto ouvindo a banda Chicago no som do carro. Você já viu Tom Hanks envolvido com negociatas entre emissários muçulmanos. Você já viu um ocidental típico render-se ao fascínio que a desolação ensolarada no norte africano exerce sobre os “povos civilizados”. Você já viu tudo isso antes, mas poderá ver mais uma vez, se decidir assistir a “Negócio das Arábias”, que não é – nem de longe – “Três Reis” (1999), “Jogos do Poder” (2007) ou “Lawrence da Arábia” (1962).
Filmes como este servem para nos lembrar de como a indústria cinematográfica precisa de um giro rápido que mantenha toda a cadeia produtiva em atividade: artistas, técnicos, publicistas, agentes, estúdios e exibidores, sucedendo projetos um atrás do outro para que a rede seja abastecida com títulos frescos a cada semana. Essa é, ao mesmo tempo, a beleza e a fraqueza do modelo como um todo. É resultado, pois, que celebra de maneira trôpega o gênio do sistema a que já aludiu o estudioso Thomas Schatz, aqui em momento de inspiração duvidosa.
Qual a finalidade de uma produção como esta, exceto manter tal roda girando? O que temos aqui é uma repetição banalizada de temas, personagens e cenários, com o agravante da agenda política hollywoodiana que permite (ou exige, melhor dizendo) reduzir situações complexas ao mínimo múltiplo comum aceitável pela indústria. Há muito em jogo: no caso, investidores do Oriente Médio, um alvo reconhecido dos produtores que precisam capitalizar suas produções caríssimas para – vejam só! – manter aquela estrutura lá de cima em movimento.
Um filme de origem norte-americana, mas dirigido por um alemão, passado na Arábia Saudita, como este, permite dotar o enredo daquela vaga atmosfera globalizada e multiculturalista – não sem, contudo, continuar desagradando à crítica que responde por reflexo a qualquer ruído em sua cartilha de leitura dos filmes, através da qual seguem determinados requisitos que guiam a análise (ainda que o preço seja achar no filme algo que não está lá, mas apenas na cartilha).
Em “Negócio das Arábias”, o executivo de vendas bostoniano Alan (Tom Hanks) viaja à Arábia Saudita tentando ao mesmo tempo salvar a grana para a faculdade de sua filha e o destino de sua empresa, que sofre com a perda de negócios para a concorrência chinesa. Inseguro e vítima de ataques de ansiedade, Alan tem dificuldade em encontrar seus contatos e adaptar-se à rotina de uma sociedade que não esconde ter regras muito particulares (e em grande parte do tempo desconhecidas) para fazer negócios e amigos (ou, eventualmente, amantes). Em sua vulgarizada jornada de autodescoberta, ele conta com o auxílio de alguns nativos, entre eles especialmente a doutora Zahra (papel de Sarita Choudhury).
Alan é um norte-americano típico, fruto direto do capitalismo ocidental baseado em consumo e produtividade, que aos poucos é convertido por força das circunstâncias a uma perspectiva muçulmana (ou, ao menos, “árabe”) e idealizada da realidade que o cerca. O filme não reserva refinadas sutilezas para atingir tal objetivo e, mesmo assim, revela-se um desafio intransponível para aquela crítica agendada citada há pouco. Não, o filme não é “preconceituoso” com a Arábia Saudita: isto está na cabeça dos críticos, mas não na tela. Sem relevar detalhes fundamentais do roteiro, é preciso ressaltar que, momentaneamente dividido entre o mundo ocidentalizado e liberal representado pelo “núcleo dinamarquês” da trama (e sintetizado na personagem Hanne, vivida por Sidse Babett Knudsen), e o apelo quase primal, natural e inofensivo do mundo islâmico high tech (sintetizado por sua vez nos personagens do motorista pândego e da nada atraente médica nativa), ele opta seguramente pelo segundo. Onde está o preconceito, então?
A visão do filme é ácida com os ocidentais, reduzidos a adolescentes tardios, viciados e depravados – ou, na melhor das hipóteses, num Alan/Tom Hanks assexuado, hipocondríaco e ridicularizado, por exemplo, ao se esborrachar no chão ao menos três vezes durante a história, e em público – e bastante condescendente com os árabes. Qualquer visão mais crítica a respeito do sectarismo ou da violência institucionalizada é convertida numa espécie de segredo religioso, ao qual a trama não ousa tentar desvendar. Tykwer (também roteirista) não passa de um tolo reverente diante de uma sociedade imperscrutável que ele toca apenas na superfície (embora não se furte de enfiar até o cotovelo no pastelão ocidental), enquanto chuta o balde ao, por exemplo, ridicularizar a ameaça terrorista (no filme, substituída por um banzé de adultério) e obrigar o americano bobalhão a trocar a “boa e velha música da América” pela árabe, em outra cena na qual a sutileza é a verdadeira estrangeira.
O enredo gira em falso, é fato, mas tal característica apenas reforça o caráter do protagonista, verdadeiro objeto da piada que se repete, assim como o capitalismo, o casamento burguês ocidental, o comércio – todos valores e instituições das quais o filme não teme tirar sarro. Reverência que falta porque é, mais tarde, reservada à Meca, por exemplo. Dúvidas? Preste atenção ao símbolo que fecha o filme (uma porta, na verdade).
No final das contas, esta comédia dramática aparece como holograma de um cinema que já foi mais relevante, mais corajoso e certamente mais “cinematográfico”. Uma projeção diluída e desprovida de substância, que peca não pelo que tem de “preconceituosa” (preconceito que tem como alvo, como se viu, o ocidente, e não a Arábia, conforme muitos críticos vão querer fazer crer), mas pela forma como se sujeita a convenções político-ideológicas cada vez mais determinantes no cinema de Hollywood (muitas vezes por motivações efetivamente econômicas) distribuídas por um punhado de personagens, situações e cenários que você já viu outras vezes – não como hologramas, mas como material filmado de qualidade bem superior.
Crítica | Jason Bourne
Embora lançado brevemente após os atentados de 11 de setembro de 2001, o original “A Identidade Bourne” (2002), adaptação do romance de Robert Ludlum, foi posteriormente compreendido e incorporado junto ao esforço da indústria do entretenimento em assimilar uma nova conjuntura geopolítica que fugia bastante do retrato habitualmente entendido como uma pacificação institucionalizada relacionada aos conceitos de “fim da história” e “nova ordem mundial”.
Como era de se supor, numa indústria dominada por executivos e cabeças pensantes formadas no ambiente universitário tipicamente progressista que impera na educação superior (aqui e lá fora), não demoraria a Bourne virar uma espécie de símbolo solitário anti-imperialista, num novo esforço generalizado de culpar, dentro do ambiente da ficção, os próprios norte-americanos e, por tabela, toda a civilização ocidental, por qualquer mal vindo de fora que eventualmente a aflige.
A crítica internacional, por sua vez, tratou de enxergar em Paul Greengrass, diretor da continuação “A Supremacia Bourne” (2004), algum tipo de novidade estética que pudesse, de toda forma, acompanhar o suposto vanguardismo político da franquia, atribuindo ao diretor o estabelecimento de um novo estilo (baseado na instabilidade provocada nos eixos do enquadramento, sem, contudo, perder a distância focal e o centro da atenção do plano), que na verdade é anterior a ele e pode muito mais corretamente ser atribuído ao trabalho de câmera proposto durante anos pela série policial “NYPD Blue” (1993-2005).
Tudo isso não justifica, mas possivelmente explica, por que uma franquia tão corriqueira quanto esta possa ter adquirido ares de grande arte dentro de um gênero não raramente desprezado pelos críticos, muitas vezes procurando como loucos justificações políticas para suas eventuais preferências cinematográficas.
Agora em 2016, o personagem ressurge depois de idas e vindas em três outras versões (a primeira, dirigida por Doug Liman, e as duas subsequentes por Greengrass) e uma versão que abre outra linha narrativa (esta, dirigida por Tony Gilroy e dispensando o protagonista original).
No novo enredo, o diretor da CIA Robert Dewey (Tommy Lee Jones) comanda a caçada ao agente renegado Jason Bourne (Matt Damon), após a deserção da analista de informações Nicky Parsons (Julia Stiles), usando para isso as habilidades de campo de um homem de operações (chamado banalmente de Asset e vivido por Vincent Cassel) e de uma nova analista, a arrivista Heather Lee (Alicia Vikander, o destaque do elenco, em atuação repleta de nuances). Em trama paralela, Dewey pressiona um megaempreendedor da web (Aaaron Kalloor, vivido por Riz Ahmed) para que use seu portal para compartilhar informações com os serviços de inteligência norte-americanos.
Um filme de ação que, de alguma maneira, pretende também oferecer um recorte da realidade, não pode abrir mão, contudo, de cenas de ação que privilegiam o frenesi de perseguições e explosões aos momentos de maior respiração (e, eventualmente, algum raciocínio mais elaborado da parte do espectador). Este Bourne é amarrado por duas grandes sequências de ação, uma logo no início, em Atenas, e uma perto do desfecho, em Las Vegas. São como duas vigas que procuram dar sustentação à trama e onde o diretor pretende dar satisfação do orçamento acima de 100 milhões de dólares para, nos intervalos, expor sua visão a respeito dos problemas (reais) dos quais o filme apresenta discreto testemunho.
Sempre que personagens dentro do ambiente ficcional remetem a pessoas e situações que existem ou existiram fora das telas, o filme expande seu próprio universo, de certa forma exigindo da audiência que (mesmo involuntariamente) faça uma analogia com aquilo que o enredo diz e mostra com aquilo que se sabe – ou que eventualmente se poderia saber – a respeito do tema. No caso de “Jason Bourne”, que cita vagamente o nome de “Snowden” (Edward Snowden, um ex-funcionário da NSA – Agência de Segurança Nacional do Governo dos EUA – que veio a público revelar metodologia de vigilância usada pelos órgãos de defesa de seu país e que, hoje, vive em asilo temporário na Rússia) para localizar os conflitos, estamos lidando com o ruído permanente entre o que os governos querem obter de informação a respeito das atividades de seus cidadãos (e quais meios são usados para tal fim) e o quanto se pode ou não confiar no uso que se faz dela.
Embora seja, na maior parte do tempo, ligeira e discreta, essa referência direta à realidade geopolítica obrigaria a produção (na verdade, uma “superprodução”) a ser mais expositiva e fiel, o que não ocorre – ou porque a direção de Greengrass está mais interessada em colocar os personagens para apostar corrida, ou porque ela falha a respeito da acuidade naquilo que expõe. O momento no qual tal falha fica mais evidenciada é na quase interminável sequência que mostra os protestos em Atenas, quando superficialmente elaborada ambientação exibe inumeráveis bandeiras gregas entre os manifestantes, mas convenientemente se esquece de produzir também um número equivalente de bandeiras vermelhas, o que altera a percepção do espectador em relação ao que realmente aconteceu – como se sabe, um movimento com protagonismo da extrema esquerda e dos sindicatos do funcionalismo público ligados a esta na Grécia. O espectador mais atento eventualmente verá até uma suástica entre os “black blocs” gregos, mas a foice e o martelo mantêm-se em segundo plano, imperceptíveis.
O filme peca não só nesse registro da realidade como também em propor um desenrolar da trama dentro de terreno mais estrito regido pela verossimilhança (e não por uma abordagem fantasiosa da “realidade”). Em ao menos dois momentos os roteiristas (entre eles o próprio Greengrass) jogam a razoabilidade pela janela: o segundo, não revelarei aqui porque é um momento crucial da trama e está localizado próximo a seu desfecho. O primeiro, por sua vez, pode ser apontado: é quando o bilionário do ambiente digital (Kalloor), uma figura popular e seguida constantemente por fãs e paparazzi, acha uma brecha em sua agenda para tomar um cafezinho na lanchonete da esquina com o homem forte da CIA, trazendo à tona a relação que eles mantêm e que deveria, supostamente, permanecer sub-reptícia para coerência interna da própria história.
Embora esta seja uma falha de roteiro, sabemos que ela não é inusual em filmes com ambientação parcialmente transcorrida em “ambientes virtuais”: trocas de mensagens criptografadas, hackeamentos, segredos binários trancados aos quais apenas gênios da computação seriam capazes de decifrar, parecem, contudo, ser insuficientes para construir por si só o desenrolar típico da narrativa cinematográfica, que muitas vezes tem de recorrer ao bom e velho “olho no olho” (ou plano e contraplano), obrigando a plateia a ignorar que, naquele momento preciso, os meios de vigilância (dos quais o próprio filme deseja dar testemunho) também estariam em funcionamento, impedindo qualquer possibilidade de esse tipo de situação (como o encontro entre Kalloor e Dewey) ser mantida em sigilo – conforme o filme quer, ingenuamente, fazer crer.
Um filme como “Jason Bourne”, então, mantém seu interesse e a plateia em suspensão não pelo que ele supostamente oferece de “real”, mas muito mais por aquilo que, embora fantasioso, é apresentado como “realístico”. No caso, são especialmente as perseguições motorizadas, nas quais a expertise hollywoodiana faz seus inevitáveis solos para o público. Nesse sentido, o novo Bourne – tal qual, na verdade, seus antecessores – insere-se numa tradição de cinema em movimento cujo tributo deve ser pago a pelo menos dois filmes: “Operação França”, o clássico de 1971 dirigido por William Friedkin (e brilhantemente sucedido pela continuação “Operação França II”, de 1975, com direção de John Frankenheimer) e “Ronin”, a ainda insuperável produção dentro do subgênero lançada em 1998 e também dirigida com absoluta maestria por Frankenheimer.
Embora realizado décadas após estes três sucessos, “Jason Bourne” compartilha com eles, numa época em que boa parte do fenômeno cinematográfico dentro da indústria acaba reduzida (ou sintetizada) em programas de computação, a experiência física, mecânica, da filmagem em ambientes reais (ou que ao menos se parecem tão reais quanto seria possível), abrindo mão da aparência de videogame em benefício de uma encenação vibrante onde os atores têm papel decisivo (onde uma eventual projeção em 3D, por exemplo, revela-se totalmente dispensável). Aqui, eles estão absortos num emaranhado de proezas físicas que se alternam, entre explosões e tiros, de modo que seu elemento mais humano não é trazido pelos diálogos reduzidos (ainda que estes tenham por objetivo revelar suas emoções e sentimentos escondidos), mas pelo sofrimento físico, pelo cansaço, pelo atrito entre os corpos e o ambiente que os cerca, o que confere ao filme uma veracidade que nenhum discurso politizado seria capaz de propiciar.
Ao drama originalmente proposto por Robert Ludlum, faltam o cinismo e a maturidade política que sobram em outro autor de espionagem: Frederick Forsyth, este o grande mestre literário do gênero e autor de livros que também resultaram em bem-sucedidas incursões cinematográficas (“O Dia do Chacal”, “Cães de Guerra, “O Dossiê Odessa”).
Seria demais pedir a Greengrass que ele tocasse além da superfície em pontos críticos da discussão na qual ele pretende estar inserido, como por exemplo o fato impossível de ignorar de que Snowden (um símbolo da “resistência” dos indivíduos à intromissão do governo) seja hoje protegido por aquele que é possivelmente o mais atuante e tentacular serviço de inteligência em funcionamento (o dos russos). Ao enfrentar tal conflito sem rodeios, o cineasta abriria uma infinidade de outras portas para reflexão dos espectadores (e não é esta sua intenção?). Por outro lado, é justo poupar o filme de qualquer análise ideológica mais aprofundada.
Por mais que os críticos queiram fazer deste Bourne um panfleto que possa ser usado em sua pregação política, por mais que o próprio Greengrass gaste seu idioma tentando tornar a superprodução em algo mais relevante do que realmente é, o que resta na tela é uma trama onde, o tempo todo, os personagens colocam em atrito sua obrigação para com as instituições e o mundo exterior e a fidelidade quanto a si mesmos, ao seu mundo interior, repleto de memórias (perdidas e recuperadas), sentimentos familiares e dúvidas morais. É talvez nesse ponto que o filme finalmente se converta num libelo político, e não quando exibe um balé distorcido e incompleto contra a atuação da Troika na Grécia.
Crítica | A Lenda de Tarzan
O célebre historiador inglês Paul Johnson descreve o Congo belga – em sua monumental trajetória do século XX, Tempos Modernos – como uma “vasta, valiosa e primitiva” região em pleno impulso econômico pouco antes da independência (1960), com um índice de leitos de hospital por habitantes maior que o da própria Bélgica e altas taxas de alfabetização – em momento imediatamente anterior à onda de populismo de políticos profissionais como Patrice Lumumba, o qual tão bem caracterizaria o caos africano pós-colonial.
Nada disso interessa a David Yates e seu A Lenda de Tarzan, uma superprodução de 180 milhões de dólares com jeito de franquia, mas pretensão de discurso ideológico tendo por objeto os conflitos ocasionados pelo colonialismo, mais de meio século antes. Yates é um experiente diretor de fantasias da saga Harry Potter e sofre para dar nova roupagem ao velho enredo de aventuras do casal Tarzan e Jane, do escritor norte-americano Edgar Rice Burroughs, especialmente tentando encaixar uma linha paralela composta pelos flashbacks que explicam as origens da lenda e do caso de amor entre uma criança criada pelos gorilas e uma garota “empoderada” do final do século XIX. É inclusive esse “acréscimo” de explicações que torna a metragem do filme ligeiramente exagerada, com quase duas horas que poderiam ser diminuídas sem prejuízo do espetáculo ou mesmo da compreensão da trama, desnecessariamente confusa em seu início.
Para levar adiante o interesse de representantes traiçoeiros da Bélgica na África, Leon Rom (Christoph Waltz) consegue atrair dissimuladamente John Clayton (o Tarzan, Alexander Skarsgård), sua esposa Jane (Margot Robbie) e o mercenário veterano George Washington Wlliams (Samuel L.Jackson) para uma expedição ao Congo que se revela uma armadilha motivada pelo desejo de vingança do Chefe Mbonga (Djimon Hounsou), decorrência esta de um incidente ocorrido há anos, quando Tarzan ainda vivia no continente.
O maior problema de um filme como “A Lenda de Tarzan” reside numa contradição fundamental: sua aversão mórbida à “civilização” (ocidental, burguesa, cristã) está em permanente contradição com o fato de ser o cinema, possivelmente, a mais “civilizada” das linguagens artísticas, dificilmente replicável em sociedades primitivas. Sem civilização, não temos cinema (ou especialmente “indústria de cinema”, da qual o próprio filme é um representante óbvio e grandiloquente). A hipocrisia da abordagem fica escancarada ainda quando, por exemplo, a produção opta por vestir o Tarzan com pouca roupa, mas manter a Jane sempre bem coberta (escolha esta que nada tem de “selvagem”, na falta de melhor definição).
Sutileza não costuma ser o forte de um filme que não suporta ser simplesmente um passatempo milionário, mas quer também ser “político”: a trama praticamente é aberta com o close de um simulacro de crucifixo, que mais tarde terá importância prática (e reveladora). Enquanto repete mais uma vez o papel de vilão sarcástico que o projetou em “Bastardos Inglórios”, Christoph Waltz simboliza o típico canalha imperialista, ladrão de riquezas e falso religioso. Símbolos da liturgia católica, aliás, são hoje um dos segredos de Polichinelo de uma Hollywood varrida por agnosticismo: nos filmes, são invariavelmente falsos, truques para ludibriar e trapacear. Há espaço em blockbusters como este para todo tipo de crença (em governos, na imprensa, na utopia revolucionária, na empatia natural entre tribos selvagens), exceto a cristã, que surge sempre como uma simulação vazia de significado.
Waltz não é o único ator que se repete no filme, nem tampouco o que reproduz uma espécie de caricatura moldada anteriormente por Quentin Tarantino. O personagem de Samuel L. Jackson (um veterano da Guerra Civil norte-americana em improvável crise de consciência) é também uma repetição confortável do que ele fez anteriormente (em “Os Oito Odiados”, por exemplo), aparentemente inútil para o desenrolar da trama propriamente dita, mas justificada pelo discurso que o filme pretende apresentar.
Num mundo do entretenimento sufocado pela tirania do discurso politicamente correto, onde mobilizações em redes sociais podem comprometer um investimento de centenas de milhões de dólares após um tolo descuido de criação, seria perigoso tornar este novo Tarzan num mero conflito racial entre brancos e negros, por exemplo. Para deixar claro que não é esta a motivação política do filme (mas outra, ligeiramente diferente), o personagem de Jackson representa consciência atormentada diversa (não a do branco, mas a do explorador atemporal civilizado diante da selvagem natureza que explora).
O roteiro de “A Lenda de Tarzan” teria diversas opções para dramatizar o colonialismo, podendo falar da escravidão, do tráfico de marfim, da tirania contra os nativos ou do roubo de pedras preciosas. Na dúvida, ele opta por falar de tudo, o que não deixa ao espectador a menor oportunidade de respirar (e pensar por conta própria). Waltz é branco, é europeu, é vilão. Ele é, especialmente, “civilizado”, e a cena em que arruma os talheres usados sobre o prato sublinha este elemento até exauri-lo. Católicos por sua vez aparecem como falsos e, eventualmente, pedófilos (conforme insinua um diálogo entre o personagem de Waltz e Jane, interpretada discretamente por Robbie).
Contra a civilização (que é, no filme, irremediavelmente má), há o “bom selvagem humano” (em anódina presença de Alexander Skarsgård), o mero “selvagem humano” (nem bom, nem mau, representado pela tribo desonrada e que faz um acordo com os brancos invasores) e o simplesmente “selvagem” (os animais, um espetáculo particular de animação e material para as encantadoras cenas da selva). Não existe o “mau selvagem” no universo proposto pelo filme, ou ao menos tal questão não é problematizada.
É curioso, contudo, como o que predomina na ação é o amor romântico em sua versão bastante civilizada (e burguesa) entre Tarzan e Jane, em momentos quando o discurso ideológico relativamente barato (porque simplificador) dá espaço aos personagens em sua dimensão mais humana e menos “social”.
Visualmente, o filme oscila no hoje habitual conflito formal das grandes produções de Hollywood: cenas com vasta composição digital por vezes “brigam” com cenas com atores e cenários reais. Os piores momentos desse conflito são, contudo, reduzidos, como no PV de “videogame” em que a animação simula movimentos virtualmente impossíveis para uma câmera de cinema, realçando seu artificialismo. Os planos gerais funcionam muito melhor, ademais, que os closes onde o efeito revela-se facilmente – na mão de Tarzan que lembra a do personagem Hulk em outra franquia e quebra o realismo que, por outro lado, seria mais facilmente mantido confiando-se em recursos cinematográficos óbvios.
Da mesma forma, o recurso do 3D é, aqui, pouco eficiente, ficando em muitos momentos esquecido a ponto de passar despercebido. Os realizadores acabam confiando pouco em suas ferramentas cinematográficas mais elementares – fotografia e edição (as quais, quando bem usadas pela direção, resultam em momentos de preciosa composição, como na cena de abertura ou nos detalhes de “iluminação natural” nas externas) para colocar muitas fichas em C.G.I. e 3D quando estes seriam até mesmo dispensáveis. Nunca é demais chamar atenção para o extraordinário trabalho dos editores de som na indústria, desenvolvendo e exercitando sua mágica arte de criar ambientação e estimular sensações em elaborada mixagem.
Um filme como “A Lenda de Tarzan” inevitavelmente comunica-se, na história do cinema e no imaginário do espectador, com clássicos recentes como “O Rei Leão” (1994), “King Kong” (2005) e “Avatar” (2009), realimentando o folclore do “bom selvagem”, usurpado pelo “homem civilizado”, ganancioso e violento. Nesse sentido, o filme é mais tolo que um delírio voluntariamente leviano como o “Canibais” (2013) de Eli Roth, que zomba desse autoengano – vejam só, que ironia – também típico do mundo civilizado: buscar na natureza uma inocência perdida.
Enquanto “A Lenda de Tarzan” e seus congêneres optam pela fantasia para supostamente discutir política e história, títulos aparentemente vulgares como o Green Inferno de Roth dão um choque de realidade no espectador, tornando o que seria uma sessão de cinema banal num exercício incômodo de autorreflexão (o que o filme de Tarzan impede através da música sempre presente e do histrionismo de sua “mensagem”).
Se você quer uma sessão de cinema pautada pelo deslumbramento tecnológico e oferecida com o máximo de profissionalismo que a produção de ponta dos estúdios pode atingir, “A Lenda de Tarzan” pode ser uma boa pedida. Mas cuidado: cineastas muito satisfeitos com seus próprios recursos (proporcionados pela civilização ocidental) costumam ser péssimos conselheiros quando o assunto é política e história.
Artigo | Por que os blockbusters dos anos 1990 eram melhores que os de hoje?
O que mudou no cinema de ponta de Hollywood, naquilo que a indústria faz de realmente melhor (ou ao menos aquilo que é virtualmente impossível de ser igualado por qualquer outra cinematografia), entre a última década do século passado e os dias de hoje?
Bem, os filmes converteram-se de puramente físico-químicos (no suporte) e mecânicos (na encenação) para predominantemente digitais na captação e mesmo na composição (ao menos em se tratando das grandes produções de Hollywood). As imagens em geral têm um aspecto menos orgânico e muitas cenas assemelham-se àquelas também encontradas em videogames: façanhas que deveriam ser atingidas fisicamente hoje podem ser vencidas de uma sala com ar condicionado.
Blockbusters continuam muito caros e a expectativa a respeito de seu desempenho de bilheteria cresce a cada temporada. Por outro lado, hoje há uma variedade de janelas e mercados a serem explorados que não havia antigamente.
Quando o “Independence Day” (ID4, de 1996) original foi lançado, ainda me lembro da espera alimentada por trailers, cartaz e aquelas oito fotos que faziam parte do display tipicamente localizado na porta das salas para atrair os espectadores. Havia mais cinemas de rua que hoje em dia, então o espectador fortuito, capturado por uma “promessa de filme”, misterioso e desconhecido, era uma presença importante para os exibidores. Tal espectador nada tinha a ver com o cinéfilo ultrainformado do cinema de hoje, o caçador de spoilers que parece ter o roteiro de um filme que ainda sequer estreou decorado na cabeça: as salas realmente dependiam de práticas típicas do varejo para conquistar clientes-espectadores.
Hoje, como se sabe, os blockbusters são pensados como franquias que ultrapassam em muito o setor cinematográfico. Busca-se a todo tempo uma integração entre filmes e uma infinidade de subprodutos (audiovisuais ou não), que antecedem e se mantêm mesmo após a carreira de cada título no circuito. Um filme puxa outro: um plot durante a projeção só é suficientemente compreendido por sua ligação com outro título, mesmo em linguagem diferente (HQ, por exemplo). Aparentemente, o consumidor de filmes desavisado (aquele do parágrafo anterior, que vê um filme qualquer porque o cartaz chamou sua atenção), que convive com a narrativa por no máximo 120 minutos, e retorna a sua vida real, foi dando espaço a um espectador permanente, vivente numa zona cinzenta entre seu cotidiano e o imaginário dos grandes lançamentos. Suas demandas são radicalmente distintas e seu próprio perfil intelectual e psicológico, seus anseios e maneira como se relaciona com a realidade, acabaram por influenciar a forma como os enredos são pensados e apresentados de volta.
É curioso notar que essa transformação das práticas do mercado – especialmente com a revolução provocada pelas redes sociais – encontra alguma tradução correspondente nas telas. Os grandes lançamentos continuam tendo heróis e vilões, mas eu realmente penso que alguma coisa mudou e que os w da década de 1990 espelhavam a natureza e as expectativas do “homem comum”, o que não acontece mais hoje em dia particularmente pelo fato de que o “homem comum” é o pária de uma geração nascida e acostumada ao paradigma (ou à mera ilusão) da diferenciação eventualmente possibilitada pela expressão nas próprias redes sociais.
Vamos tomar como exemplos ID4 e “Armageddon” (1998). São, como se disse, em diferentes graus segundo o ano quando foram produzidos, obras onde o elemento essencialmente cinematográfico está mais presente se compararmos aos blockbusters da atualidade. Ou seja: o espetáculo baseado em encenar-marcar-filmar-montarsobrepõe-se aos instrumentos de manipulação digital que permitem, hoje, não raro dispensar esse processo em direção direta ao resultado final (e quando aquilo for definitivamente deixado de lado, terá morrido o cinema afinal). Mas tal ponto é evidentemente determinado pelo estado de coisas tecnológico de cada época e que se sobrepõe ao mero ato de realização cinematográfica. Dois anos mais novo, “Armageddon” já é bem mais digital que ID4, por exemplo.
Na tela, blockbusters antigos celebram a jornada e a vitória possível do indivíduo de alguma forma ordinário e desprovido de melhores recursos (científicos, econômicos) que suas próprias galhardia e presença de espírito. Em ID4, o mundo é salvo por um nerd divorciado, um aviador esquentadinho, um político que na verdade é um militar de baixa patente e um alcoólatra momentaneamente sóbrio; em “Armageddon”, quem salva a humanidade é o mais improvável grupo de técnicos de escolaridade mediana, trapaceiros e rednecks. Nestes dois casos, é o americano típico de classe média (baixa) que corrige os erros e a incapacidade crônica de lidar com o apocalipse representada pela CIA (ID4) e pela NASA (“Armageddon”) – enquanto os agentes da primeira têm informação (mantida secreta), mas lhes falta coragem, os estudiosos da segunda têm a técnica, mas nenhuma vivência: duas qualidades que sobram nos heróis improváveis. Estes são também altamente refratários à burocracia e aos regulamentos impostos pela autoridade (ou pela “elite”), preferindo sempre improvisar a agir de acordo com o livro de regras que eles mesmos não aprovariam. Em ambos os casos, eles não respondem diretamente a nenhuma “irmandade” a não ser aquela informalmente construída pela amizade entre indivíduos em sua rotina.
Em boa parte dos mais célebres blockbusters da atualidade, o imaginário proposto corre em sentido oposto: protagonistas (heróis ou não necessariamente) são bruxos com varinhas mágicas, vampiros eventualmente indestrutíveis, herdeiros de famílias milenares, elfos de olhos azuis, mutantes com poderes sobrenaturais, fisiculturistas alienígenas indestrutíveis, membros de poderosas sociedades secretas ou – na melhor das hipóteses e certamente na melhor das franquias – um bilionário fantasiado.
Onde está o homem comum, com contas para pagar, pensão da ex-mulher, filha pré-adolescente problemática, namorada em dúvida se casa ou não? Não me venham dizer que é o adolescente picado por uma aranha que adquire habilidades espetaculares do dia para a noite.
De certo modo, colocadas de lado as qualidades eventuais (e elas, de fato, existem) dos blockbusters do século XXI, parece haver uma desistência, um enfastio, uma rendição à triste constatação de que homens comuns tornaram-se incapazes de fazer diferença, numa época em que “ser anônimo” equivale muitas vezes a simplesmente “não ser”.
Será esta uma tendência predominante ou apenas uma impressão provocada por meia dúzia de títulos em cada caso que não representaria o espírito de suas respectivas épocas? Não posso responder. Tudo que digo é que tenho certa saudade e relembro com nostalgia dos cartazes, dos displays, do caminho silencioso para uma sala de projeção vazia, uma terça-feira chuvosa em sessão de começo de tarde, a curiosidade e a prazerosa vulnerabilidade diante de uma trama desconhecida, de pouco saber a respeito do que me esperava na tela: de vez em quando, um cara qualquer como eu salvando o mundo entre uma cerveja e outra.
Os Bons Companheiros - Qual música era aquela?
Na primeira aula do primeiro curso que um roteirista aspirante for freqüentar, é bastante provável que ele ouça duas recomendações importantes: a primeira delas é evitar escrever "Fulano pensa" nos cabeçalhos de suas cenas, como ele faria num texto literário comum; a segunda é "Não construa cenas em cima de canções" ou algo do tipo.
Embora a segunda regra tenha um fundamento prático (dificilmente um roteirista poderá afirmar com certeza que tal canção estará disponível mais tarde para ser inserida no filme propriamente dito), muitos cineastas têm prazerosamente quebrado tal regra em algum momento do processo de produção. Por causa disso, podemos saborear momentos musicais dentro dos enredos que, muitas vezes, marcam na memória muito mais que os filmes inteiros.
É difícil determinar quem primeiramente decidiu inserir uma canção pronta (e reconhecida) sobre uma cena de um novo filme, mas - ao menos modernamente - é Martin Scorsese um diretor pródigo em construir climas cinematográficos onde uma música popular sublinha as imagens ou lhes dota de localização temporal (e emocional), como nesta famosa sequência de "Os Bons Companheiros" com a faixa Layla (Derek and Dominos):
Todo mundo já deve ter passado pela experiência de ouvir uma música no rádio e ser remetido a uma sessão de cinema do passado, ou assistir a um filme e ficar até o final dos créditos para descobrir, afinal, "qual canção é aquela". Um australiano e um ucraniano criaram um divertido site que procura responder a questões como essa (http://www.what-song.com/).
Abaixo, seleciono alguns dos meus momentos prediletos em filmes (uns melhores, outros piores) onde canções enriquecem em muito a experiência cinematográfica.
"Song to the siren" (This Mortal Coil) em "Estrada Perdida", de David Lynch. A mesma canção é ouvida em "Um Olhar do Paraíso" de Peter Jackson:
"Relax" (Frank goes to Hollywood) em "Dublê de Corpo", de Brian De Palma:
Outro momento criado por David Lynch, em "Veludo Azul", com Roy Orbison e sua canção "In Dreams":
Aqui, o adorável momento ao som de "If there is something" (Roxy Music) em "Reflexos da Inocência":
"Ça plane pour moi" (Plastic Bertrand) em "O Lobo de Wall Street":
"Don't worry be happy" (Bobby McFerrin) em "Soldado Anônimo":
E finalmente a abertura de "Cães de Aluguel" com "Little Green Bag" (George Baker Selection):
E você, conseguiu descobrir, afinal, "qual música era aquela"?