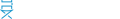[et_pb_section admin_label=”section”][et_pb_row admin_label=”row”][et_pb_column type=”4_4″][et_pb_text admin_label=”Texto” background_layout=”light” text_orientation=”left” text_text_color=”#000503″ use_border_color=”off” border_color=”#ffffff” border_style=”solid”]
O que mudou no cinema de ponta de Hollywood, naquilo que a indústria faz de realmente melhor (ou ao menos aquilo que é virtualmente impossível de ser igualado por qualquer outra cinematografia), entre a última década do século passado e os dias de hoje?
Bem, os filmes converteram-se de puramente físico-químicos (no suporte) e mecânicos (na encenação) para predominantemente digitais na captação e mesmo na composição (ao menos em se tratando das grandes produções de Hollywood). As imagens em geral têm um aspecto menos orgânico e muitas cenas assemelham-se àquelas também encontradas em videogames: façanhas que deveriam ser atingidas fisicamente hoje podem ser vencidas de uma sala com ar condicionado.
Blockbusters continuam muito caros e a expectativa a respeito de seu desempenho de bilheteria cresce a cada temporada. Por outro lado, hoje há uma variedade de janelas e mercados a serem explorados que não havia antigamente.
Quando o “Independence Day” (ID4, de 1996) original foi lançado, ainda me lembro da espera alimentada por trailers, cartaz e aquelas oito fotos que faziam parte do display tipicamente localizado na porta das salas para atrair os espectadores. Havia mais cinemas de rua que hoje em dia, então o espectador fortuito, capturado por uma “promessa de filme”, misterioso e desconhecido, era uma presença importante para os exibidores. Tal espectador nada tinha a ver com o cinéfilo ultrainformado do cinema de hoje, o caçador de spoilers que parece ter o roteiro de um filme que ainda sequer estreou decorado na cabeça: as salas realmente dependiam de práticas típicas do varejo para conquistar clientes-espectadores.
Hoje, como se sabe, os blockbusters são pensados como franquias que ultrapassam em muito o setor cinematográfico. Busca-se a todo tempo uma integração entre filmes e uma infinidade de subprodutos (audiovisuais ou não), que antecedem e se mantêm mesmo após a carreira de cada título no circuito. Um filme puxa outro: um plot durante a projeção só é suficientemente compreendido por sua ligação com outro título, mesmo em linguagem diferente (HQ, por exemplo). Aparentemente, o consumidor de filmes desavisado (aquele do parágrafo anterior, que vê um filme qualquer porque o cartaz chamou sua atenção), que convive com a narrativa por no máximo 120 minutos, e retorna a sua vida real, foi dando espaço a um espectador permanente, vivente numa zona cinzenta entre seu cotidiano e o imaginário dos grandes lançamentos. Suas demandas são radicalmente distintas e seu próprio perfil intelectual e psicológico, seus anseios e maneira como se relaciona com a realidade, acabaram por influenciar a forma como os enredos são pensados e apresentados de volta.
É curioso notar que essa transformação das práticas do mercado – especialmente com a revolução provocada pelas redes sociais – encontra alguma tradução correspondente nas telas. Os grandes lançamentos continuam tendo heróis e vilões, mas eu realmente penso que alguma coisa mudou e que os w da década de 1990 espelhavam a natureza e as expectativas do “homem comum”, o que não acontece mais hoje em dia particularmente pelo fato de que o “homem comum” é o pária de uma geração nascida e acostumada ao paradigma (ou à mera ilusão) da diferenciação eventualmente possibilitada pela expressão nas próprias redes sociais.
Vamos tomar como exemplos ID4 e “Armageddon” (1998). São, como se disse, em diferentes graus segundo o ano quando foram produzidos, obras onde o elemento essencialmente cinematográfico está mais presente se compararmos aos blockbusters da atualidade. Ou seja: o espetáculo baseado em encenar-marcar-filmar-montarsobrepõe-se aos instrumentos de manipulação digital que permitem, hoje, não raro dispensar esse processo em direção direta ao resultado final (e quando aquilo for definitivamente deixado de lado, terá morrido o cinema afinal). Mas tal ponto é evidentemente determinado pelo estado de coisas tecnológico de cada época e que se sobrepõe ao mero ato de realização cinematográfica. Dois anos mais novo, “Armageddon” já é bem mais digital que ID4, por exemplo.
Na tela, blockbusters antigos celebram a jornada e a vitória possível do indivíduo de alguma forma ordinário e desprovido de melhores recursos (científicos, econômicos) que suas próprias galhardia e presença de espírito. Em ID4, o mundo é salvo por um nerd divorciado, um aviador esquentadinho, um político que na verdade é um militar de baixa patente e um alcoólatra momentaneamente sóbrio; em “Armageddon”, quem salva a humanidade é o mais improvável grupo de técnicos de escolaridade mediana, trapaceiros e rednecks. Nestes dois casos, é o americano típico de classe média (baixa) que corrige os erros e a incapacidade crônica de lidar com o apocalipse representada pela CIA (ID4) e pela NASA (“Armageddon”) – enquanto os agentes da primeira têm informação (mantida secreta), mas lhes falta coragem, os estudiosos da segunda têm a técnica, mas nenhuma vivência: duas qualidades que sobram nos heróis improváveis. Estes são também altamente refratários à burocracia e aos regulamentos impostos pela autoridade (ou pela “elite”), preferindo sempre improvisar a agir de acordo com o livro de regras que eles mesmos não aprovariam. Em ambos os casos, eles não respondem diretamente a nenhuma “irmandade” a não ser aquela informalmente construída pela amizade entre indivíduos em sua rotina.
Em boa parte dos mais célebres blockbusters da atualidade, o imaginário proposto corre em sentido oposto: protagonistas (heróis ou não necessariamente) são bruxos com varinhas mágicas, vampiros eventualmente indestrutíveis, herdeiros de famílias milenares, elfos de olhos azuis, mutantes com poderes sobrenaturais, fisiculturistas alienígenas indestrutíveis, membros de poderosas sociedades secretas ou – na melhor das hipóteses e certamente na melhor das franquias – um bilionário fantasiado.
Onde está o homem comum, com contas para pagar, pensão da ex-mulher, filha pré-adolescente problemática, namorada em dúvida se casa ou não? Não me venham dizer que é o adolescente picado por uma aranha que adquire habilidades espetaculares do dia para a noite.
De certo modo, colocadas de lado as qualidades eventuais (e elas, de fato, existem) dos blockbusters do século XXI, parece haver uma desistência, um enfastio, uma rendição à triste constatação de que homens comuns tornaram-se incapazes de fazer diferença, numa época em que “ser anônimo” equivale muitas vezes a simplesmente “não ser”.
Será esta uma tendência predominante ou apenas uma impressão provocada por meia dúzia de títulos em cada caso que não representaria o espírito de suas respectivas épocas? Não posso responder. Tudo que digo é que tenho certa saudade e relembro com nostalgia dos cartazes, dos displays, do caminho silencioso para uma sala de projeção vazia, uma terça-feira chuvosa em sessão de começo de tarde, a curiosidade e a prazerosa vulnerabilidade diante de uma trama desconhecida, de pouco saber a respeito do que me esperava na tela: de vez em quando, um cara qualquer como eu salvando o mundo entre uma cerveja e outra.
[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]