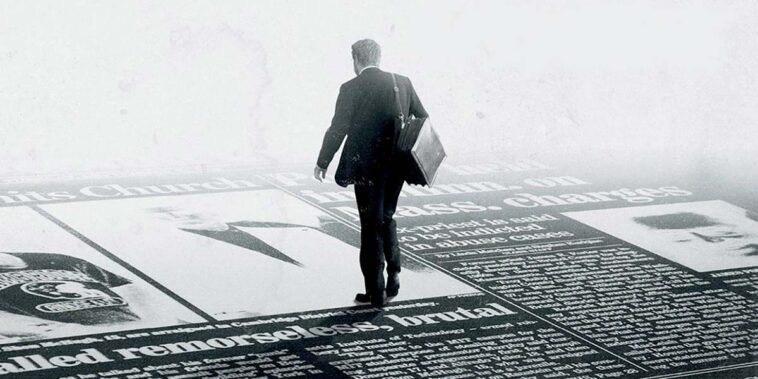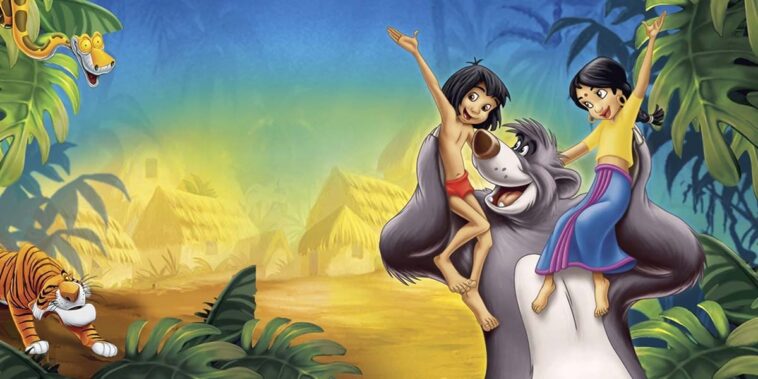Crítica | X-Men: Apocalipse
Com Spoilers
A Fox e sua Caixa de Pandora
O gênero de super-heróis no cinema deve muito a Bryan Singer, um dos maiores responsáveis pela retomada ao lado de Sam Raimi. É simples se recordarmos um pouco da História escrita desde os anos 1970 quando Richard Donner e Christopher Reeve mostraram que o homem podia sim voar. Entretanto, após dois grandes filmes, o gênero viu o quão ruim poderiam ser seus filmes. Ainda que houvesse algum sopro de esperança com os Batman de Tim Burton, os super-heróis foram linchados por verdadeiras bombas com os dois últimos filmes nos quais Reeve encarnou Superman, além da chegada da nêmese do gênero – a infame fase de Joel Schumacher na direção dos últimos Batman dos anos 1990.
Em 1998, apesar de irregular, a chegada de Blade aos cinemas ofereceu nova chance para realizarem um trabalho ótimo com super-heróis na sétima arte. Isso aconteceu dois anos depois, em 2000 com o primeiro filme dos X-Men comandado por um suspeito Bryan Singer. O sucesso foi estrondoso para um blockbuster considerado barato – 70 milhões de dólares. De um modo ou de outro, Singer e seus ex-humanos deram segurança para outros estúdios investirem em adaptações próprias revirando o baú dos direitos autorais de uma infinidade de heróis que a Marvel havia vendido nos anos 1990 para não ir à bancarrota.
Ao mesmo tempo que recebemos obras excelentes como Homem-Aranha, Homem-Aranha 2, 300, Batman Begins, O Cavaleiro das Trevas, Watchmen, Homem de Ferro e Hellboy 2, muitas obras abomináveis conheceram a luz do dia também. A grande ironia se dá justamente com a Fox, o estúdio que apostou em Singer duas vezes culminando no ápice da franquia com o praticamente impecável X2, também foi o responsável por trazer os filmes mais vergonhosos da década passada. A lista é longa: X-Men: O Confronto Final, Wolverine Origens, Elektra, Demolidor, A Liga Extraordinária e os dois Quartetos Fantásticos. Uma bizarra própria caixa de Pandora onde foi a Esperança quem escapou primeiro.
Custou quase uma década inteira de trapalhadas constantes do estúdio com seus mutantes para enfim chamarem Bryan Singer de volta a casa. Nascido do marketing reverso, X-Men: Primeira Classe conseguiu surpreender a todos que já estavam para lá de descrentes com os rumos podres que a franquia estava tomando. A solução definitiva veio com Dias de Um Futuro Esquecido, um filme reboot que teve sucesso em juntar as duas linhas temporais para apagar quase tudo o que havia sido feito até então. O diretor conseguiu o impossível em solucionar tantos problemas, ainda que criando mais alguns para si, convenientemente esquecidos neste X-Men: Apocalipse.
Pela segunda vez nesse primeiro semestre de 2016, temos mais um longa do gênero que foi muito mal recebido pela crítica internacional e que dividirá o público com toda a certeza. Seguindo a tradição formada, fui cometido de tremenda simpatia por Apocalipse, mas admito que a interpretação que trata esse filme com desdém também tem sua parcela de razão.
A grosso modo, há um repeteco de dramas e situações já vistas nos outros sete filmes X-Men. Isso pode irritar quem tem uma memória invejável, porém, ao mesmo tempo, é uma aventura que fundamenta definitivamente a história de origem da equipe mutante enquanto trabalha com a possibilidade do universo paralelo originado graças aos eventos de DOFP. Muito do drama típico dos X-Men é deixado de lado dando vez para mais humor. Os eventos apocalípticos também têm um peso muito menor. Ao fim do filme, parece que vivem em uma utopia com poucos homens e mutantes maus. Essa mudança de ares agradará alguns e certamente deixará outros bastante decepcionados.
O Maniqueísmo de um Falso Deus
Após Mística salvar o presidente dos EUA das mãos de Magneto, virou um símbolo de resistência, coragem e heroísmo para diversos jovens mutantes ao redor do mundo. Porém, muito tempo no passado, especificamente no quarto milênio antes de Cristo, outro mutante era um símbolo, mas sim de opressão e poder ilimitado. Após ser traído por seus seguidores durante a transferência de consciência “definitiva”, o deus mutante adormece até 1983 sendo liberto por Moira McTaggert durante uma descoberta acidental – uma baita conveniência por sinal.
Com o choque de realidade onde En Saba Nur não é o comandante supremo adorado por todos, logo descobre que o mundo cheio de sistemas e armas atômicas deve ser “purificado”. Para realizar isso, conta com quatro seguidores: Tempestade, Psylocke, Anjo e um Magneto repleto de ódio após ter perdido sua família mais uma vez pelas mãos dos homens. Para salvar o mundo da destruição completa, Xavier se verá obrigado a organizar novamente os X-Men, além de lidar com a dificuldade de coordenar seus novo alunos para a luta: Jean Grey, Scott Summers e Kurt Wagner. Fora isso, também terá de recuperar a confiança há muito tempo perdida de Mística, descrente de toda a causa pacifista que Xavier prega.
Ironicamente, apesar de ser considerado um disaster movie pelo próprio Bryan Singer, o roteiro de Simon Kinberg não falha em detonar certo escopo menor e mais intimista do que o visto em Dias de Um Futuro Esquecido. Isso se dá por conta da representação da ameaça de Apocalipse, um vilão eloquente e orgulhoso que nunca se revela ao mundo, algo bastante bizarro se levarmos em conta o passado no Egito antigo quando era considerado uma divindade. Um vilão megalomaníaco que sempre prefere agir pelas sombras.
Aliás, o maior problema desse ótimo longa reside quase que inteiramente no núcleo dos antagonistas. É louvável que o roteiro não tenha escolhido o caminho fácil de fazer com que Apocalipse tenha a habilidade de controlar seus seguidores através de um poder mental ou lavagem cerebral. O seu maior poder, na teoria, é a persuasão, ou seja, ao contrário de um deus bondoso, se porta mais como um demônio sedutor distribuidor de falsas riquezas – algo excelente, mais uma vez. Porém, com essa ideia tão boa, é impressionante a falta de habilidade de Kinberg em colocar isso na prática através de diálogos, drama e motivações competentes. Tudo é medíocre quando senão porco, no caso de Tempestade.
Quando Apocalipse se põe a falar pela terceira vez, é impossível não sentir que há algo de errado ali. O vilão é um disco arranhado, vociferando sempre a ameaçadora frase “Everything they’ve built will fall! And from the ashes of their world we’ll built a better one! ”. Claro, é uma frase de efeito excelente que revela alguma motivação turva para este confuso personagem, porém repeti-la tantas e tantas vezes ou lançando outras contendo a mesma mensagem é limitar um vilão que poderia ter sido um dos melhores que o gênero já viu nas telonas.
A representação simbológica mais que clara para Apocalipse funciona, mas a interação dele com seu grupo de seguidores ou até mesmo o embate ideológico sempre tão presente na franquia X-Men, acaba raquítico em Apocalipse. Sua guerra contra os sistemas políticos dos anos 1980 é rápida e polida demais. Essa fraqueza de diálogos razoáveis permeia o filme inteiro nessa nova proposta mais light e aventuresca.
Apostando muito nesse cerne de síntese da destruição, Apocalipse é prejudicado por falta de clareza em seus objetivos. Seu plano maléfico muda de rumos inexplicavelmente no começo do terceiro ato, afinal qual a razão de não explodir o mundo inteiro com as bombas atômicas que ele lança para o espaço para logo depois mandar Magneto desestabilizar o planeta e seus polos magnéticos que também culminaria em uma destruição em massa?
Mesmo se mantendo e agindo nas sombras, o personagem só ganha ares ameaçadores por conta da atuação cheia de presença de Oscar Isaac. Apesar de não criar muito, o ator acerta em manter o personagem sereno na maioria do filme. Um ser racional, pouco emotivo e cheio de pragmatismos. Nos primeiros atos, o vilão não fica ponderando, ruminando besteiras ou filosofias. Ele simplesmente age. Porém isso começa a mudar quando o roteirista apresenta o “dom” da persuasão para convencer os outros antagonistas a virarem seus seguidores.
Em grande maioria, são momentos falhos sendo o de Tempestade o pior, pois Kinberg aposta em algum desenvolvimento com a personagem. É interessante o longa traduzir ela como uma sobrevivente desde cedo, vivendo com nenhuma regalia, roubando para comer, além de deixar claro que ela possui algum senso de justiça inspirado diretamente nas ações de Mística no filme anterior. Colocado isto, é absurdo Kinberg e Singer passarem um pano nesse estabelecimento moral para a personagem apoiar um mutante bizarro nada simpático que tomará ações genocidas no decorrer da história. Pior ainda é a catarse de Tempestade vir somente após Apocalipse sufocar Mística, sua ídolo. Fora ter chamado de “inútil” seu outro seguidor já morto, Arcanjo. Matar milhões de inocentes aparentemente não basta para acordar a heroína à realidade. Se era para ter essa transformação ou desenvolvimento de personagem, era melhor não ter nenhum. Colocassem ela como mera coadjuvante como fora em todos os filmes anteriores.
Mesmo errando muito com Tempestade, Kinberg não vacila tanto por não inventar alguma evolução para Anjo ou Psylocke. As motivações dos dois são muito rasteiras, seduzidos apenas pela promessa e entrega de mais poder dado por Apocalipse – essa habilidade de intensificar as mutações dos personagens é interessante. Ambos entram e saem calados de cena dando margem para criação zero na atuação de Ben Hardy e Olivia Munn que se limitam a fazer poses bonitas e poderosas.
No que há de realmente bom em Apocalipse é a sina amaldiçoada do deus. A ironia fina de sempre cair, fracassar, ao ser traído por seus seguidores. Na primeira vez pelos inferiores humanos e na segunda, por seus súditos mais fiéis. Um arco irônico bem alocado. Além disso há alguma margem de exploração logo arrefecida com Magneto que possui o arco mais interessante do filme.
Magneto e a Memória
Após tantas obras, é difícil criar algum ineditismo para o sofrido personagem, porém os roteiristas têm sucesso em Apocalipse. Apesar de ser um núcleo previsível, telegrafado, é interessante ver a nova identidade de Magneto convivendo em paz com sua família nas entranhas da Polônia levando o modo de vida menos destrutivo que Xavier pregava desde Primeira Classe. Obviamente, a família dele morre, acidentalmente, despertando o latente rancor e ódio que ele sente pelos homens. Ao questionar Deus sobre sua verdadeira natureza, eis que surge Apocalipse com a resposta. É um jogo tão bem feito quanto o da traição que a divindade sofre. Simples e bem pensado. Aliás, é ótimo notar que o vilão não ativa fisicamente o verdadeiro potencial de Magneto, mas apenas direciona sua concentração. Eis que temos a versão mais forte, perigosa e ameaçadora do mutante até agora.
Além disso a simbologia da destruição de Auschwitz é intensa. Ao destruir o maior memorial do sofrimento judeu na História, Magneto põe em prática a velha máxima: “o povo que não conhece sua história, está condenado a repeti-la”. Isso é a essência da concepção do personagem desde os quadrinhos que foi tão maravilhosamente adaptada e desenvolvida ao longo de seis filmes. Um rapaz que sofreu com os horrores da intolerância e genocídio para se transformar exatamente no que mais repudiava – apesar do vilão oscilar no seu nível de carnificina, o discurso permanece.
Nisso há a origem dos pontos positivos do roteiro. Essa nova trilogia que virá, pelo jeito, caminhará por rumos muito diferentes do que vimos na primeira. Tudo graças aos eventos de DOFP. Agora nessa realidade paralela, os mutantes não sofrem tanto com o preconceito, apesar de ainda existir, velado. Os vilões passam a trabalhar para o bem. E o drama trágico se esvai quase que completamente. Certamente é uma faca de dois gumes, pois direciona a franquia para terrenos amistosos e mais seguros.
Kinberg trabalha com menos personagens com a intenção desenvolvê-los de ponta a ponta com qualidade narrativa. Nisso temos: Mística, Xavier, Magneto, Jean Grey e Scott. Logo fica mais simples de analisar o texto. Personagens secundários são tratados como tais. Às vezes como conveniências de história com Moira McTaggert ou como instrumentos de soluções rápidas através de Noturno, Fera e Mercúrio – também alívios cômicos.
Para conseguir estabelecer isso com firmeza, o roteirista investe muito tempo de desenvolvimento até mais da metade do longa – a história somente acelera após a majestosa corrida de Mercúrio na Mansão X. Logo, as cenas de ação acabam seletas destinadas mais para a metade do segundo e terceiro atos. Por se tratar de um grupo multi protagonista, Kinberg consegue equilibrar bem o tempo de tela de cada um para criar suas interessantes histórias individuais.
Com Mística, vemos ela trabalhar para salvar mutantes que vivem em condições sub-humanas enquanto reluta em aceitar que tenha virado um símbolo de esperança e inspiração para seus semelhantes. Já que nunca matou Trask, é coerente que ela sofra a catarse final e finalmente abrace sua identidade benevolente, porém, também conseguindo mudar a opinião de Xavier a respeito da ressurreição do projeto X-Men. Realiza seu sonho de preparar mutantes para a luta com a aprovação do Professor X.
O de Xavier é relacionado diretamente com o de Magneto, pois se trata enfim da conclusão do desdobramento visto desde Primeira Classe. Amigos de ideologias distintas que voltam a se respeitar e conviver após a redenção catártica de Magneto que rende um momento que é brega e bonito ao mesmo tempo. Além disso, há alguma evolução no núcleo romântico com Moira, além de vermos seu grande companheirismo e compreensão com seus alunos.
A diferença central de Xavier de James McAvoy para o de Patrick Stewart se faz clara nesse filme, após ele entender a necessidade de preparar os mutantes para a luta, já que Apocalipse traz uma batalha onde pouquíssimos estão preparados para agir sob pressão, além de não saberem lidar com a responsabilidade vinda com seus poderes. Nisso, a catarse de Xavier se dá em compreender o discurso de Magneto replicado por Mística, de não controlar os poderes, de usá-los para o combate. Ao meio do filme, há até um espelhamento com Apocalipse no sentido dele procurar o melhor para os mutantes e em acreditar nos seus poderes.
A síntese disso tudo se dá em dois momentos. Pela primeira vez vemos um Professor X declamando em alto e bom som para Jean Grey liberar a plenitude de seu poder perigoso da Fênix. Antes disso, também ordena a destruição completa de Cerebro para Destrutor quando o aparelho fica comprometido por Apocalipse.
Por isso há esse misto de repetição no conflito de Jean por mais que sua conclusão seja diferente da vista em X2 e X3. Os pesadelos premonitórios, o medo crescente de seu poder sombrio incontrolável, os diálogos com Xavier estão presentes aqui mais uma vez. Porém ver a personagem ser tratada com preconceito pelos próprios colegas de escola, além de germinarem a amizade com Scott é algo deveras bem pensado. Ambos são unidos por não terem controle total de seus poderes. Também é através do núcleo jovem constituído por eles, Noturno e Jubileu – personagem alegórica, temos os momentos tão clássicos e descontraídos da franquia, além de explorarem o lado adolescente de cada um deles. Também com Jean, em um momento bem inserido na narrativa, há uma conexão bela com Wolverine.
Sophie Turner consegue criar facetas diferentes para sua Jean puxando, por vezes, algumas características de Sansa. A jovem Jean é cheia de inseguranças, guarda algumas mágoas e tem medo de ferir quem ama. Também enriquecendo o personagem, há a interpretação vigorosa de Tye Sheridan nos mostrando um Scott rebelde e impaciente. A transformação dele se dá por conta da morte de Destrutor, seu irmão, que também fortalece os laços de amizade com Jean em seu momento de luto. Há fagulhas do surgimento do espírito de liderança e alguma aversão à Wolverine.
Na conclusão, onde vemos Magneto usar seu poder finalmente para construir, há a repetição diálogo entre ele e Xavier que já foi apresentado ao final de X-Men de 2000. Entretanto, é legal notar no contraste entre as duas situações onde o diálogo é inserido. Aqui, não há prisões de plásticos, os dois não são rivais já na terceira idade, o ódio está adormecido. Ainda que contenha a mesma ideia, há de se levar em conta a situação totalmente oposta à apresenta no primeiro filme.
Todos as narrativas que permeiam estes personagens são boas o suficiente para não deixarem o filme arrastado já que despertam o interesse do espectador, aliviando a necessidade de muitas cenas de ação. Kinberg dosa bem o humor do filme nunca quebrando a tensão ou um momento dramático, porém abusa muito de diversos momentos de exposição desnecessários. Por exemplo, quando Magneto começa a destruir o planeta, um especialista do governo explica o que ocorre e diz que morrerão bilhões. Imediatamente aparece outro personagem que declama o óbvio: “Ele está falando do mundo inteiro! ”. Outras personagens que abusam da exposição são Jean e Moira. Também há o problema crônico do gênero em relação à previsibilidade. O filme não conta com reviravoltas surpreendentes, porém todas têm certa lógica.
Kinberg também ignora completamente a que fecha o filme anterior ao sugerir que o resgate de Wolverine foi feito por Mística disfarçada de Stryker, algo totalmente desnecessário. Então se alguém esperava uma resposta para isso, certamente ficou com as mãos abanando. Fora isso, o drama mal-acabado de Mercúrio é algo irritante, pois nota-se que isso foi arquitetado apenas para guardar uma revelação que amolecerá o coração de Magneto em algum próximo filme. Serve como motivação sim, mas de conclusão rasteira. Apesar disto, nota-se que há alguma coragem em limar alguns mutantes durante a aventura: Destrutor e Arcanjo. Mesmo sendo personagens descartáveis, os momentos são relevantes para surtirem reações e desenvolvimento de outros mutantes.
16 Anos de Bryan Singer
Na direção, temos o retorno do eloquente Bryan Singer que prova, mais uma vez, como tem tesão em dirigir os filmes do grupo superpoderoso. Já é clara a pegada distinta dos filmes MCU logo nos primeiros minutos de projeção. É impossível não vibrar com a cena inicial que apresenta Apocalipse no Egito antigo se preparando para um ritual de transferência de consciência para um mutante que tem habilidades regenerativas conferindo a imortalidade desejada pelo vilão.
A ação é visceral, o golpe que logo seria apresentado é enquadrado por planos sutis dentro da montagem orgânica. E, enfim, vemos violência gráfica intensa. São soldados e mutantes prensados por rochas gigantescas, sendo derretidos, desintegrados, incinerados e até mesmo quebrados inteiramente até virarem uma bola de carne e ossos. Confesso que o choque inicial foi tão intenso quanto a morte dos heróis para os Sentinelas em DOFP. Então, logo após essa sequência intensa, somos presenteados com a melhor vinheta animada que apresenta o nome do longa.
Singer traz um panorama da História da humanidade desde o Egito antigo para traduzir o tempo que Apocalipse fica adormecido. Passamos pelo império Romano, a Paixão de Cristo, o Renascimento, a invenção da economia moderna, o republicanismo, a exploração das ferrovias, as Guerras Mundiais e o aprimoramento da aviação, a ascensão e queda do Nazismo e a permanência do Comunismo para enfim chegar na Paz Atômica. Tudo isso acompanhado do tema clássico e viciante que foi apresentado em X2 como tema musical do grupo mutante. É uma das marcas autorais de Bryan Singer para a franquia. Inegável dizer que não funciona.
No geral, Singer continua tratando a forma cinematográfica com afinco artístico notável. Peço perdão aos fãs do MCU, mas Singer leva o visual de seu filme muito a sério – algo mantido de Dias de um Futuro Esquecido com o retorno do diretor de fotografia Newton Thomas Sigel. Esqueça a concepção artística chapada e estéril que conferimos em Deadpool ou Guerra Civil e até mesmo os tons dessaturados e monocromáticos de BvS. O que impera em Apocalipse é a cor saturada, as altas luzes e a personalidade fotográfica algo que glorifico de pé, pois tendo estudado o campo da cinematografia com afinco, é muito decepcionante ver tantos filmes do gênero tratando esse setor da arte cinematográfica de modo nada inspirado.
Logo, de longe, temos um dos filmes de heróis mais carregados de simbologias vindas pelas cores neste ano. Os momentos não são seletos, mas me limitarei a três. O primeiro deles se dá durante o sonho premonitório de Jean que é relacionado com o despertar de Apocalipse. Tanto Jean quanto Xavier são iluminados por uma forte luz azul, indicando já que o vilão teria ampla dominação dentre os mutantes, incluindo em sua própria casa. Algo que se prova acertado já que a Mansão X é destruída em decorrência da invasão da trupe maléfica no Cerebro.
Depois, quando Magneto pretende fugir da Polônia com sua mulher e Nina, sua filha, temos novamente o uso inteligente do contraste amarelo com o azul – o fotógrafo aposta muito nesses tons já muito consagrados para tornar as metáforas visuais eficientes. O quarto onde Erik junta as coisas na mala recebe luz amarelada indicando um falso sentimento de segurança enquanto Fassbender leva uma suntuosa luz principal azulada com sombras muito bem modeladas. Aqui, já indica os rumos sombrios que atingirão o personagem em poucos momentos quando o policial mata sua família – pontos pela condução sensacional de Bryan Singer na decupagem dessa cena, colocando com sutileza através de um slow motion para denotar o descuido e distração do homem que dispara a flecha. A mesma luz azul que permeia o rosto de Fassbender também é compartilhada no quarto deserto de Nina. Na floresta, os tons coloridos morrem para darem lugar ao cinza granulado opaco.
Por fim e, talvez, o mais significativo se dê com o primeiro contato de Xavier com Magneto através do Cerebro. Novamente o núcleo antagonista está no mesmo armazém de Arcanjo. O fotografo, brilhantemente, usa exatamente a mesma configuração do jogo de luz. Diversos pontos azulados azimutais que preenchem o espaço inteiro, menos em um ponto, usando a contraluz bem forte, amarelada de um Fresnel praticamente colocado no chão. Quando Xavier chama Magneto, ele vira para a luz amarelada que ilumina seu rosto indicando a fagulha de esperança que o professor representa, tentando salvar seu amigo da escuridão azulada que preenche Apocalipse e seus cavaleiros. Ao fim da dialogo, Magneto dá as costas para a luz amarela, Xavier, e passa a receber a luz azul lúgubre como key light. Ali, toda a esperança de persuadir o velho amigo a mudar de lado morre com a escolha pessimista de Magneto.
Como havia dito, não é somente através do contraste amarelo-azul que o Singer e o cinematografista conseguem elaborar fortíssimas metáforas visuais. O uso demarcado da contraluz “divina” é presente em diversas cenas com Apocalipse entre outros tantos recursos.
Já sobre decupagem geral, não há o que reclamar. Singer movimenta a câmera com elegância, cheios de enquadramentos sempre bem compostos elaborando até mesmo alguns planos holandeses que funcionam perfeitamente para apresentar Jean Grey no clímax psicológico entre Xavier e Apocalipse. O eixo da câmera se estabiliza assim que a telepata entra em cena, já indicando os maus lençóis que o vilão estaria em poucos instantes. Aliás esse clímax que se passa na Mansão X imaginária é uma das poucas ideias verdadeiramente originais neste Apocalipse. Um confronto emblemático que se explica por si só. Ai de quem for procurar briga na escola de Professor Xavier. Dito e feito.
Aliás, é isso que separa Singer dos pequenos para os grandes diretores audiovisuais. Sabendo da megalomania que seu filme traz intrinsicamente, ele sabe criar momentos verdadeiramente épicos. A já comentada introdução e vinheta são colheres de chá perto do que ele faz novamente com Mercúrio em uma cena típica do “maior e melhor”. A sequência do sequestro de Xavier que culmina na explosão da escola é interrompida no melhor timing possível para vermos outra vez o velocista fazer graças e salvar o dia com sua supervelocidade. Singer explora mais situações cômicas, movimentos de câmera mais interessantes, elabora planos-sequência complexos, além de escolher outra canção que encaixa como uma luva para colorir a ação: a clássica oitentista do Eurythmics, Sweet Dreams.
A sequência é tão fantástica que certamente te deixará num extase que dificilmente ocorre com frequência no cinema. Mesmo sendo uma repetição de algo que já havia nos deixado boquiabertos em Dias de um Futuro Esquecido com a junção tão perfeita de técnicas cinematográficas e efeitos práticos e digitais, é impossível permanecer indiferente. Só de comentar aqui já me deixa com vontade conferir novamente o trabalho realizado com maestria. Não só a coreografia é animal, mas também por ser muito divertida. De longe, está na minha rigorosa seleção de melhores cenas do ano.
O Melodrama Mutante
O mais surpreendente é que Singer entrega não somente essa sequência fenomenal, mas sim duas! Antes dela, o diretor se coloca à prova ao usar o maravilhoso segundo movimento da Sétima Sinfonia de Beethoven. Apesar da composição ser tão magnifica a ponto de elevar uma cena onde poderia exibir um indivíduo passando manteiga no pão, fazer com que ela funcione de modo verdadeiramente correto é uma tarefa que exige um esforço intelectual notável.
A sinfonia é encaixada quando Oscar Isaac e seu Apocalipse tem o momento mais alto no longa, ao declamar seu monólogo tenebroso enquanto invade o Cerebro, possui Xavier e assim comandando diversos soldados que lançam todos os mísseis do arsenal atômico das nações, literalmente, para o espaço. A junção de planos que acompanha toda essa ação é elegante, talvez o momento mais inspirado para essa técnica no filme mesclando o terror de Xavier, a pompa de Apocalipse, o medo dos humanos comuns, a incredulidade dos comandantes de altos escalões, da possessão dos jovens soldados, dos mísseis sendo disparados, além de mostrar algum escopo de destruição. Por mais que seja um uso espetacular, ainda não consegue superar o clímax sensacional de O Discurso do Rei onde Tom Hooper também conta com o auxílio poderoso de Beethoven.
Entretanto, assim que a música cessa, John Ottman e Michael Hill passam a cometer alguns erros grotescos. Repare que em algum momento, James McAvoy solta um tremendo grito que leva um corte seco no áudio quando vem um novo plano. Ou seja, sufocam uma ação do ator por descuido. É algo feio quando notado e que pode tirar um espectador mais atento do filme. Também há falta de atenção ao alocar tão estranhamente a noite eterna que acompanha o núcleo Mística-Noturno na Berlim Oriental enquanto com outros personagens, alguns dias chegam a passar. Os erros de corte não ficam restritos aí. No clímax reaparecem algumas vezes deixando a ação pouco inteligível ou fantasiosa demais em certas ocasiões.
Singer também derrapa um pouco ao não saber fazer o grupo lutar integralmente juntos apostando mais em ações que acompanham embates um-contra-um. Um deles é particularmente fraco com Psylocke vs. Fera. O restante é adequado, mas nada tão inventivo como a boa exibição dos poderes de Mercúrio na luta. A qualidade da computação gráfica oscila muito também no clímax. Enquanto efeitos de partículas e colisão permanecem bons, a modelagem dos corpos digitais, principalmente de Psylocke, saltam aos olhos de tamanha bizarrice. É algo tão tosco que até mesmo o modelo de Olivia Munn fica completamente desproporcional durante a queda de uma aeronave.
Outras duas áreas técnicas que são opostas na qualidade são o ótimo design de produção contra a maquiagem irregular. Grant Major se desvencilha da adaptação fiel de cenários que visam retratar os anos 1980. É uma mistura adequada do fantástico com o histórico, auxiliado muito pelo figurino criativo que segue a mesma linha que inclusive consegue apresentar os looks clássicos de muitos dos heróis e vilões. Um ponto bem elaborado é reconstrução da base Stryker no lago Alkali que consegue remeter bem à versão apresentada em X2. Aliás, uma pena terem desperdiçado a oportunidade de inserir fidedignamente o clássico capacete desenhado por Barry Windsor-Smith no arco clássico de Arma X na representação mais animalesca e selvagem de Wolverine que pudemos conferir até agora.
Já sobre a maquiagem, enquanto acertam no tom com Fera e Noturno, o design de Apocalipse pode não satisfazer muita gente. Por conta do passado faraônico, o personagem mantém os mesmos trajes até a conclusão do longa. Talvez tenha ficado tudo pesado demais e pouco adequado, mas faz certo sentido para elaborar o choque temporal que deveria ter ocorrido no texto do filme em seu arco dramático. Aliás, também é um deslize do departamento não se preocupar em começar a envelhecer os personagens principais como Xavier e Fera. Já se passaram vinte anos na diegese proposta desses filmes e muitos mutantes continuam com o mesmo semblante jovial.
Por falar em drama, Singer abusa e muito do melodrama nessa obra. A linguagem visual, os picos dramáticos e os atores shakespearianos não poderiam colaborar mais. Ele sabe valorizar bem os elementos mais densos que o roteiro traz em sua história. No momento mais trágico na cena destinada à morte dos familiares de Magneto, Singer valoriza a atuação monumental de Michael Fassbender através de planos muito aproximados da face do ator que exprime sua tristeza com fúria.
Talvez o momento mais brilhante, tanto de Fassbender quanto de Singer, se dê justamente quando Magneto destrói Auschwitz levando seus poderes a novos patamares. Em mais um monólogo repetitivo de Apocalipse, Magneto passa a explorar a total extensão de sua mutação – genial o lance do departamento de computação gráfica em traduzir os movimentos dos metais movidos por Magneto como a representação gráfica cientifica do eletromagnetismo. Nesse momento de total concentração, a sutileza de Singer dá as caras novamente.
Enquanto o vilão move montanhas de metais, flashs de memórias terríveis e alegres interpolam com a ação remetendo a lição que Xavier ensina para Magneto em Primeira Classe quando ele tenta movimentar a gigantesca antena – o exato limiar entre a serenidade e a raiva. É algo sutil que apenas alguns espectadores vão captar. Não é Apocalipse quem desperta o poder máximo de Erik, mas sim seu amigo Charles Xavier – algo que condiz com a escolha benevolente de Magneto ao salvar sua família X-Men da morte certa. Aliás, Singer une Apocalipse com Primeira Classe diversas vezes através de flashbacks. Aqui fica claro que a trilogia de estabelecimento do grupo acabou, assim como a maior parte de seus dramas.
Também no melodrama, o diretor valoriza bastante da atuação de James McAvoy. Outro elemento que elabora o uso desse dispositivo se dá nas duas partes do clímax. Primeiro, Singer confere senso de urgência e perigo quando os jovens mutantes começam a lutar contra o tempo para salvar Xavier de ser possuído pela consciência de Apocalipse para sempre. Resolvido isto, há o embate psicológico entre os dois. No drama centrado no diálogo, Singer já elabora toda a pieguice inerente à essa técnica como o surgimento de Jean no último minuto, o discurso sobre a família e aos gritos eufóricos de Xavier para Jean “Unleash your powerrr!!! Let go, Jean! Let Go!!!”. Evidente, é brega, mas há quem goste de um bom dramalhão que salta para o momento épico e escancarado da desintegração de Apocalipse ao receber as ondas radiantes da Fênix.
Sendo completamente honesto, eu simplesmente adorei X-Men: Apocalipse. Tinha os elementos que eu queria tanto em um filme de herói: um vilão que quer dominar o mundo, transformações de jornada para os heróis, exploração dessa nova realidade paralela contrastada com o universo da primeira trilogia, humor e drama adequados coexistindo em equilíbrio, ação competente, sequências verdadeiramente memoráveis e cinematografia inspirada. Tudo isso é presente aqui, porém passada a euforia inicial causada pelo efeito Mercúrio aliada a boa reflexão, os tropeços do filme ficam mais evidentes fugindo inclusive do campo do conteúdo para atingir a forma da obra.
As repetições de situações ou conflitos já vistos em outros filmes podem cansar, apesar de darem certa unidade muito característica para essa trilogia. O núcleo antagonista é o que mais sofre de defeitos limitadores e incoerentes do roteiro, a pressa em não desenvolver melhor outros núcleos também é notória, além do abandono completo de características que seriam muitíssimos interessantes como a seita que glorifica En Sabah Nur já no segundo milênio.
Definitivamente um filme muito satisfatório e divertido que me deixou curiosíssimo para conferir as próximas obras que Singer planeja junto com a Fox. Se eles se tocarem que as novas aventuras que surgirem nos próximos anos não precisam, necessariamente, sempre superar as antigas em questão do escopo e escala de tragédia, teremos filmes que poderão trazer nova vida ao gênero um tanto já desgastado.
X-Men: Apocalipse (X-Men: Apocalypse, EUA – 2016)
Direção: Bryan Singer
Roteiro: Simon Kinberg
Elenco: James McAvoy, Michael Fassbender, Jennifer Lawrence, Nicholas Hoult, Oscar Isaac, Evan Peters, Olivia Munn, Sophie Turner, Tye Sheridan, Alexandra Shipp, Kodi Smit-McPhee, Rose Byrne, Lucas Till, Ben Hardy, Josh Helman, Landa Condor, Hugh Jackman
Duração: 143 min.
Crítica | Os Oito Odiados
Os anos 1990 foram tão importantes quanto a retoma hollywoodiana dos fabulosos anos 1970. Os blockbusters originários da santíssima Trindade Tubarão, O Exorcista e Star Wars estavam consolidados. O cinema ia tomando uma escala global nunca vista antes. A criatividade ainda era muito viva com autores clássicos que sobreviveram o caos do descontrole pessoal como Spielberg, Malick, Scorsese e, por que não, George Lucas.
Porém, novos talentos tomaram espaço de modo expressivo revivendo a coragem outrora vista no novo cinema: Paul Thomas Anderson, Jonathan Demme, Wes Anderson, David Fincher, Christopher Nolan, Michael Mann, Frank Darabont, Gus Van Sant, Luc Besson, Bryan Singer, os Irmãos Coen, as Wachowski, James Cameron e, principalmente, Quentin Tarantino. Dentre todos eles, o filme que encabeça diversas listas como o melhor da década é Pulp Fiction, obra máxima de Quentin Tarantino.
De certa forma, Tarantino foi quem encabeçou o movimento indie marginal que estava para estourar com Cães de Aluguel. Mas nada seria de Quetin sem três outros protagonistas que souberam reconhecer o valor daquele filme: o sucesso no Festival de Sundance e o interesse dos maiores caça prêmios da indústria, apesar das características ditatoriais dos dois: Harvey e Bob Weinstein. Com a Miramax, Tarantino foi longe, fez um estrondoso sucesso, cresceu como cineasta de modo muito expressivo. Ultrapassou barreiras ao fazer filmes universais com linguagem própria, além de chamar atenção pela violência expressiva.
A verdade é que Tarantino nasceu autor. Goste ou não. E agora, mantendo a duradoura parceria com os irmãos Weinstein, Quentin chega a seu oitavo filme – nono, na verdade. Para os mais ansiosos, sim, Tarantino realizou outro excelente filme que todos os fãs gostarão, além de que será indicado merecidamente para diversos Oscar. Porém existem alguns problemas que logo mais abordarei na continuidade do texto.
A história acompanha a jornada do Major Marquis Warren até a cidade de Red Rock para coletar a recompensa por três procurados que carrega consigo. Completamente à deriva em meio a uma nevasca perigosa, Warren consegue parar uma diligência que caminhava pela estrada. Nisso, o protagonista encontra John Ruth, outro caçador de recompensas que está transportando Daisy Domergue – uma perigosa integrante de uma das gangues mais violentas do Wyoming. Chegando em um acordo, o grupo parte para o destino em comum. No meio do caminho, encontram um antigo fora-da-lei que se diz xerife de Red Rock. Optando por não duvidar do homem, John e Marquis concordam em dar carona para Chris Mannix até a cidade. Entretanto, com a forte nevasca, eles se vêm obrigados a tomar abrigo na hospedaria Armarinhos da Minnie.
Lá eles encontram um grupo de gente estranha e mau encarada, porém como não há outra alternativa além de esperar o fim da nevasca, todos aguardam na hospedaria. Dentro desse confinamento forçado, o grupo de oito pessoas odiadas terá que tolerar a existência um do outro até o tempo melhorar. Pena que a paciência é curta e as provocações, muitas.
Assim como em Cães de Aluguel, Tarantino trabalha novamente com narrativas que se concentram em pouquíssimos cenários explicitando o cunho teatral. Não se engane, Os Oito Odiados se trata de um teatro filmado, muito bem filmado, aliás. Porém, como em todos os filmes do tipo, ele tem alguns problemas.
Tarantino, diferentemente de muitos outros diretores contemporâneos, tem forte presença autoral no texto de seus filmes. Pegando os roteiros de todos os seus trabalhos, é possível perceber semelhanças nítidas entre si. Não se trata da história de cada filme que sempre são originais, mas de algumas características que quem acompanha de perto já conhece. Diálogos poderosos, personagens bem desenvolvidos, flerte com a violência gráfica, trabalho majestral com atores, nenhum receio em matar seus personagens por mais que ele seja querido e vital para a obra – vide Django Livre, trilha musical marcante, recursos visuais um tanto estilizados, tensão crescente, etc.
Seguindo a tradição de diversos filmes anteriores, o diretor divide seu filme em capítulos. No caso, seis. O filme tem ótimo início. Tarantino segura um plano forte por três minutos inteiros que exibe apenas um crucifixo e a diligência seguindo seu caminho – enquanto focava em Cristo, o plano me lembrou da histórica sequência das múmias em Nosferatu de Herzog. Tão pouco começamos a entender que o filme se trata em trabalhar com espaços confinados e o sentimento de claustrofobia do espectador. Sabendo que todo mundo pode morrer a qualquer momento só contribui para nos deixar ansiosos enquanto os personagens se digladiam com diálogos provocantes.
Entre os capítulos, o filme tem ritmo razoável. O maior problema de Os Oito Odiados é o terceiro capítulo. Ali, ficamos em um marasmo narrativo inacreditável por quase quarenta e cinco minutos dos sessenta dedicados a ele. O motivo é simples: a natureza repetitiva para apresentar alguns personagens, os diálogos que perdem o brilhantismo de outrora e, aparentemente, tornam-se circunstanciais e banais como uma conversa comum – só que muito bem escrita, obviamente, e principalmente pela falta de confrontações realmente significantes. Tudo isso é compensado pelo clímax brilhante do capítulo que ocorre quando um dos personagens se põe a tocar Noite Feliz no piano enquanto outros dois apresentam o melhor de um texto que só Tarantino sabe fazer.
Admito que nesse capítulo em particular é um tanto difícil escapar da sonolência. Na contagem oficial de personagens que são devidamente trabalhados temos nove se incluirmos o cocheiro da diligência, O.B. Porém, infelizmente, parte deles são desenvolvidos apropriadamente enquanto outros pecam na apresentação. Os mais prejudicados disso são Joe Gage – interpretado pelo sempre igual Michael Madsen, e Bob, o mexicano suspeito. Oswaldo também passa a ser esquecido durante o filme. Aliás, personagem esse pensado com absoluta certeza para Christoph Waltz – o engraçadinho com língua afiada que sabe se defender. Com a ausência de Waltz, Tim Roth é escalado para cumprir o papel. O ator é excepcional. Ele incorpora o trabalho de personagem que Waltz havia feito nos filmes anteriores e apresenta aqui uma verdadeira cópia de qualidade na dicção e nos gestos cínicos enquanto tenta criar algo seu.
Como a história se passa pós-Guerra Civil, Tarantino volta a abordar a questão racial que assola a América até hoje. No caso, vemos os desdobramentos da Guerra e o fim da escravidão que levam a outros diálogos – estes cheios de ódio, ressentimento, rancor e ofensas raciais dos dois lados. O embate se dá sempre entre o personagem do excepcional Samuel L. Jackson contra outro personagem do elenco sendo o conflito mais significativo e interessante de ver com o general Sandy Smithers – como eu queria ver Bruce Dern indicado ao Oscar pelo papel. O teor do texto é mais pesado que nos outros filmes e aborda, menos intensamente, a vingança. Claramente os personagens se detestam e todos são desprezíveis.
Por esse motivo em particular e pela qualidade um pouco aquém em construção de personagem e de diálogos triviais, me senti muito desconectado do drama deles. Admito que é algo meu, mas sinceramente, eu não conseguia me importar com o destino de nenhum deles. Ou seja, faltou muito do elo espectador-personagem que valorizamos tanto o que afeta diretamente a tensão e crescente paranoia que o diretor tenta construir nesses capítulos. Geralmente o elo é construído através do heroísmo do carisma ou com um anti-herói carismático. Como aqui não há, propositalmente, uma linha moral nítida para nos guiarmos, nos contentamos com as brilhantes atuações da maioria do elenco e com o texto caprichado.
Fora o marasmo do terceiro capítulo, Tarantino também mete os pés pelas mãos com o quinto capítulo ao adicionar um flashback completamente desnecessário e redundante já que a própria revelação do texto deixa tudo muito claro quebrando a lógica de inserir esse segmento que também não é lá muito interessante e quebra o já frágil ritmo ao fazer o longa retornar a um penoso marasmo criativo.
Entretanto, Tarantino acerta tanto quanto erra. Primeiro por sua fantástica personagem Daisy Domergue. A polêmica já se inicia por ela apanhar fervorosamente durante o filme inteiro. Ela passa pelo inferno, sofre abusos psicológicos e físicos a todo momento, além de ter um final que louva, glorifica a violência. Certamente há a controvérsia gerada na figura dela – muita gente vai questionar a violência. Porém, como eu detesto impor regra na arte alheia deixo isso para os politicamente corretos ou puritanos que certamente tomaram as ofensas desse filme para si.
A meu ver, a personagem somente sofre tanto por ela ser um perigo a segurança do grupo inteiro, além de, claro, todos serem tão detestáveis quanto ela. Tarantino cria uma atmosfera verdadeiramente tenebrosa para Daisy e isso nos afeta diretamente. Como ela fica algemada a todo tempo com outros personagens se certificando disso constantemente, temos a impressão que o Inferno será aberto caso ela se liberte e acabe por matar todo o elenco. Muito disso vem da perfeita atuação de Jennifer Jason Leigh – se ganhar o Oscar, terá sido muito merecido. Apesar de sua personagem apanhar e sentir muita dor, Jennifer sempre resolve com um sorriso provocador, um olhar assassino, por uma risada maníaca ou algo que evidencia a loucura da mulher. O mais interessante de sua atuação foi que ela me lembrou muito da performance de Ally Sheedy em O Clube dos Cinco com a igualmente estranha Allison. Só que óbvio atestar que Leigh apresenta um trabalho muito mais visceral já que se trata de um filme adulto com extrema violência.
Com o trabalho de câmera restrito a espaços confinados, muitos diretores encontram dificuldade para diversificar a decupagem. Pela competência de Tarantino Os Oito Odiados é um filme muito rico visualmente mesmo com a restrição provocada pela teatralidade do longa. O diretor apresenta sempre sequencias muito bem elaboradas visualmente e muito ricas na composição. Fora que Quentin não se limita a ficar com câmera parada. Temos aqui o melhor trabalho de movimentação de câmera do ano vide a limitação que ele teve, mas não somente pelo motivo dos movimentos serem clássicos, lentos, atmosféricos, bem pensados e singelos, e sim pela trabalha absolutamente impressionante de mise em scene. Em muitos planos observamos não apenas um personagem em primeiro plano realizando alguma ação, mas sim outros atores fazendo algo completamente diferente na profundidade de campo. É um trabalho de encenação extremamente orgânico tendo característica vinda diretamente do teatro para o cinema já que nos filmes é mais frequente o diretor sempre se preocupar com a ação de primeiro plano, deixando o uso da profundidade de campo em escanteio.
Quem também adorava trabalhar com ação e longas profundidades de campo era Orson Welles. Aliás, em um dos movimentos de câmera, Tarantino parece fazer algo similar com o plano histórico de Cidadão Kane na cena em que vemos Kane brincar ao fundo na neve enquanto acompanhamos seus pais assinando os documentos permitindo a adoção do menino. No caso de Os Oito Odiados¸ não há a mesma importância narrativa. Quentin elabora apenas um enfeite belo que mostra O.B. e Bob retornando para a cabana através de uma janela para depois realizar um travelling para acompanhar a leitura silenciosa de Joe. Depois, com uma passagem de foco, observamos John e Daisy tomando conhaque em terceiro plano. É algo visualmente estonteante.
Voltando a comparar com Cães de Aluguel, este é um dos filmes com menos firulas visuais ou com imagens estilizadas. O trabalho do diretor é mais fixo à realidade somente se permitindo ao excesso com o tradicional banho de sangue. A mudança de ares é muito bem-vinda principalmente por este ser o antepenúltimo filme de sua carreira. Tons mais sérios para um cineasta mais maduro. Porém, mesmo com todo o esforço brilhante da decupagem e encenação, Tarantino não consegue livrar o filme de seu ritmo demasiadamente lento. Claro que os fãs não se importarão com isso, mas para o espectador comum, pode ter certeza que isso pesará muito. Além disso, uma das marcas autorais mais recorrentes de Quentin, se faz presente: a farsa. Dessa vez não só nos personagens como também em algumas características na narrativa. Como sempre, o diretor sabe resolver bem a resolução das farsas que ele apresenta. Tudo satisfatório, porém, apenas uma surpreende de fato.
Por ser um filme mais sério, Tarantino arrisca pouco na criatividade. Alguns momentos se sobressaem com uma montagem paralela na melhor cena do filme, com alguns slowmotions e com os modos de matar os personagens ao buscar um ótimo viés de humor negro que ele vem trabalhando ao longo da carreira – aliás, este é um dos filmes que ele melhor trabalha a comédia. O melhor momento, entretanto, se concentra na apresentação do capítulo quatro quando ele quebra as regras diegéticas que havia estabelecido até então ao inserir, momentaneamente, um narrador a la Dogville puxando influencias de Lars Von Trier e Martin Scorsese. Já para as sequências de tiroteio, a influência de Sam Peckinpah na ação e na montagem é expressiva.
Além destes realizadores, Tarantino confirmou na coletiva que sua principal inspiração para Os Oito Odiados foi Enigma de Outro Mundo, clássico da ficção científica de John Carpenter. Em sua maioria, a inspiração é bem aplicada inclusive com a ideia interessante de trabalhar com um faroeste cercado por um ambiente montanhoso, cheio de pinheiros e com muita neve ao contrário do senso comum do conceito de deserto que pensamos assim que lembramos de westerns. O confinamento forçado e o perigo que toma toda a atmosfera são impressões que Tarantino consegue nos apresentar, porém acho que ele falha ao conseguir imprimir a tensão e paranoia do longa de Carpenter – talvez, com outra visita ao filme, minha opinião mude.
Uma das peças mais propagandeadas desse longa foi o fato da sua cinematografia ser incomum. Tarantino e Robert Richardson, seu diretor de fotografia, escolheram o praticamente extinto formato Super Panavision 70 que foi popular nos anos 1960. Ao contrário do comprimento normal do filme fotográfico de 35mm, o Super Panavision 70 trabalha com 65mm no negativo. Dois filmes muito famosos foram filmados no formato: Lawrence da Arábia e My Fair Lady.
Com Os Oito Odiados tive meu primeiro contato com esse tipo de película. Como nós não temos projetores de 70mm no Brasil, o formato de exibição será praticamente um ultra wide screen com as tradicionais barras negras horizontais ocupando um espaço maior do que o habitual na tela. Caso você veja o filme em uma sala Cinemascope, as barras serão ligeiramente menores – o Cinemark não possui salas nesse formato então prepare-se para ver a letterboxd ocupar consideravelmente a tela.
Isso acontece para ajustar a imagem no anteparo já que ela, na prática, captura muito mais elementos visual na horizontal. E meus amigos, acreditem, foi uma das experiências mais impressionantes que já tive na vida – mesmo sem conferir nos 70mm propriamente ditos. Tarantino sabe bem como usar o formato para apresentar o espetáculo visual nas belíssimas externas que marcam o início do filme. É difícil até de descrever. O formato consegue capturar uma montanha inteira e seus arredores em um enquadramento. Sim, digno de tirar seu fôlego.
Porém, relembrando o caráter teatral do filme que praticamente não sai do cenário, fica o questionamento: para que usar um formato que visa engrandecer imagens externas em um filme que se passa majoritariamente em imagens internas? Para mim não fez o menor sentido o que deu a impressão de um desperdício de formato. Seria muito mais interessante se ele tivesse usado o Super 70 em Django Livre do que nesse filme. Uma escolha dúbia.
Entretanto, o formato também auxilia muito no trabalho da iluminação barroca de Robert Richardson. Por ser um negativo imenso e, consequentemente, muito sensível a luz, as imagens são extremamente nítidas com absolutamente nenhum grão característico do 35mm. Richardson atinge um resultado em filme que eu só julgava crer ser possível com o digital acompanhado de cinematografistas competentes como Deakins e Cronenweth. Mesmo julgando ser um desperdício de um ótimo formato, as imagens para closes e planos próximos são tão impactantes e parecem valorizar tanto a expressão do ator que acabam nos afetando profundamente. Novamente, é maravilhoso. Vocês precisam ver o filme no cinema, mesmo que ele seja lento e meio entediante. Apenas para vivenciar essa experiência cinematográfica tão diferente, rara e bela. De vez em quando, Tarantino apresenta uns establishing shots externos que engrandecem o filme.
Além do formato jurássico, Tarantino também reviveu outra peça de museu lendária: Ennio Morricone. O compositor favorito do western spaguetti retorna para emplacar outro tema absolutamente maravilhoso. Com a melodia de seus violinos, flautas, trombones, bateria e gritos sufocados de um coral masculino, consegue criar o tema musical que cria, cresce sem parar ao elevar a tensão musical funcionando como um presságio do grande terror que será apresentado ao longo da história. É bem verdade que a melodia se assemelha bastante com os temas que ele criou em Os Intocáveis, clássico de Brian de Palma. Mas, ainda assim, consegue ser extremamente funcional e impactante. O tema simplesmente não sai da cabeça após o termino da sessão. Mais um trabalho fenomenal dessa lenda viva. Além de Morricone, o diretor também insere as sempre ótimas canções licenciadas que tornam seus filmes ainda mais memoráveis.
Além da música, temos o ótimo trabalho de mixagem sonora. O modo com que Tarantino pensou no som desse filme visa o hiper-realismo. Tudo serve para agregar a encenação. Nas cenas que ficamos dentro da diligencia, escutamos os trotes dos cavalos, as rodas amassando a neve e O.B. chicoteando e gritando com os animais, além dos diversos ruídos que a carruagem faz enquanto se balança desengonçadamente. Na cabana, os passos profundos que revelam o piso oco e velho que sempre range conforme a movimentação dos personagens, o assovio tenebroso e incessante do vento que tenta invadir e congelar a todos que estão dentro do refúgio, além das conversas paralelas vindas em murmúrios tímidos do outro lado da sala, assim como a explosão grave dos tiros e do desmantelar de um crânio. São sons todos muito bem cuidados pela criação da edição de som e inseridos no filme pela mixagem. É um trabalho absolutamente exemplar que deverá ser lembrado nas principais premiações do ano que vem.
Mesmo que Os Oito Odiados falhe justamente pelo motivo da narrativa dos filmes do diretor ser tão característica e própria a ponto de ficar manjada e previsível, além do ritmo dos acontecimentos ser arrastado e tedioso, Tarantino consegue trazer uma boa história com bons diálogos, bons personagens e excelentes atores. Os momentos de brilhantismo cinematográfico ainda existem. Estão presentes apenas em menor escala. Lembre-se que se trata sim de um teatro filmado – isso com certeza influenciará na sua escolha de ver ou não o filme.
Com sua oitava realização, Tarantino se aproxima do adeus ao cinema tão prometido por ele. Depois de uma obra com formato tão corajoso, além do texto polêmico e provocativo, fica a questão sobre o penúltimo projeto de Quentin. Eu, sinceramente, espero que ele renove sua fórmula de contar ótimas histórias, pois muitas coisas que ele apresenta aqui já indicam o iminente desgaste.
Os Oito Odiados (The Hateful Eight, EUA - 2015)
Direção: Quentin Tarantino
Roteiro: Quentin Tarantino
Elenco: Samuel L. Jackson, Kurt Russell, Jennifer Jason Leigh, Walton Goggins, Bruce Dern, Michael Madsen, Tim Roth, Demián Bichir, James Parks, Zoë Bell, Channing Tatum
Gênero: Suspense, Western
Duração: 187 min
Crítica | Spotlight - Segredos Revelados
2001 foi um ano bastante conturbado para os Estados Unidos. Enquanto terroristas atentavam contra a liberdade americana, a redação reservada do caderno Spotlight do Boston Globe arquitetava uma das maiores reportagens investigavas da História que, inclusive, ganhou o importantíssimo Prêmio Pulitzer. O tema era extremamente sensível, ainda mais em Boston – cidade com forte presença católica. Em 6 de janeiro de 2002, o Boston Globe revelou décadas de abusos sexuais e pedofilia cometidos por padres da Arquidiocese de Boston com a comunidade local. Porém, o tamanho do escândalo era tão gigantesco que logo tornou-se mundial.
Logo de início percebemos que o longa é um ponto fora da curva. Como se ele não pertencesse a nossa época, mas que ainda assim, clama por sua existência. O subgênero de dramas focados no jornalismo já foi celebrado com filmes inesquecíveis como Todos os Homens do Presidente, Zodíaco, Cidadão Kane, Boa Noite e Boa sorte, Os Homens que não Amavam as Mulheres, Frost/Nixon, etc; Porém, o paralelo mais óbvio e significante para se traçar com Spotlight é com Todos os Homens do Presidente por sua similaridade de síntese e construção da narrativa.
O que Josh Singer e Tom McCarthy, também diretor do longa, nos trazem é a mesma proposta: os bastidores da notícia, os percalços, sacrifícios, conflitos e batalhas para fazer essa história ser publicada. Para isso temos múltiplos protagonistas – sempre uma faca de dois gumes, que constituem a equipe do Spotlight, um caderno especializado em furos de reportagem que levam meses para publicar suas histórias. Além deles, há outros personagens secundários responsáveis pela editoria e outras redações do jornal na tentativa de conferir um senso de união entre todos os jornalistas do Boston Globe.
A proposta do diretor e o texto dos roteiristas já é clara desde o início do filme. Eles pretendem trabalhar no realismo. Bazin ficaria orgulhoso de tão realista que esse filme é. Não há floreios em Spotlight. Tudo é nu e cru. Logo, como quase tudo na vida, essa característica possui dois pontos: o positivo e o negativo.
O positivo é que a história é extremamente fiel aos fatos, aos seus personagens, aos desdobramentos dos acontecimentos, além de termos a vantagem de observar diversos pontos de vista e relacionamentos dos personagens. Por outro lado, o filme é frio, os ápices narrativos são mornos, os personagens não se tornam as figuras complexas como eles deveriam ser, além de simpatizarmos pouco ou nada com eles, afinal, eles são apenas estranhos inseridos em uma boa história, além de praticamente só observarmos eles trabalhando incessantemente. O fator realista também não contribuiu muito já que a construção da matéria, apesar de ter sido trabalhosa, não oferece grandes emoções aos jornalistas.
Spotlight merece ser, no mínimo, parabenizado em trazer esse tom nada romanceado para um filme de grande abrangência. Logo, o estranhamento inicial, a quebra da expectativa por algum ápice dramático que raramente vem, o ritmo lento e, por vezes, cansativo do longa é perfeitamente normal. Isso tudo é inerente ao filme.
Também, pelo formato, não foge da realidade em descrever as odisseias dos jornalistas em conseguir as dicas certas, sobre os debates éticos originários pelo acontecimento, a busca por personagens, o informante que não dá as caras, mas oferece relatos chocantes e vitais para a investigação, as tentativas de “suborno”, o personagem decisivo que se recusa a colaborar, mas que no fim cede ao firmar amizade com o jornalista, etc. Enfim, é a fórmula clássica desse nicho narrativo acompanhada de seus tantos clichés seja por bem ou mal.
Porém, um dos maiores trunfos do filme são os relatos dos entrevistados que foram molestados na infância. Os depoimentos são chocantes como deveriam ser – ótimas atuações do elenco de apoio, e revelam muito do modus operandi dos pedófilos e da preferência pelas vítimas. Na verdade, todas as sequencias que fogem em se concentrar no elenco protagonista são mais fortes. Uma pena que elas sejam raras, breves e um tanto mal aproveitadas.
Para fugir um pouco da estrutura rígida desse nicho de filmes, os roteiristas arranham algumas discussões que moldam mais sobre o retrato da época. No caso, a iminência do crescimento da internet, da mudança de fazer jornalismo, da obsolescência de cadernos como o Spotlight que levam meses para desenvolver uma história ou do jornalismo investigativo, do nascimento das notícias rápidas e descartáveis, do fim próximo da mídia impressa de médio porte como o Boston Globe.
Também arriscam em oferecer arcos diferentes como a reflexão de alguns personagens sobre como aquelas revelações afetam seu passado e seu estado emocional. Além de também trabalharem um arco sobre o processo que o jornal moveu contra a Arquidiocese para tornar, de fato, documentos de uma moção movida contra um sacerdote nos anos 1980 em arquivo público como deveria ter sido feito na época.
Uma pena que a maioria dessas boas propostas não passem da superficialidade limitando-se a diálogos rasos. Já o arco do processo é um tanto confuso assim como as diversas transições entre pontos de vista diferentes dos protagonistas, embora que isso seja da alçada do diretor do filme em tornar o processo mais coeso.
Muito marketing desse filme, além do tom premonitório sobre as premiações no Oscar, é o trabalho do elenco principal que é comentado incessantemente pela publicidade e também pela crítica. E realmente, é um ótimo trabalho vide a limitação em trabalhar com o realismo. Ou seja, a maioria do elenco desenvolve atuações intimistas que revelam, em suas sutilezas, características de seus personagens que não são abordadas pelo roteiro – se dependesse do texto, todos seriam pessoas amorfas fazendo um trabalho como qualquer outro.
A meu ver, quem realmente se destaca mesmo entre todos os outros é Mark Ruffalo que muito provavelmente receberá seu merecido Oscar pela performance. Ruffalo interpreta o jornalista esquisitão Mike Rezendes, praticamente o único que se afeta emocionalmente de modo relevante durante suas descobertas perturbadoras. O ator modula a voz, o sotaque, para soar estranho. Sua feição também não é muito simpática e seu olhar, psicótico, mas obstinado. Tudo isso torna o personagem mais complexo e apaixonante.
Contracenando sempre com Ruffalo, Stanley Tucci também oferece um prisma diversificado para Mitchell Garabedian, um promotor tão esquisito quanto o jornalista afobado. Tucci trabalha no conforto ao modelar Garabedian como um cara carrancudo, antipático e descrente no sistema no qual trabalha, mas mesmo assim Tucci está ótimo como sempre.
Já Michael Keaton e Rachel McAdams completam as atuações de destaque. Keaton interpreta Walter Robinson, o editor do Spotlight. Trabalhando de modo bem menos intenso do que o apresentado em Birdman, Keaton confere olhares cansados ao personagem de fala mansa e cauteloso. Já McAdams também elabora características razoáveis para sua personagem sempre preocupada, de cabeça cheia e com o cenho franzido. O resto do elenco traz boas performances para o rendimento limitado de criação.
Em 2015 tivemos casos espetaculares de diretores que foram do estado de zé roelas para heróis cinematográficos. Cito três, Andrew Jarecki – fez o exemplar The Jinx, ..... e Tom McCarthy. Para quem não faz ideia, o filme anterior de McCarthy foi Trocando os Pés, uma das bobagens boçais típicas de Adam Sandler. Então imaginem a surpresa quando vejo este cidadão a dirigir logo o filme favorito do Oscar.
Assim que o longa tem início, McCarthy já apresenta um dos muitos planos sequencia simplórios que ele realizará no decorrer da projeção – lembrando que o plano sequência é o ápice da técnica realista no Cinema. Ali, estamos em 1976, em uma delegacia qualquer de Boston. A queixa é de pedofilia contra um padre que aguarda em uma sala. O advogado chega. As crianças, aterrorizadas. A imprensa, calada. Um tempo se passa e vemos o padre sair livremente da delegacia. A justificativa? A igreja faz muito bem à comunidade. Uma carta branca do Estado para o abuso sexual de menores.
A cena serve para ilustrar os muitos casos sem punição que ocorreram até 2001, o ano em que a matéria começa a ser escrita. Com mão leve, o diretor elabora um contraste entre as duas sequencias. O passado impune será revisto pelos personagens que acabamos de conhecer. Com essa conotação simples que ele leva o filme até o final.
McCarthy, preso ao realismo ou por falta de tesão no filme, tem um trabalho simplório com a câmera. Movimenta apenas quando necessário e enquadra seus personagens sempre com certo afastamento. Depois fui notando que não era apenas a câmera que era simples demais. Na verdade, a direção dele é repleta de planos simples, montagem simples, decupagem simples, cadencia problemática de ritmo, pontuações banais das poucas reviravoltas, trabalho frívolo de atmosfera. Durante o filme todo senti muito a falta da presença do diretor em diversas sequencias. As coisas pareciam estar no piloto automático, totalmente sem paixão, trabalhando a imagem apenas para contar uma história que merece ser contada. Logo, me veio a clássica questão: McCarthy é bom diretor ou a história é tão boa que se dirige sozinha?
Sinceramente, não sei responder a essa questão com tanta certeza. Diria que ele transita entre o automático enquanto apresenta boas ideias. E essas, quando elas surgem, são poderosíssimas.
Em algumas composições, McCarthy, seja através do diálogo ou pela atuação de algum ator, denota um ar tenebroso para as igrejas de Boston. Em um grande plano geral, ele enquadra as monumentais igrejas ao fundo enquanto insere algum parquinho, escola ou diversas casas de bairros suburbanos repletos de crianças. O que era para ser a figura de refúgio, fé e acolhimento, recebe tonalidades ameaçadoras e perversas.
Ainda visando o realismo, o diretor também dá preferencias a planos longos que resolvem diálogos inteiros – ainda que sejam esteticamente rudes. Outros momentos poderosos acontecem quando o diretor realiza as sequencias de entrevistas e pesquisa em montagem. As rápidas sequencias – e também a pontual montagem paralela que ele executa no meio do filme, tiram o longa do marasmo e injetam algum vigor na narrativa.
Mesmo mantendo esses bons momentos, o diretor consegue ser absolutamente brilhante em três ocasiões. A primeira, talvez a mais inteligente, ocorre quando o grupo faz uma áudio conferencia com um informante. Na conversa, ele revela a quantidade assustadora de padres molestadores. Nisso, lentamente a câmera vai para trás, fazendo um travelling out enquanto o grupo fica sem reação diante a revelação que acabaram de escutar.
Para entender a sensibilidade desse momento é preciso entender um pouquinho de linguagem cinematográfica. Geralmente em momentos cruciais e reveladores de diversos filmes, é muito comum a câmera se aproximar do ator lentamente – no travelling in. O movimento serve para enfatizar o que o ator revela, para fixarmos nossa concentração apenas no monólogo e na atuação e nos envolver em atmosfera única. Porém, aqui, McCarthy realiza o oposto. A câmera se afasta. Mas qual o motivo disso?
Se viu muitos filmes de terror clássicos dos anos 1930, 1940 e até mesmo algumas obras dos anos 1990 como Pânico, perceberá que após a mocinha em perigo descobrir e confrontar o monstro, a encenação natural pede para que ela se afaste dele lentamente. Indo para trás até encostar em alguma parede ou tropeçar e cair. Nessa cena, a câmera se comporta justamente como as mocinhas dos filmes de terror. Ela se choca com o horror revelado. Ela recusa a verdade e parte lentamente para trás até o movimento cessar no fim da cena. Isso pode parecer trivial e bobo, mas acredite, não é. É uma encenação de câmera que agrega na narrativa de modo absurdo, afinal ela reflete o choque dos personagens e também do espectador. A repulsa, o nojo, o medo e o horror são representados por ela.
Já o segundo ponto brilhante de McCarthy se dá em um enquadramento que exibe o personagem de Liev Shreiber chegando Boston Globe. Ali, na porta do jornal, está escancarado um outdoor da AOL com os dizeres “em todos os lugares”. A mensagem é clara como a luz do dia e eficiente. O novo jornalismo, a nova notícia vs. a velha mídia. E isso, propagandeado, em seu próprio terreno.
Às vezes, durante as estreias da semana, temos similaridades ou coincidências bizarríssimas que até nos assustam. No mesmo dia que estreia Os Oito Odiados no Brasil, também estreia Spotlight. Aparentemente os dois não tem nada em comum, fora uma característica: o uso da canção Noite Feliz. Em ambos os filmes ela é inserida de forma brilhante rendendo, talvez, os melhores momentos de cada um dos filmes. Em Spotlight, o diretor realiza outra boa montagem. Dessa vez exibe a matéria sendo escrita enquanto o prazo final se aproxima. Enquanto os jornalistas escrevem os horrores descobertos por eles, McCarthy dimensiona ainda mais a tragédia ao inserir a icônica canção natalina cantada por um coral infantil – tudo justificado dentro do filme. Ao mesmo tempo que essa união de som e imagem te choca, ela te entristece. E muito mais se você for católico como eu sou. Impossível não sentir um pesar, um momento de luto, uma reflexão. Provocar esses sentimentos no espectador é algo importante. McCarthy prova que quando ele quer fazer algo estupendo, ele consegue.
O design de produção também agrega na narrativa de modo positivo mesmo que seja enviesado no realismo. A força principal da área é exclamada pelo correto modo de filmar do diretor. Em diversas cenas, vemos que a redação do Spotlight fica em uma sala separada da redação normal. O escritório dos protagonistas fica um tanto escondido, um lugar que leva algum tempo até chegar nele, um ambiente recluso, o que já abre a diversas interpretações sendo a principal delas a ironia dessa construção e disposição de cenário. O lugar onde os maiores segredos são revelados, fica um tanto escondido dentro do prédio, um lugar quase secreto.
Como todas as áreas técnicas também partem da premissa realista, a fotografia não poderia fugir disto. O ambiente do Boston Globe é sempre estéril, higiênico, fotografado pelas cores monocromáticas de branco, gelo mescladas com tons de marrom e cinza. Todas iluminadas com a estética naturalista do cinematógrafo Masanobu Takayanagi que aproveita muito do clima nublado de Boston para deixar sua fotografia dessaturada e difusa.
Na música temos o ótimo Howard Shore. As composições, muito singulares e restritas no filme, tem forte carga dramática, além de serem curtas em sua duração. Muitas são melancólicas e se parecem muito entre si – variações belas do tema principal. Ela também envolve as cenas em mistério, conferindo outra paixão pelo jornalismo e a investigação em si. Principalmente pela presença marcante do piano comportado, hesitante. As notas caminham a passos lentos evocando pureza e ingenuidade enquanto os violinos secundários a seduzem lentamente. Por algum motivo, o trabalho de Shore me lembrou muito das também excelentes peças originais para o jogo The Wolf Among Us que também tem sua narrativa centrada numa investigação.
É importante salientar que o filme é de forma alguma anticatólico como alguns espectadores podem pensar. Justamente por ser realista, o tratamento não pode ser maniqueísta e caricato. Sabiamente é dito dentre tantos diálogos que a reportagem é um ataque a instituição da igreja que simplesmente acobertou todos esses casos repulsivos de pedofilia por décadas – contra fatos não há argumentos. O filme nunca é desrespeitoso com a fé alheia ou até mesmo com as pregações do catolicismo. Ele apenas aborda a história como ela ocorreu em 2001.
O filme traz uma grande história sobre um dos acontecimentos mais importantes deste século. A história de homens que colocaram uma instituição milenar de joelhos, obrigada a reconhecer seus crimes. Nisso temos um elenco fortíssimo, uma estética realista rara de se ver no cinema comercial contemporâneo e uma direção que tem momentos de brilhantismo espetaculares. Tudo isso compensa o ritmo inconstante, as confusões geradas pelo texto perdido ao de inúmeros personagens, pelas oportunidades mal aproveitadas e a falta de desenvolvimento de alguns arcos importantes – incluindo a conclusão um pouco apressada do longa.
Temos aqui o nascimento de um novo clássico sobre jornalismo investigativo.
Aliás, mais que isso. Spotlight é sobre os homens, seus crimes e pecados na Terra. E a punição.
Crítica | 007 Contra Spectre
Chegamos ao quarto filme da era Daniel Craig como o agente secreto mais famoso do mundo. E para a alegria geral do público, se trata novamente de um bom filme, ou a fine movie. O desafio era tremendo – se igualar ou superar a qualidade do estupendo Skyfall – filme aclamado pelo público, pela crítica e pela Academia. Apesar de ser um longa que na equação final, satisfaz, Spectre não chega perto da coragem narrativa e técnica que Skyfall apresentou em 2012. E isso, aparentemente, é proposital.
Dessa vez Bond tira suas “férias” durante o Dia de los Muertos na Cidade do México. Seguindo a trilha de um inimigo que pode fornecer pistas para prosseguir com uma longa investigação, o agente acaba por explodir meia cidade. Nisso, Bond encontra um anel misterioso com um polvo esculpido na prata. Pelas pistas retiradas do anel, 007 segue para Roma a fim de descobrir uma organização secreta terrorista, porém, o que descobre vai muito além do que ele imaginava, ao força-lo a revirar a história de seu nebuloso passado.
O sucesso do filme anterior foi tão grande e intenso, que a EON optou por apostar novamente com a equipe original – apenas o diretor de fotografia Roger Deakins e o montador Stuart Baird pularam fora. Com isso, o roteiro de John Logan, Neal Purvis e Robert Wade trabalham em cima de uma conclusão para a trilogia anterior enquanto ao mesmo tempo já estabelecem o retorno da franquia para o modelo clássico e “genérico” que os filmes pré-Craig já utilizavam.
Por isso, digo desde já, não espere um Skyfall em Spectre. Aqui se trata de um texto muito mais descontraído com boas revelações e ideias que são mal aproveitadas, apesar de serem filmes muito semelhantes na estrutura narrativa. Como na maioria de todos os filmes do espião, há uma nítida dificuldade em amarrar bem a trama durante as muitas mudanças entre as locações exóticas características da série. Então se acabar se perdendo um pouco ou perceber que algumas coisas não fazem sentido, paciência, bem vindo a um filme 007.
Spectre possui algumas similaridades com Skyfall e também acaba cometendo os mesmos erros – talvez o texto esteja se tornando vicioso. Como de costume nessa fase Craig, James Bond age por conta própria ou com pouquíssimo apoio do MI-6 e M que, por sua vez, luta para mostrar a relevância do departamento 00 de novo no cenário atual de espionagem repletos de drones, satélites e todas as quinquilharias do novo século. Obviamente, isso já começa a cansar o espectador. É a mesmíssima história contada de modo diferente. Aliás, isso já está tão enraizado no gênero que esse mesmo conflito está presente na trama de Missão Impossível: Nação Secreta.
O trabalho originado desde Cassino Royale é continuado aqui, mas a proposta central ainda é “revelar” o passado obscuro e “desconstruir” James Bond. Claro que isso é uma estratégia de marketing pouco explorada. Aliás, a revelação principal da narrativa é ótima e gera um elo fantástico entre o herói e o antagonista, Oberhauser, porém isso se revela um tiro nuclear no próprio roteiro quando paramos para pensar após o término do filme. Simplesmente, o modo como o agente reage à revelação é inexistente. O texto não explora a reação de Bond, algo que com certeza teria gerado um diálogo ótimo – como o existente entre Bond e Silva em Skyfall.
Aliás, o que seria o maior trunfo de Spectre, também não satisfaz. Assim como em Skyfall, há uma demora exemplar para apresentar o antagonista, Franz Oberhauser. Portanto, a confrontação é rápida, insatisfatória e surreal. Ao menos, o vilão tem uma motivação forte e um plano maléfico muito convincente para o espectador moderno. Infelizmente, nós nunca vemos de fato Oberhauser agir e lançar o caos no mundo – temos apenas uma cena excelente para expressar a maldade cirúrgica do vilão. O personagem só toma a força que tem por conta de ações de filmes anteriores e outras coisas que não posso revelar. Além disso, Cristoph Waltz ajuda para o crescimento do personagem com seu ar psicótico e racional característico desde Hans Landa em Bastardos Inglórios.
As qualidades do roteiro provém, na maior parte, da nostalgia dos filmes da era Connery e Moore. Aqui há diversas referências tanto no texto quanto no visual de diversos filmes da franquia – Moscou contra 007, A Serviço Secreto de Sua Majestade, 007 Contra a Chantagem Atômica, Viva e Deixe Morrer, Um Novo Dia para Morrer, O Mundo não é o Bastante, entre outros.
Logo, temos a atmosfera mais light e repleta de ação característica desses filmes, além do humor canastrão proveniente das ótimas frases de efeito. Spectre é o começo do retorno aos moldes clássicos de filmes do agente secreto – tenha isso em mente quando for assistir.
A relação de Bond com a nova Bondgirl, Madelaine Swann é digna de nota e salva a segunda metade do filme. Se trata de mais um excelente estabelecimento romântico para o protagonista após Vesper Lynd, além do fato da personagem ser muito interessante, reforçando a imagem da mulher forte presente desde a era Brosnan, mesmo que seja calcada em alguns clichês do gênero – como os clássicos daddy issues. Léa Sydoux também merece destaque pelo ótimo trabalho. Agora àqueles que estão esperando uma grande participação de Monica Bellucci como Bondgirl, podem esquecer. A cougar femme fatalle fica apenas sete minutos em cena servindo apenas como trampolim para mover a narrativa, fornecer um sexo fácil para o agente tarado por mulheres casadas e gerar o clássico diálogo: Who are you? Bond... James Bond.
A equipe de Bond também tem boa participação na trama – M, Q e Moneypenny auxiliam o agente de diversas formas, porém ainda é decepcionante notar que os roteiristas aproveitam pouco o M de Ralph Fiennes e o novo modo de se relacionar com Bond.
Para bem ou para o mal, esse retorno das velhas características trouxe algo que estava fazendo falta há tempos nos filmes Bond: um capanga fora do padrão. Spectre conta com o talento e tamanho de Dave Bautista encarnando o gigantesco Hinx – um vilão que entretém muito em meio a pancadaria desenfreada.
Entretanto, não é só de texto que vive os filmes de James Bond. Sam Mendes retorna para direção e consegue criar a tensão na medida certa, mesmo que a dose das piadas tenha aumentado consideravelmente. O diretor já começa o filme com os pés na porta: um plano sequência de alta complexidade que acompanha 007 “festejando” o Dia de los Muertos. Visualmente implacável, belíssimo e bem construído para manter sua atenção na ação, é uma das expressões artísticas mais marcantes da franquia.
Estranhamente, esse Mendes de Spectre é muito diferente do de Skyfall. De certa forma, a elegância dos enquadramentos e movimentação de câmera ainda estão presentes, mas o diretor começa a apostar em sequencias com câmera na mão, ao estilo shaky cam, aliadas a uma montagem mais acelerada. Digamos que se trata do mesmo conteúdo visual, mas apresentado de forma diferente.
A vinda do novo cinematografista certamente teve um baita impacto na imagem o que pode ter desencadeado essa nova concepção visual do diretor. Hoyte Van Hoytema trabalha com película ao contrário de Roger Deakins, entusiasta do formato digital. Logo sua foto aparenta ser mais “crua” ou “rude” graças a presença nítida e bela dos grãos do filme.
Porém isso é somente impressão. Mesmo que Hoytema não consiga fazer uma foto tão esteticamente apreciável quanto Deakins, ele chega bem perto e assimila muito da técnica do fotógrafo. O trabalho com luz difusa é tão bom quanto o de Deakins, além de conseguir manter um estilo próprio. O melhor de seu trabalho fica para a cena na qual Bond se infiltra na reunião da Spectre que ocasiona o primeiro confronto com Oberhauser. O forte tom amarelado acompanhado de um trabalho intenso de penumbras geradas pela iluminação barroca é espetacular. Aliás, Hoyte elabora a luz principal de todos os atores nesta cena marcante, apenas com contraluzes bem marcadas. Isso realmente torna a atmosfera da cena única, algo fora do padrão. Aliás, em todas as cenas que Craig e Waltz contracenam, a fotografia se transforma – e a direção de Mendes, também.
Mantendo o padrão alto, Sam Mendes ainda consegue criar sequencias de ação boas, porém somente duas realmente se destacam – a abertura do filme e a perseguição nos alpes. As demais cumprem o papel de divertir graças ao bom dinamismo. Apenas uma perseguição de carros em Roma deixa a desejar, apesar de ser visualmente fantástica, ela pouco faz sentido dentro da diegese realista proposta por esses filmes – repare que praticamente não há um vestígio de trânsito ou pedestres durante a sequência. Algo realmente estranho se comparada a frenética perseguição em Istambul de Skyfall.
Assim como em seu filme anterior, Mendes insiste em trabalhar com o conceito da ressurreição. O diretor parece obcecado em imprimir toda sua marca autoral sustentando esses filmes nesse alicerce. A iconografia da morte e ressurreição é escancarada pelo texto que abre o filme. Os ótimos créditos iniciais de Daniel Kleinman também reforçam a imagem da morte enquanto brinca com caveiras sombrias e diversas silhuetas de mulheres de corpos esculturais envolvidas por polvos – algo me lembrou muito do clássico Possessão. Novamente o teor da abertura é extremamente psicológico – e a ótima canção de Sam Smith contribui com isso. Não é por acaso que o Dia de Los Muertos foi escolhido para apresentar o item que levará Bond a confrontar um de seus mais temíveis inimigos.
Encare Spectre como um espelho “reverso” de Skyfall. Enquanto no outro filme era Bond quem ressuscitava para se tornar, gradualmente, o melhor espião do MI-6, aqui acontece algo parecido. Além disso, Mendes procura amarrar as pontas soltas de todos os três filmes anteriores, então é uma ótima ideia revê-los antes de assistir essa nova aventura. Entretanto, mesmo cuidando desses detalhes e conseguindo construir algo a mais do que apenas ação estúpida e descerebrada, Mendes começa a tropeçar quando usa e abusa de diversos deus ex machina e pedir muito da suspensão da descrença do espectador. Como disse anteriormente, a estrutura narrativa de Spectre é frágil e depende muito dessas soluções arbitrárias do roteiro e da ação.
Além disso, o diretor alonga demais algumas cenas de ação que deveriam ser mais curtas enquanto apressa cenas de desenvolvimento de personagem que precisavam ser mais longas. Apesar de errar nessas coisas, Mendes nos recompensa com diversos elementos de cena interessantes que pedem para ser analisadas. Seja na figura do polvo, o emblema da Spectre ou nas teias e redes que ele opta por enquadrar Craig através delas explicitando a armadilha que o agente está prestes a cair – esse recurso visual já foi utilizado por David Fincher em Se7en. Aliás, é muito importante dizer que o próprio diretor faz uma análise interessantíssima sobre os filmes anteriores em meio a um diálogo delicioso entre Oberhauser e Bond – tirando qualquer dúvida restante de que esses filmes se tratam sobre a morte, a vida, o fracasso, o sucesso, o passado e o futuro.
Em termos gerais, Spectre é um dos melhores filmes deste espião que tanto amamos. O retorno aos moldes pré-Craig pode ser uma boa ideia, mas também tem tudo para dar errado após esse tratamento mais complexo conferido ao personagem. O longa diverte e muito com sua boa história e ótimas cenas de ação – virou um dos meus filmes favoritos da série. Também temos mais uma oportunidade de ver o ótimo trabalho que Daniel Craig vem fazendo ao reinventar 007. Além disso, temos o prazer de celebrar os cinquenta e três anos desta franquia histórica.
Realmente, sr. Bond, tempus fugit.
007 Contra Spectre (Spectre, Inglaterra - 2015)
Direção: Sam Mendes
Roteiro: Neil Purvis, Robert Wade e John Logan
Elenco: Daniel Craig, Christoph Waltz, Léa Seydoux, Monica Belucci, Naomie Harris, Ralph Fiennes, Ben Whishaw, Dave Bautista, Andrew Scott, Rory Kinnear, Jesper Christensen
Gênero: Ação
Duração: 158 min
https://www.youtube.com/watch?v=0Q7XHvi4-QE
Crítica | Um Homem Entre Gigantes
Grande Will Smith! O cara simplesmente adora melodramas quando não está metido em produções explosivas matando aliens, robôs ou vampiros-zumbis. Esses grandes dramas sempre ganham uma interpretação intensa. Seja em Sete Vidas, À Procura da Felicidade, Ali ou Lendas da Vida. Até mesmo em Eu Sou a Lenda, Smith consegue tocar em uma superfície dramática densa. Com Um Homem Entre Gigantes, o famoso Concussion, o ator e sua esposa geraram o movimento de boicote ao Oscar desse ano justificado pela polêmica do Oscar So White, mas também foi motivado pela sua ausência no rol dos indicados em Melhor Ator.
Aqui, ele uniu suas forças com o diretor/roteirista Peter Landesman para trazer mais uma história a la Davi vs Golias como você já viu em diversos outros filmes – Spotlight é um dos casos mais recentes. Smith encarna o Dr. Bennet Omalu, um imigrante nigeriano que vive nos EUA exercendo a profissão de legista no necrotério de Pittsburgh. Ao receber o cadáver de um dos mais célebres jogadores dos Steelers, time de futebol americano tradicional da cidade, Omalu resolve realizar uma autópsia completa, pois está intrigado com as evidencias inquietantes de diversos transtornos mentais que o atleta possuía – algo incomum para um homem de 50 anos. Feita a autopsia, Omalu descobre uma doença inquietante e inédita até então. As concussões sofridas nos atletas derivadas de diversos choques e colisões pode ser a causa da demência precoce. O problema é que a revelação de Omalu desagrada e muito a NFL – principal liga do esporte no país, que fará de tudo para desacreditar o médico e sua descoberta.
Vendo o único trabalho anterior como diretor de Peter Landesman, Parkland, não é de ficar impressionado como o roteiro de Concussion é irregular. Mesmo abordando uma descoberta cientifica de extrema relevância para o esporte, Landesman conduz o longa com muita calmaria quando na verdade poderia ser algo potente e forte como Uma Mente Brilhante ou Clube de Compras Dallas. Há diversos problemas que tangem o desenvolvimento de personagens secundários. Absolutamente todos são problemáticos,
A começar com o primeiro antagonista, um legista que trabalha junto com Omalu, Daniel. O roteirista força nossa antipatia com a caricatura do personagem que nunca foge da superficialidade. Ele simplesmente o usa para criar algum atrito, desnecessário, ao primeiro ato do longa. Também é inexplicável como o personagem some após um confronto, afinal Landesman investe bastante tempo nele. Os outros coadjuvantes também não fogem dessa constante unidimensionalidade que assombra o texto. Dois são personagens-muleta para auxiliar o herói em sua jornada. Com o supervisor, Cyril Wecht, Landesman consegue tatear o poder coercitivo do Estado quando o conflito principal do longa engrena – Omalu vs. NFL. Mesmo com esse item interessante, após ser apresentado, rapidamente, o roteirista desiste do tema.
O outro personagem auxiliar de Omalu é o Dr. Julian Bailes, interpretado dentro dos padrões por Alec Baldwin. Ao contrário de Cyril, boa praça e raso, Bailes sofre ainda mais com a tentativa atrapalhada do roteirista em tentar moldá-lo com mais cuidado. Há um jogo fracassado em deixar dúbias as verdadeiras intenções do personagem. Isso é apresentado praticamente na última cena que Baldwin e Smith contracenam juntos e nos pega de surpresa, pois é algo muito infundado que só reforça a preguiça de Landesman em criar situações interessantes. Já a coadjuvante mais importante, o interesse romântico de Omalu, também é jogada em meio à narrativa.
Em certo ponto, um personagem diz para Omalu que ele precisa de uma namorada, logo então, o diretor corta a cena e apresenta Prema Mutiso, também imigrante, que em poucos minutos acaba morando na casa do legista. Todas as cenas dedicadas ao desenrolar da tensão romântica entre os dois são insatisfatórias e desconexas sendo que muitas delas nem chegam a sugerir esse interesse amoroso entre eles – essa culpa pode recair também na performance pouco inspirada de Gugu Mbatha-Raw.
Além dos personagens rasos e problemáticos, uma quantidade notória dos diálogos do longa é inadequado ou soa completamente artificial, pouco críveis, perdendo a naturalidade que eles almejam. Isso recai muito no tom didático de Omalu, mas boa parte do texto ruim é centrado nos diálogos entre o protagonista e sua esposa – quase sermões, interpretações ou parábolas, ainda que seja fundamentado pelos personagens muito religiosos, não deixa de ser um trabalho piegas.
Mesmo barbarizando com esses atropelamentos bizarros no desenvolvimento dos coadjuvantes, Landesman até que acerta o tom com Omalu com seu drama relevante. Somos apresentados ao doutor em um tribunal onde ele expõe todas as suas credenciais – uso criativo da exposição narrativa, e tão logo já somos introduzidos em seu cotidiano no necrotério. Surgem suas características que denotam a paixão pela vocação, o respeito, a ética, a moral e, principalmente, a ingenuidade de um homem que não consegue ver maldade nos outros. Com forte fé e admiração pela América, o choque de realidade que ele recebe com as ameaças da NFL graças a sua descoberta, o abalam profundamente.
Um bom drama que é encarnado por um Will Smith muito, mas muito inspirado. Percebe-se como ele estava obstinado em ser indicado ao Oscar, porém, diante a outras performances que foram esnobadas, acho difícil crer que até mesmo em um universo paralelo ele foi indicado na categoria. Smith vira Omalu. É fácil esquecer que estamos vendo ele atuar ao comprar essa personificação assombrosa que ele constrói para Omalu. Muito contido, entusiasmado, apaixonado e acompanhado de sotaque nigeriano que não nos distrai, mas agrega bastante ao personagem. Na verdade, Smith carrega o filme nas costas o tornando uma experiência agradável e leve. Fácil de ser digerido.
Fora isso, ele consegue suplementar as deficiências do roteiro quando finalmente Landesman aborda o conflito principal na luta do homem contra os gigantes. Seu trabalho crescente na desilusão do sonho americano é louvável, pois pouco a pouco o personagem perde o sorriso de outrora. Fosse uma atuação menos inspirada, a falta de resolução do conflito, os clichês mal utilizados, as reviravoltas jogadas ao final e a previsibilidade do longa, seriam problemas ainda mais graves do que já são. O drama principal também não escapa da mediocridade já que não há um conflito direto, mas sim uma guerra fria e a imaginação do roteirista para tornar o real, fantástico é fraca. Não temos aqui um Aaron Sorkin em O Homem que Mudou o Jogo, infelizmente. Landesman frisa a todo momento que Omalu corre sério risco, porém há pouca exibição desse perigo. Somente a menção não basta para nos provocar este senso de urgência.
Ao menos, na direção, ele erra menos, consideravelmente menos. Tirando as barbaridades vindas de uma experimentação tosca na variação de jump cuts no áudio durante a apresentação de Omalu, Landesman consegue conduzir uma linguagem visual adequada assim como o ritmo da obra. Ele opta, em maioria, por planos bem próximos do rosto do ator chegando a criar muitas cenas somente com essa decupagem proveniente do videoclipe dos anos 1990. Mas em diversas sequências, ele constrói uma gama bem variada e rica na linguagem visual – mesmo que durante as cenas dedicadas às autópsias, ele arrisque uma linguagem televisiva de seriados, um risco desnecessário.
Os momentos inspirados existem até, mesmo que raramente. Durante o filme inteiro, Landesman não arrisca muito, mas também não prejudica seu filme com caprichos de ego. Em uma das boas cenas, ele usa a frequente interpolação de imagens para criar um contraste entre a celebração e o terror e psicose dos jogadores aposentados provocados pela demência da doença. Aliás, seu trabalho em dedicar diversos minutos para os ex-atletas adoecidos é bem feito, inclusive o ato de censurar a tortura física que eles se auto impõem durante suas alucinações, afinal é um filme PG-13. Porém, acredito que a baixa classificação etária, tenha prejudicado um pouco o drama do estado deplorável que os jogadores se encontram, afinal tudo fica oculto ou meio perdido dentro do filme também por conta de elipses mal inseridas na montagem. A denúncia só tem essa força graças a atuação desesperadora de David Morse ao encarnar o insano Mike Webster. Morse eclipsa todos os outros atores que encarnam o restante dos atletas doentes. Landesman parece tentar provocar uma emoção forte, mas logo depois de uma boa cena, ele já insere panos quentes para não ofender os figurões do esporte.
Também é incomodo a falta de imaginação do diretor em criar conflitos envolventes. Repare quantas vezes tentam desacreditar o protagonista na base da carteirada. A falta de atrito de Omalu com o antagonista fantasma NFL também é certamente algo que deveria ser melhor trabalhado – ao menos, há uma problematização da figura da liga dentro do longa, a tornando mais complexa. Boa parte do terceiro ato e suas muitas reviravoltas jogadas ao léo vem de seu roteiro anterior, O Mensageiro. Até mesmo o desfecho com um discurso medíocre diante uma plateia comportada é copiado do outro filme. Aliás, essa constante da falta de imaginação é presente na obra inteira. Até mesmo o design de produção da casa do personagem falha em nos transmitir mais informações, de modo sutil, do modo de vida do protagonista. Muito é trazido apenas pelo texto que já é fraco.
Um Homem Entre Gigantes é um longa que trata com panos quentes sobre um tema muito espinhoso. Em meio a um melodrama mal estabelecido, a confusão da vontade em fazer uma cinebiografia, a falta de audácia em diversas cenas, as constantes trapalhadas do roteiro, a construção inevocada de diversos personagens, a falta de um conflito mais intenso, uma direção comportada aliada de foto e trilha adequadas com uma montagem que erra bastante, torna-se um longa medíocre que bebe em uma fonte cheia de potencial.
Porém, o tema interessante, a excelente performance de Will Smith, a condução das cenas das autópsias, além do despertar do nosso interesse em descobrir o desfecho disso tudo, tornam a experiência bastante agradável. Creio que é um ótimo longa para se ver em casa, pois ele funciona bem em uma tela menor. É sim um bom drama verídico e, por vezes, delicado e apaixonado, ainda que me incomode muito o tom conformista que o cineasta assume ao fechar a obra com final tão anticlimático e fraco. No fim, a história do imigrante africano que denunciou o altíssimo grau de periculosidade, até então desconhecido, de uma das profissões mais tradicionais dos Estados Unidos, tornou-se algo supérfluo e fraco quando deveria ressuscitar o debate desse notório problema, além de assombrar novamente a NFL. Uma pena.
Crítica | Zootopia
Em 1928, na busca de um concorrente para o Gato Félix, Walt Disney passou a trabalhar com seu primeiro animal animado antropomorfizado: o lendário Mickey Mouse. O camundongo criado por Disney e Ub Iwerks foi o estopim para o intenso trabalho do estúdio com historinhas, histórias ou fábulas contando com a presença de peso de animais diversos de todas as espécies – uma visão de empreendedorismo impor, pois assim como eu era fascinado por bichos na minha infância, imagino que diversas outras crianças ainda nutrem, até hoje, essa paixão por animais.
Para citar alguns títulos de longas metragens, contando ou não com a participação de Disney, temos obras maravilhosas que aqueceram a infância de muita gente como 101 Dálmatas, O Rei Leão, A Dama e o Vagabundo, O Cão e a Raposa, Bolt, Selvagem, O Rei Leão, Nem que a Vaca Tussa, Irmão Urso, Dumbo, Aristogatas e Robin Hood. E olha que só citei os filmes onde os animais são os verdadeiros protagonistas da obra completa. Se formos analisar por um escopo maior, praticamente todas as animações da Disney contam com um personagem-animal.
Desde 2008, com Bolt, que a Disney não se aventurava novamente em um longa original inspirado em bichos para animar a garotada. Mas a verdade é que Byron Howard concluiu a produção de Bolt, já começava a rascunhar as ideias que dariam origem a Zootopia, retomando mais uma vez a incansável fascinação do estúdio com os animais.
Além de dirigir, Howard e Rich Moore dividem os créditos de roteiro com mais cinco pessoas e, por incrível que pareça, conseguem construir uma história bem amarrada apresentando a vida da pequena coelhinha Judy Hopps. Desde a infância, Judy sonha em se tornar policial da fantástica metrópole Zootopia, um lugar onde tudo é possível, onde predadores e presas vivem em completa harmonia enquanto tocam os afazeres de cada dia. Com muito esforço e dedicação, Judy supera as adversidades e consegue realizar seu sonho.
Porém, ao chegar na utopia dos bichos, Judy se depara com diversas frustrações: é enganada por uma raposa ardilosa, além de ser designada para a vigilância de trânsito. Com muitos casos de desaparecimentos pela cidade, além de boatos que antigos predadores estarem voltando ao estado selvagem e irracional, Judy acaba por conseguir entrar na investigação do sumiço de uma lontra. Para conseguir entrar no submundo do crime da cidade, Judy acaba convencendo Nick Wilde, a raposa golpista, a ajuda-la na misteriosa busca.
A começar, Zootopia não estabelece profundas explicações sobre como presas e predadores conseguiram superar a cadeia alimentar e viver em harmonia na cidade – e nem deveria. A boa exposição no início do longa já consegue nos atingir com a finalidade única de compreendermos a motivação implacável de Judy Hopps e, obviamente, nos simpatizarmos com a personagem. De fato, o que os sete roteiristas conseguem elaborar quase impecavelmente é a construção da protagonista. O modo para desenvolver Hopps é simples e manjado – uma singela variação do underdog seguindo o sonho de uma vida, porém funciona com muita eficiência. A obstinação da personagem nos encanta, porém o que realmente brilha, além de engrandecer a personagem é a relação muito divertida com seu parceiro Nick. A ardilosa raposa não se limita apenas como alívio cômico nas tentativas de sabotagem na investigação de Hopps, mas acaba criando um vínculo emocional com a coelhinha – como o esperado em narrativas como essa, ainda mais em animações Disney.
Gosto bastante como o filme se preocupa em estabelecer um backstory satisfatório para a dupla os conectando com um trauma vindo da infância, porém com cada um trilhando caminhos diferentes, afinal ele vira um trapaceiro enquanto Hopps mantém o sonho em ser policial. Diversos outros personagens secundários aparecem durante a investigação e cumprem o papel clássico: servem como muletas ou obstáculos contando com algumas piadas ótimas – como no caso do Departamento de Trânsito repleto de bichos-preguiça ou a casa de nudismo, e outras que não funcionam tão bem por já terem sido exploradas milhões de vezes antes – a gag com o diminuto veículo de Hopps ou com a apresentação, mesmo que seja funcional, de Mr. Big, um musaranho inspirado em Don Corleone de O Poderoso Chefão.
Mesmo com alguns tropeços, é inegável quando os roteiristas param de investir na apresentação da cidade para então lançar a investigação, o filme nos fisga exatamente por manter nosso interesse sempre aceso graças a diversas inserções destes personagens carismáticos, por não deixar pontas soltas na narrativa, da comédia inteligente que explora a natureza e anatomia dos animais, contando até mesmo com piadas restritas aos adultos e boas reviravoltas que se tornam mais intensas no terceiro ato. Muito disso também vem no festival de referências que é Zootopia. O público pode se deleitar ao reconhecer trechos que se assemelham com O Grande Lebowski, Vício Inerente, O Silêncio Dos Inocentes, Breaking Bad, Sicario, Incontrolável, Batman Begins, Os Simpsons, O Poderoso Chefão e até mesmo outras obras recentes da Disney como Frozen.
Aliás, o filme inteiro pega o manual de roteiro de filmes policiais/espionagem e o segue – apenas desconstruindo alguns estereótipos no caminho até o fim da jornada. Por se tratar de uma grande investigação, a figura do antagonista sai arranhada na superficialidade ainda que a motivação seja genuína. Simplesmente não é explorada satisfatoriamente nos levando ao teor um tanto panfletário da mensagem final do longa – só é salva pelo ótimo jogo de contrastes gerado com Nick e Judy. Os valores contra o racismo, estereótipos e sexismo certamente são bem-vindos para as crianças, só que poderiam ter resolvido o conflito de modo menos preguiçoso abarrotado de clichês tanto na catarse quanto no clímax que se assemelha muito, mas muito com Monstros S.A. Enfim, não deixa de ser decepcionante após uma ótima aventura.
Outro ponto que não consigo digerir muito bem é essa ausência perturbadora em novas animações da Disney de um momento dramático de grande impacto que consegue tocar nossos corações. Recordem comigo de cenas exemplares de filmes do estúdio. Lembrem da morte da mãe de Bambi, do fim de Mufasa, da quase morte de Baloo, de Tarzan entrando pela primeira vez na cabana de seus pais (um adendo: Tarzan é uma obra-prima), de Dumbo visitando sua mãe confinada na jaula, quando Totó é abandonado em o Cão e a Raposa, de Pinóquio se transformando em burro, quando Kenai conta para Koda a verdade sobre a morte da mãe do urso. Note que todos os longas que citei foram feitos em animação tradicional, alguns muito antigos.
Me pergunto onde está o espírito dos realizadores da Disney em conseguir criar momentos tão memoráveis e tocantes como esses? Será que estão todos nos estúdios da Pixar? Pois eles sabem usar a liberdade visual que a linguagem tridimensional proporciona para conferir esses momentos brilhantes vide Monstros S.A., Up, Toy Story 3, Divertida Mente ou até mesmo com O Bom Dinossauro. Não digo que falta personalidade em Zootopia, mas certamente falta esse calor emocional.
A tentativa de sacar um golpe da lágrima existe até, porém, parece que os diretores têm medo de continuar com a sequência, a cortando rapidamente. Isso tem início com a repercussão que a investigação traz à tona para a cidade afetando os heróis, inclusive. Uma pena.
Na verdade, Zootopia brilha mais em quesitos técnicos mesmo contando uma boa história com jogadas espertas que mantém seu interesse vivo. Os méritos da direção do filme concentram-se mais na criatividade em criar essa cidade fabulosa do que propriamente na técnica cinematográfica no que tange a movimentação da câmera ou nos enquadramentos que são apenas adequados. Eles investem mais em ótimas sequências em montagem que conferem o vigor absurdo do filme como a dedicada à rotina de Hopps como guarda de trânsito, ao golpe de Nick ou com a apresentação da cidade. Também há maior atenção em conferir boas cenas de ação e da condução exemplar da cena do departamento de trânsito.
O design de produção deste longa é absolutamente fantástico. Não somente pela criatividade em dividir a cidade com habitats diversos onde os bichos possam viver adequadamente. Desde climas áridos para polares – é genial a inserção do uso do ar condicionado gigante para formar os climas tão opostos, com construções de prédios enormes para elefantes e girafas como cidadezinhas apropriadas para roedores. O trabalho é focado intensamente em tornar todo o universo de Zootopia em algo crível. Vemos como os animais usam os meios de transporte da cidade, veículos próprios, uso de suas características anatômicas para realizar tarefas cotidianas, como eles se alimentam, seu consumo em bancos, lojas, restaurantes, seu uso próprio e individual com as tecnologias que nós temos acesso hoje como smartphones, redes sociais, uso da nuvem, ipods, aplicativos, etc. Cada uma dessas tecnologias ou referências de filmes da empresa recebem nomes originais baseados sempre em trocadilhos como Google por Zoogle, entre outros.
Não somente por essa atenção aos detalhes e em explicar como a cidade comporta mamíferos de pequeno e grande porte, mas também pelo capricho nos cenários diversos, na vegetação de cada habitat, na roupa que cada bicho veste. É de uma criatividade ímpar que só poderia ter vindo da Disney.
Outro ponto brilhante da técnica é a animação do filme. Os animadores estudaram a movimentação de mamíferos reais por anos para então imaginar como seria essa física do movimento com os animais antropomorfizados, andando em dois pés. Digo que funciona e muito bem. Vemos camelos saltando durante sessões de jogging, leões andando com peso e graciosidade, girafas trotando ao ligeiro passo, elefantes, rinocerontes e hipopótamos com passos trôpegos e lentos entre diversos outros. Com os protagonistas o trabalho é ainda mais delicado.
Judy saltita como uma coelha diversas vezes, bate os pés quando está excitada, agita o nariz quando intrigada, levanta e abaixa as orelhas para expressar alegria e frustração, além de ser extremamente ágil e ter uma postura ereta e vigilante. Hopps definitivamente se sente uma heroína. Já com Nick, os contrastes são claros. A raposa é tranquila e mansa, por vezes lenta, sempre muito relaxada, repleta de olhares cínicos e maldosos que se transformam conforme a afeição de Nick por Judy aumenta. A gama vasta de expressões não limita de modo algum as emoções que os personagens transmitem. A dublagem brasileira também não fica atrás do excelente elenco original. A essência dos personagens permanece intocada com as boas performances de Mônica Iozzi e Rodrigo Lombardi.
Exalto ainda o trabalho de modelagem, textura e física dentro do departamento de animação. Cada pelo dos animais é diferenciado da raiz até a ponta, desde pelos mais crespos, curtos e duros como de Judy, das giradas e dos roedores, até os mais longos, delicados e leves como de Nick, dos lobos, ursos polares e leões. O vento e a água não afetam somente o cenário com as árvores. Os pelos recebem essa dedicação exclusiva na criação de padrões de animação ao reagir ao vento e a água. A iluminação também é respeitada na reação dos pelos e é bela. Sempre adequada e atmosférica com raríssimas vezes onde ela recebe um sentido mais metafórico.
Uma delas é quando determinado personagem se reconcilia com outro saindo da escuridão de um túnel que representa não somente a transição e amadurecimento dele, mas também a ignorância e a solidão, caminhando diretamente para o lugar mais iluminado onde o outro personagem fica recolhido. Um desperdício os diretores não arriscarem mais momentos espertos como essa cena do perdão sincero.
Zootopia é um excelente filme, não tenho dúvidas disso. Ele diverte na dose certa, emociona com o pouco que arrisca, conta uma boa história de investigação cheia de comédia e ação onde adultos e crianças podem apreciar igualmente, apresenta dois personagens que serão muito queridos pelo público, possui uma infinidade de referências audiovisuais, design de produção de criatividade única, uma animação estelar, além de bom trabalho de Michael Giacchino que consegue dilatar cenas e similar melodias de Nino Rota em sua trilha musical. O filme apenas perde por arriscar pouco e trabalhar muito na margem de segurança, apressar o terceiro ato ao resolver conflitos de um modo que já é batido e muito previsível, limitar seu antagonista, inserir flashbacks desnecessários e apostar pouco no drama certamente tiram um pouco do brilho desse novo clássico. Porém, perto da relevância de sua mensagem importante e necessária, esses pontos são pequenos perto desta excelente realização cinematográfica. Fico ávido por ver mais histórias com estes personagens apaixonantes que a Disney não cansa em nos apresentar.
https://www.youtube.com/watch?v=5nP9hU8eUfE&ab_channel=MovieclipsTrailers
Crítica | A Juventude
Um dos melhores diretores da atualidade que você nunca deve ter ouvido falar é, sem dúvidas, Paolo Sorrentino. Mesmo com o irregular Aqui é o Meu Lugar no currículo, Sorrentino surpreendeu a todos com A Grande Beleza. Agora com Juventude, o italiano conseguiu entrar no meu rol de diretores favoritos. Os motivos são muito simples. É um diretor que não se deixa intimidar com o assunto tratado, sabe conduzir bem seus filmes e aqui, atingiu a simplicidade narrativa que faltava na sua obra anterior.
Sorrentino é um autor privilegiado. Pode dirigir e escrever as suas obras. Com Juventude, acontece o mesmo. Logo, para quem já é familiarizado com o diretor, já sabe o que esperar: uma narrativa episódica com diversos personagens intrigantes que muitas vezes são mais interessantes que os próprios protagonistas. Aqui, Sorrentino nos apresenta ao compositor aposentado Fred Ballinger que aproveita suas merecidas férias de aposentadoria em um charmoso hotel nos Alpes. Com ele, está seu amigo cineasta Mick Boyle que trabalha no seu último roteiro: seu testamento artístico. Porém, um fato inusitado corta a rotina maçante da dupla. A Rainha Elizabeth II quer que Ballinger orquestre sua belíssima composição Simple Song no aniversário do Príncipe Edward.
A proposta de Sorrentino é tanto filosófica quanto prática acerca da terceira idade. Esse é um dos filmes mais belos que eu já vi em minha vida sobre esse tema tão delicado e esquecido – mesmo com a retomada do tema com Amor e comédias estapafúrdias de reflexão básica como Última Viagem a Vegas. Logo, o que temos em Juventude são muitas, mas muitas ponderações sobre a idade avançada e a experiência de vida. É algo belo e a frente de seu tempo. Mesmo com a semiótica me desfavorecendo, Sorrentino é de tal talento que consegue fazer desse tema tão próprio e único, algo completamente universal em sua extrema sutileza.
Como de costume, o diretor já se pronuncia de modo único dentro de seu filme. Começamos com uma cantoria assim como em A Grande Beleza para então sermos apresentados ao nosso protagonista maravilhosamente encarnado por Michael Caine. O que posso apontar, negativamente, dentro dessa experiência mágica proporcionada por Sorrentino talvez seja essa breve introdução que é um pouco mal decupada e perdida. De concreto, apenas isso posso apontar, pois muito da película se concentra na subjetividade de seus acontecimentos e do modo que Sorrentino apresenta. Ou seja, assim como todos os filmes centrados nesse teor etéreo, pode se tornar algo ame ou odeie ou te provoque uma indiferença irritante.
Para desenvolver a complexidade de seus personagens, o diretor acerta em cheio ao nunca fazer as coisas de modo escancarado e porco. Tudo há um motivo muito bem centrado ao acontecer da maneira que ele apresenta: seja na sugestão ou até mesmo na exposição bem arquitetada em uma cena impactante entre Fred e Lena, sua filha. Através desses diálogos deliciosos, nós descobrimos mais sobre o passado dos dois protagonistas, cada um com seus horrores e prazeres escondidos sob anos de amargura e melancolia. Nisso, há sempre o contraponto da essência de cada revelação ou pensamento sobre o passado de Fred e Mick conforme eles conversam entre si ou com outros personagens – isso tudo é justificado dentro do texto.
Mesmo que os personagens centrais sejam fantásticos, os coadjuvantes simplesmente roubam a cena diante dos conflitos que parecem ser simples, mas que na verdade tratam-se de cóleras agudas no âmago de cada um deles. Temos um casal de idosos que sempre permanecem calados quando juntos, um ex-atleta obeso em clara referência à Maradona – sai a tatuagem de Che Guevara, entra Karl Marx, a Miss Universo – repare no contraste no modo como Sorrentino apresenta ela na cena, além de apresentar um trabalho de quebra de preconceitos, uma atriz famosa no passado a la Joan Crawford/Norma Desmond, a filhauma massagista silenciosa, uma prostituta deprimida, um moleque canhoto e, principalmente, o de longe mais intrigante, o ator Jimmy Tree, encarnado por um Paul Dano tão inspirado que chega a igualar a performance apresentada em Sangue Negro. O núcleo mais fraco do filme, talvez propositalmente, é o que envolve a criação do roteiro-testamente de Mick Boyle aliado de muitos jovens vazios, pedantes e sem-graça, mas conhecendo A Grande Beleza, fica claro o propósito de Sorrentino em investir nesse mar de gente insossa. Ao menos, o desfecho dele é absolutamente poético, poderoso e fantástico. Tão digno quanto o belíssimo fim do filme.
Com Jimmy Tree, o roteirista explora um assunto tão pragmático que tem um desfecho sutil – isso só é observado se você pegar peça por peça e encontrar a solução, ou seja, está dentro do filme, mas precisa da sua participação. Trata-se dos pecados das vaidades. Ou como grandes artistas são lembrados por apenas um papel na vida quando tem uma variedade de performances mais complexas e completas. Jimmy Tree é um espelho de tantos artistas “frustrados” como Robert Downey Jr. e seu Homem de Ferro, Johnny Depp e Cpt. Jack Sparrow ou Jennifer Aniston com sua Rachel. Nesse conflito, há uma passagem controversa que pode ser difícil de compreender, mas faz completo sentido dentro do drama de Jimmy Tree.
Porém, assim como em A Grande Beleza, o texto é uma alegoria importante, porém o cerne principal da obra tange ao visual. Sorrentino é um diretor muito perspicaz e talentoso. Juventude é um daqueles filmes que possuem um enquadramento mais belo que o outro – os enquadramentos de paisagens são de tirar o fôlego. O diretor explora a beleza da locação, busca muitas vezes pela centralidade dos quadrantes assim como a sua transversal, explora as linhas fortes que delineiam seu campo visual, além de simular com frequência os enquadramentos de Fritz Lang em Metrópolis associando uma alienação externa aos idosos assim como Lang explorava com os empregados do maquinário da cidade.
Nesse filme, Sorrentino está mais preso sim à narrativa, deixando um pouco de lado aquele bolo de acontecimentos sem ordenamento lógico apresentado em A Grande Beleza. Porém, ainda se trata de narrativas episódicas só que melhores conectadas. Mas ainda há lapsos visuais que pontuam bem o intervalo entre uma sequência e outra. Nesses breves momentos, temos o deleite de conferir um uso mais audacioso e poético da estonteante encorpada de Luca Bigazzi. Muitas vezes, nesses intervalos, Bigazzi e Sorrentino trabalham com composições barrocas a la Velázquez, Caravaggio ou Rembrandt. As imagens exploram o possível da anatomia idosa e das atividades que eles realizam no hotel. Suas simbologias visuais são muito inerentes ao filme. Um trabalho tão bom quanto ao de Terrence Malick.
No restante do filme, Bigazzi trabalha a luz também com muita delicadeza ao situar seu trabalho mais nos conformes contemporâneos ao contrário do que havia realizado com A Grande Beleza. A iluminação é mais difusa, as cores são levemente saturadas com alto contraste. É uma fotografia que pulsa vida e alegria, mas ao mesmo tempo, Sorrentino evoca melancolia e pouca perspectiva de futuro por parte de nossos velhos protagonistas. Tão pouco percebemos que a foto não simboliza o estado de espírito deles, mas sim da própria existência do terreno que eles circundam. Tudo permanecerá vivo enquanto eles, logo, vão deixar de existir fisicamente. Um trabalho muito profundo e, também, cruel, acerca desse momento complicado.
Sorrentino ainda continua com suas célebres sequencias de delírio tornando mais claro os temores de Fred Ballinger desde o envelhecimento constante e a iminência da morte refletidos pelo afogamento – essa cena também tem um significado sobre responsabilidade, mas essa interpretação só faz sentido ao fim do longa. O mais criativo desses delírios também tange o ponto de escuta de Fred quando ele “orquestra” uma composição vinda da natureza daquela diagese explorando um variado de Mickeymousing. Um dos momentos mais belos do longa,
Mas esses significantes não ficam somente restritos ao abstrato da obra. Sorrentino explora a dicotomia entre juventude e velhice diversas vezes de modo singelo e simples ainda que sejam momentos um pouco deslocados da narrativa. Porém, o mais poderoso deles se centra em um jogo de campo/contracampo tão simples que me encantou pela sutileza. Trata-se quando o personagem de “Maradona” percorre com seus passos trôpegos uma quadra de tênis e observa uma bolinha inerte. O olhar do ator Roly Serrano evoca toda a tristeza, depressão e desejo em voltar a fazer o mais amava na vida – jogar futebol.
Mas centrando no assunto que leva à analise deste longa: a indicação ao Oscar de Melhor Canção por Simple Song #3. Digamos que se a Academia tivesse vergonha na cara, essa canção levaria o prêmio. É uma pérola em meio aos porcos. A composição clássica refinada tem um propósito importantíssimo dentro do longa. É ela quem evoca sua linda mensagem. Sorrentino aborda a música diversas vezes pelo diálogo insistente do emissário da rainha ou por outros personagens. Tão pouco, começamos a ficar curiosos sobre a qualidade da canção. Eu, particularmente, não havia escutado ela antes do filme, então, quando ela surge em toda sua onipotência e graciosidade, seu poder fílmico foi ampliado dez mil vezes.
Analisando seu uso dentro do filme, não há como negar esse trabalho espetacular de Sorrentino. Eu prefiro não revelar nada para favorecer a sua experiência ao admirar majestoso trabalho. Digamos que a catarse em Juventude não vem com louros, mas sim em um tom agridoce. É rico, é complexo, é simples, é humano e é encantador. Não só a canção é poderosa, mas toda a trilha musical que aborda até mesmo composições modais com David Lang.
Juventude é um filme muitos anos à frente de seu tempo. O que Sorrentino fez aqui é algo absolutamente estonteante. Nos apaixona pela simplicidade e pela capacidade em transmitir tantas ponderações justas e simples sobre a terceira idade com personagens maravilhosos. Mesmo tendo comentado pouco, as atuações são impecáveis dentro do elenco inteiro com destaque para o trio principal Michael Caine, Harvey Keitel e Paul Dano. Não tenha preguiça em conferir essa obra fantástica. Um filme completamente underrated que eu tive o prazer de assistir sem a menor pretensão e me surpreender com extremo gosto. Quem sabe, quando eu estiver mais velho, e essa obra ter atingido o patamar artístico que merece, eu retorne para proporcionar outra avaliação. Tudo me indica que Juventude é como um bom vinho. Uma experiência que se aprimora com a idade conforme a inevitável ação do tempo sobre nós mesmos.
Juventude (Youth, Itália, França, Reino Unido, Suiça, 2015)
Direção: Paolo Sorrentino
Roteiro: Paolo Sorrentino
Elenco: Michael Caine, Harvey Keitel, Paul Dano, Rachel Weisz, Jane Fonda, Nate Dern, Alex Beckett, Mark Gessner, Tom Lipinski, Chloe Pirrie.
Duração: 122 minutos.
Crítica | Mogli: O Menino Lobo 2
Até mesmo a lendária Disney já passou por maus lençóis. Com fim de seu primeiro renascimento, período que envolve lançamentos de 1989 a 2000, os estúdios em Burbank passaram pelo Inferno. Trocas de CEOs, mortes de diretores gerais, inúmeras brigas entre times criativos e completa falta de direcionamento comercial. Enquanto o seu renascimento morria, a Disney caminhava para terras cada vez menos férteis. Cheia de dúvidas em relação ao novo milênio e apavorada com os filmes tridimensionais da Pixar e da Dreamworks, essa era foi marcada pelos primeiros experimentos com animação em 3D, poucos lançamentos de relevância e muitas sequências medíocres de seus diversos clássicos.
Nessa onda originada por O Retorno de Jafar, sequência de Aladdin, tivemos uma infinidade de longas razoáveis como Mulan II, O Corcunda de Notre-Dame 2, 101 Dálmatas 2, A Dama e o Vagabundo 2, Tarzan 2, O Rei Leão 2, entre outros. Na maioria das vezes, esses filmes já eram lançados diretamente em home vídeo, VHS ou DVD, para baratear custos de distribuição e exibição. Porém, um deles em particular chegou aos cinemas – oportunidade que eu pude presenciar em 2003 com Mogli – O Menino Lobo 2. Mesmo com nove anos, na época, já não tinha gostado muito. Treze anos depois, a situação desse filme não melhorou em nada.
O filme se passa poucas semanas após os eventos do primeiro filme. Agora vivendo na vila dos homens, enfim, Mogli tenta se adaptar no convívio em uma sociedade com regras e trabalhos, mas também com espaço para a diversão. Porém, ainda há uma grande saudade pelas aventuras na selva com seus amigos Balu e Baguera. Já no meio da natureza, Balu arquiteta um plano para tirar o garoto de dentro da vila. Porém esse reencontro pode colocar a vida de Mogli em risco, já que Shere Khan está ainda mais obstinado em matá-lo.
O roteiro de Karl Geurs sofreu diversas alterações ao longo desta problemática produção. Nada menos que cinco pessoas alteraram ou incluíram algum material novo na já raquítica história. A começar, Geurs tenta conferir mais camadas à Mogli trazendo um conflito cliché sobre a dificuldade de adaptação – ainda que seja interessante o jogo de sair da floresta, mas a floresta não sair dele. Igualmente, a relação com seus pais adotivos é tão pouco inspirada quanto. Até os diálogos conseguem ser clichês neste núcleo narrativo.
Um dos principais problemas residem na construção e, também, desconstrução dos personagens tão bem trabalhados no filme de 1967. Com a oportunidade de criar coisas interessantes com Mogli, Geurs mais se esforça em conferir características ruins no personagem como malícia, inconsequência, rebeldia, egoísmo e narcisismo. Não haveria problema nenhum em tirar a pureza do garoto vinda do filme anterior para mostrar o choque cultura que ele sofre com os homens, fazê-lo, durante a jornada, aprender com seus erros e se redimir no final – afinal trata-se de um filme infantil. Porém nada disso acontece.
O roteirista se esforça em criar conflitos e mais conflitos sem nem ao menos tentar resolvê-los. Isso é nítido quando Balu conta para os outros animais como Mogli descreve Shanti e a vila dos homens. Transtornado com as próprias palavras, ele vai embora, emburrado. Também conectando com outro ponto dito por Mogli, Balu encontra o garoto com Shanti e Ranjan na floresta. Nisso ele assusta as crianças causando outra explosão de ira no protagonista. Não satisfeito em não desenvolver nada disso, no mesmo momento, Geurs já direciona Mogli a ir atrás de Shanti que havia fugido. Nisso, ao encontrar sua amiga aterrorizada, ele descobre que Shere Khan está a sua espera para então direcionar o clímax do longa.
Cinco novos conflitos sucessivos em menos de sete minutos. Não é pressa em terminar o filme. Se trata de algo mais grave: escrita preguiçosa. Voltando ao início do filme, Geurs pouco explora a dinâmica familiar ou o deslocamento de Mogli dentro de uma sociedade. Em um dos novos números musicais, The Jungle Rythm, faz com que o protagonista se comporte como uma espécie de flautista de Hamelin ao atrair diversas crianças da vila, com um “encanto” provocado pela canção, para a floresta e seus perigos. Ainda que tenha a justificativa da inocência da infância, Mogli é sempre instruído a não voltar para a floresta e como seu conflito é mais individual do que coletivo com as outras crianças, esse subtexto torna-se demasiadamente sinistro.
Nessa passagem, há também um pouco das raras cenas destinadas a exibir outro fator que deveria ser um trunfo do filme: a relação de Mogli com Shanti. Mais uma vez, Geurs erra por não estabelecer as coisas direito ou até mesmo a motivação. Shanti é uma garota sempre muito responsável, leal e racional enquanto Mogli age mais, digamos, de modo imaturo, mas nunca é apresentado ou sugerido seu contraponto “selvagem”. A amizade dos dois se limita a algumas brincadeiras inocentes e outras maldosas sempre explorando os seus contrastes – algo interessante, mas também apresentado com rapidez. Ao longo do filme nunca sentimos um nascimento de amizade ou até mesmo de paixão – falha de direção inclusive.
Nesse trio humano há o irmão adotivo de Mogli, Ranjan. O garoto é deveras irritante já que também não há o menor desenvolvimento e seu uso é gratuito com as constantes imitações de animais, principalmente de tigres, que ele faz ao longo do filme – uma atração pelo selvagem muito torpe apenas para sugerir uma conexão com Mogli.
Já com os outros personagens clássicos, o roteirista consegue se atrapalhar mais. Com Balu, ele destrói o discurso de responsabilidade construído no primeiro filme. Os vínculos com Mogli são apenas repetições do que já vimos. Baguera mal aparece, o Coronel Hathi, igualmente – há uma sugestão de temor por parte dos animais pelos homens, mas nada explorado. Shere Khan é irrelevante servindo apenas para o clímax ter algum proposito. Já Kaa tem a participação mais deplorável do longa servindo apenas como um escape de comédia pastelona preguiçosa – pior, acaba mentindo a Shere Khan quando não havia a menor motivação para tal. Até mesmo os abutres aparecem novamente contando com um novo personagem, Lucky, também um alívio cômico que se baseia em péssimos trocadilhos e motivação estúpida.
Nesses usos rasteiros de personagens consagrados, o diretor Steve Trenbirth tenta apostar muito pela nostalgia, mas é tudo falho. De começo o uso da música é sempre muito espalhafatoso jogando fora todo o ritmo singelo e coerente de George Bruns. Nem ao menos para usar os temas clássicos. Apenas Bare Necesseties é reutilizada com uma coreografia muito similar e nada inventiva agregando apenas a comédia slapstick com Kaa. Os outros números musicais são tão básicos, sem graça, com canções que não emplacam no universo de Mogli. Inclusive, Wild é considerada uma das piores canções que o estúdio já produziu para um longa animado em sua história.
Enquanto Trenbirth não sabe utilizar bem os personagens e muito menos as canções, ele orienta a equipe de animação da melhor forma possível. Aproveitando todo o salto tecnológico de 1967 até 2003, o diretor usa e abusa da mobilidade da câmera já limitada em um filme de animação tradicional. Zooms, panorâmicas, cortes certeiros, raccords visuais, toda sua decupagem é bem pensada para que o filme seja fluido e muito orgânico, algo que de fato ele é. Assistir a Mogli 2 é uma tarefa simples e rápida, não chega a entediar ou irritar.
Além disso, há um ótimo uso da iluminação para efeitos dramáticos. Nada fora do convencional, mas é legal observar esse cuidado por parte dos animadores e da direção. Com Shere Khan, há uso de penumbras, luzes incidentais inferiores a sua face para conferir temor e grandeza à sua figura aterrorizante. O fogo interage com o cenário conforme as personagens andam com suas tochas ardentes. Os números musicais recebem show de iluminação de holofotes a la peças daBroadway. Fora o uso mais cuidadoso para modelar onde a luz reflete nos personagens, os conferindo volume. E também ao deixar o cenário bem mais encorpado.
Também é relevante destacar que esse longa tem um elenco com grandes artistas que fizeram jus aos atores originais que dublaram os mesmos personagens em 1967. Destaque para John Goodman dublando Balu e Haley Joel Osment conferindo bastante emoção ao seu Mogli.
Tirando alguns poucos elementos técnicos que realmente deram certo e de ideias interessantes mal aproveitadas pelo roteiro, Mogli – O Menino Lobo 2 é um filme vazio e redundante. Os personagens não conseguem evoluir o quanto deveriam, sua mensagem se perde em meio a um texto tão pobre, a inserção de diversos amigos do filme anterior também não ajuda com sua gratuidade e de pouca relevância narrativa. O rol de novos personagens não cativa, Shanti é desperdiçada, a relação de Mogli com a sociedade é abandonada rapidamente, as canções são feitas com pouca inspiração, além da trilha pecar por abandonar o Jazz. Apostar somente na nostalgia é um fator preguiçoso para uma obra que poderia ser algo mais inteligente caso fosse concebida em outra era dos estúdios Disney. Um legado enorme que foi retomado sem muita vontade, cerimônia ou criatividade.
Crítica | Ave, César!
Sem a menor dúvida, os irmãos Coen são marcos cravados já na História do Cinema. Também originados da onda indie dos anos 1990, os Coen são uns dos poucos a conseguirem moldar a indústria a seu favor – um feito originalmente inaugurado por Woody Allen. Formando seu nicho fiel de público, os dois deitam e rolam em Hollywood. Tem a carta branca para fazerem seus filmes de baixo custo que sempre atraem os olhos de estúdios ávidos por filmes que terão alguma chance nas principais premiações da sétima arte.
Afastados das telas e da comédia desde Inside Llewyn Davis, os Coen retornam com uma proposta metalinguística ácida que caçoa e “homenageia” o fim do studio system e suas figuras excêntricas já no fim dos anos 1940, começo dos 1950. Ave César está para o cinema assim como A Era do Rádio foi, obviamente, para o rádio, porém aproveitando de sua estrutura para enterrar a fé e os dogmas que os Homens tomam para si com religiões, tabloides e, principalmente, ideologias e as inúmeras hipocrisias de seus praticantes.
A proposta é extremente simples, aliás o filme inteiro é, acompanhar apenas um dia na vida do produtor “faz tudo”, Eddie Manix, católico inveterado e pecador assumido enquanto resolve diversos causos das diversas produções do estúdio Capitol – a.k.a. MGM. Além de lidar com muitos egos, consultas criativas, aprovar os dailies, acompanhar as produções de perto, Mannix é pego de surpresa quando o super astro Baird Whitlock é subitamente sequestrado em meio as filmagens finais do blockbuster do ano, o épico Ave César. Nisso, acompanhamos as idas e vindas do protagonista ao tentar resgatar seu ator principal e concluir a produção.
Para apreciar de fato a totalidade do texto auspicioso dos irmãos Coen aqui é preciso conhecer bem a história de Hollywood e seus diversos artistas daquele momento. Desde diretores, atores e até montadores. Caso não tenha certa bagagem, afirmo com absoluta certeza que o filme não será nem um pouco atraente para o espectador desavisado. As piadas não envolvem temas alheios a isso. Tudo é incorporado dentro da sátira sagaz dessas personalidades, das funções de cada carreira envolvida com produção de filmes, além de possuir um escopo político e religioso extremamente cínico.
A começar, centrado nesse curtíssimo espaço de tempo, a narrativa não pertence somente ao ponto de vista do protagonista. Os Coen constroem seu filme explorando diversos personagens em curtas passagens sendo algumas delas esquetes cômicas assumidas como a filmagem de um melodrama de Laurence Lorentz sendo forçado a lidar com um ator caipira acostumado com westerns leves, Hobie Doyle. Ou seja, também é um filme que foge dos padrões ao desenvolver sua história nesta aparente narrativa fragmentada, muito embora eu tenha interpretado como rapsódias originárias da agenda lotada de Mannix.
Apesar dessa narrativa que explora uma quantidade expressiva de personagens, os Coen se dedicam de fato com dois arcos que guiam o filme inteiro: o do protagonista e o de Baird Whitlock. A tirada política repleta de ironias e inocência útil vem com Whitlock e seus sequestradores que se denominam como O Futuro. Infelizmente, para explorar a perspicácia que os Coen têm aqui, eu teria que revelar um ponto intrigante da narrativa. O que posso dizer é que se trata de uma provocação bem fundamentada que termina em um desfecho muito imprevisível e memorável.
Já com Mannix, apesar do escopo enorme, trata-se de um drama do homem comum imbuído de significados belos. Cansado da vida de produtor faz tudo e abafador de causos das estrelas histéricas, ele fica em dúvida se deve aceitar uma proposta de emprego onde trabalharia menos, ganharia mais e teria mais tempo para aproveitar sua família, mas fazendo um serviço nada ético. Os momentos de dúvida se dão através das confissões de Mannix para com o padre da igreja de seu bairro, porém os Coen não poupam ninguém, como de costume. Durante as confissões, ele somente apresenta pecados menores como um cigarro escondido do olhar preocupado da esposa ou uma surra dada em um artista.
Há certa hipocrisia do protagonista aqui por conta de nunca confessar os verdadeiros crimes espirituais: encobrir os pecados de seus empregados, figuras públicas, a fim de não manchar a reputação do estúdio, além de fazer concessões nada corretas com figuras de papéis importantes na ordem social. Aliás, nessa via de bom cristão de Mannix, os Coen conseguem tecer mais outra crítica à religião em uma cena impagável onde quatro representantes de igrejas distintas discutem entre si.
A partir desses episódios paralelos, eles abordam diversos gêneros do cinema como musicais, westerns, melodramas e épicos religiosos. As referências são tão nítidas que é possível depreender de quais filmes se tratam. Não só os filmes, mas também a grande maioria de seus personagens encarnados por um elenco estelar.
Praticamente todos são representações de figuras que participaram daquele período em Hollywood. O próprio Eddie Mannix, retratado por um Josh Brolin muito inspirado, representa um produtor de longa data da MGM, E. J. Mannix. A personagem de Scarlett Johansson, DeeAnna Moran, é a atriz especializada em musicais aquáticos Esther Williams misturada em um drama vindo da vida de Loretta Young. Baird Whitlock de George Clooney, bem caricato e canastrão, é uma mistura de Robert Taylor com Charton Heston, ambos atores envolvidos em épicos religiosos como Quo Vadis e Ben-Hur. O sapateador vivido por CHanning Tatum é inspirado em Genne Kelly. As irmãs jornalistas de tabloides encarnadas por Tilda Swinton nada mais são que representações de Hedda Hopper.
Personalidades como Howard Keel, Carmen Miranda, o diretor Vincente Minnelli, roteiristas parceiros de Trumbo e a montadora Margaret Booth também são encarnadas com muita competência por Alden Ehrenreich, Rakph Fiennes e Frances McDormand. Aliás essa cena inspirada em Minnell, sua pompa e métodos de direção é espetacular pela insistência em uma frase que se revela um verdadeiro paradoxo na boca de Hobie Doyle. Ver o elenco claramente se divertir ao representar figuras tão polêmicas é algo verdadeiramente particular de Ave César.
Ainda trabalhando com essa vertente de quebra de máscaras para escancarar a hipocrisia de seus personagens, os Coen sempre conseguem demarcar bem os contrastes entre as atuações metalinguísticas com a verdadeira face dessas personagens, egoístas, estúpidas, mentirosas, invejosas, manipuladas até mesmo quando acreditam que estão manipulando. Personagens transformadas nos próprios produtos estereotipados, ridículos e caricatos que encarnam nas produções fictícias dentro da narrativa do longa. Como sempre, os Coen provam mais uma vez que são escritores geniais, pois a verdadeira genialidade reside, creio, em tornar o complexo em algo simples. Tudo isso acompanhado de uma verborragia impecável apresentada pelos diálogos refinados.
Como de costume, os Coen não são apenas escritores exímios, mas também diretores excelentes – embora eu considere sua escrita mais inspirada que a técnica da direção. Em Ave César, os dois parecem ainda mais inspirados. Isso se dá inclusive pela excelente metalinguagem de trabalhar o cinema com o cinema, ainda mais um tão característico como o dos anos 1950. Algum clima noir é sugerido pela narração over onisciente, mas o gênero não é relevante para o resto da fita. Nos enquadramentos, muitas vezes buscam pela sua centralidade trabalhando até mesmo a partir de uma ordem de filmagem simples resolvendo cenas com poucos planos.
Com isso, eles exploram um ótimo exercício de ponto de vista. Em diversos segmentos do filme acabamos assistindo um trecho de filme dentro dele mesmo. Não se limitando a esse olhar multiplicado, em uma cena em particular, os diretores formam quase toda a decupagem a partir do ponto de vista dos sequestradores.
Também a fim de frisar piadas, características já autorais marcam presença através de efeitos sonoros humorados ou quebras de atmosfera a partir do uso inteligente da comédia slapstick. Ou até mesmo pontuadas por uma repetição vinda pelos diálogos. Os Coen ainda trabalham bem a sugestão de metáforas ou em oferecer informações relevantes vindas através de seus cenários como o contraste da casa ornamentada dos sequestradores com a morada singela de Mannix.
Outro ponto relevante a se comentar são as ótimas coreografias dos dois números musicais que revelam uma vertente inédita do compositor Carter Burwell. Uma delas, impagável, sugere diversas conotações homossexuais entre marinheiros. Aliás, toda a trilha musical é muitíssima bem pensada repleta de melodias angelicais, poderosos hinos soviéticos e tons repletos de mistério inspirado em composições sofridas vindas de suspenses hitchcokianos – inúmeras referências também ao trabalho do mestre diretor. A edição de som também se destaca no número musical de Tatum.
Saindo de projetos complicados como Skyfall e Sicario, Roger Deakins esbanja talento em esquemas mais simples de iluminação. Aproveitando a diegese de 1950, o fotógrafo volta, enfim, a filmar abandonando um pouco sua predileção por câmeras digitais. O tratamento da luz busca o naturalismo, mais suave e difuso, quando o filme não retrata outra produção. Porém o melhor de sua fotografia acontece justamente na reconstrução do tão belo jogo de iluminação de três pontos repleto de altas luzes duras, pontuais que não tem vergonha de suas sombras declaradas ou de seus cenários totalmente iluminados típicos da Era de Ouro hollywoodiana. O grão presente é sofisticado a ponto de ser pouco notado. Por vezes, há o óbvio flerte com a cinematografia noir, mas de vertente muito delicada – um resultado belíssimo destinado à cena com Jonah Hill.
Como os Coen assumem todo o aparato cinematográfico em cenas dedicadas aos bastidores, é um deleite para o espectador ver como Deakins pensa na posição de seus fresneis e brutes encaixados em barracudas anexadas aos cenários. A cor também acompanha os gostos da época, bem saturada puxada para tons mornos. Porém não é apenas Deakins quem brilha aqui. O design de produção desse filme é maravilhoso trazendo vida à elementos que não costumamos ver em longas de época: aparatos cinematográficos. Nisso, temos os já citados fresneis, mas também câmeras Mitchell gigantescas, chassis blimpados, microfones, dollys, gruas, moviolas, megafones, cadeiras, objetivas, salas de projeção, luminárias, venezianas, entre diversos outros elementos pertencentes à produção cinematográfica daquela época.
Ave César é uma aula de História do Cinema com suas referências a diversos artistas envolvidos com a criação de filmes no fim da Era de Ouro hollywoodiana. Somos presenteados com a cinematografia absurda de Deakins que simula com perfeição as luzes rudes de 1940/50 assim como explora as tendências naturalistas que ele tanto gosta. Porém, muito além disso, Ave César funciona como filme por si só para àqueles que procuram uma boa comédia que tange elementos polêmicos de política, religião e bons costumes – elementos vindos de filmes como Fargo e Um Homem Sério. A jornada de Mannix e Whitlock é muito significativa apresentando algo a mais do que uma simples história, mas sim a transformação completa da justificativa de não apenas de sua existência, mas a afirmação das fábricas de sonhos e ilusões dessa arte chamada Cinema. É preciso somente um pouco de fé, mesmo quando ela falhe em aparecer na tomada definitiva.
Crítica | O Caçador e a Rainha do Gelo
Não passa nem ao menos um mês que logo outra adaptação de “releitura” de contos de fadas surge nos cinemas. Semana passada, apontei como Mogli era outra obra pertencente a esse nicho do studio system da Disney. Entretanto, O Caçador e a Rainha de Gelo não é um filme da Disney, mas sim da Universal, prequel e sequência direta do insosso Branca de Neve e o Caçador, filme de 2012 mais lembrado por polêmicas de fidelidade amorosa do que por seus próprios méritos.
A sinopse desse filme é algo complicado. O primeiro ato do longa se define como prequelexplicitado pela incessante e mal utilizada narração em voz over a fim de conferir aquele ar de contos de fadas – até os 40 minutos do filme, o narrador se faz presente. Logo entendemos que Ravenna tinha uma irmã chamada Freya, porém, após uma catástrofe na vida pessoal da jovem moça, Freya, tomada por ódio, se transforma na Rainha de Gelo – simples assim, fique com muita raiva e desperte o mutante que há dentro de você. Com aversão à irmã, ela foge para o Norte onde estabelece seu próprio reinado independente e totalitário sequestrando crianças e as treinando para virarem sua própria tropa pessoal de “Caçadores”. Nisso, entendemos a origem do Caçador e de seu interesse romântico, Sara. Então se passam sete anos, após os eventos do filme anterior. O espelho mágico de Branca de Neve foi roubado. Acreditando que há um grande mal o envolvendo, o Caçador parte com alguns anões para reaver o artefato, porém ele terá que enfrentar a ira de Freya e do retorno de uma grande inimiga.
Convenhamos, bater em um filme desses é uma tarefa fácil. Não há desafio, não há segredos, não há sutilidades em um texto tão descartável e enlatado como esse escrito por Craig Mazin e Evan Spiliotopoulos. Novamente, uma obra que você já viu milhares de vezes antes em tantos outros filmes que podem ou não compartilhar a mesma temática. O que temos é uma verdadeira mistura de Game of Thrones, Harry Potter, Frozen, Alice no País das Maravilhas, Senhor dos Anéis e Homem-Aranha 2 – obviamente se trata de uma cópia de péssima qualidade de arquétipos já explorados nesses filmes.
A iniciar, o longa é trágico em conferir qualquer apelo emocional em seus personagens. Porém, pasmem, há conflitos relevantes ali, porém as soluções são tão rasteiras ou pouco críveis que é difícil perdoar. Isso afeta principalmente Freya, personagem que tem um arco muito interessante graças à tragédia que desperta seu poder congelante. Assim entram traumas e as buscas, inconscientes ou não, para tentar “solucioná-las” que por sua vez acabam criando mais traumas e conflitos ridículos. Há uma descrença e repulsa ao amor e afeto humano que parte dessa nova antagonista, mas nada é de fato bem explorado ou contestado com firmeza por outro personagem. Aliás, os lados antagônicos entre Freya vs. Eric, o caçador, e Sara surge exatamente por conta dessa proibição do amor em seu reinado. É piegas, diversos outros filmes já batalharam em nome do “amor”, além de não adicionar nada de novo a este clichê já tão consolidado.
Aliás, o festival de clichês não termina aqui. Esse longa possui incontáveis. Temos amuletos de amores passados, um conflito amoroso cheio de progesterona vs testosterona, alguns deus ex machina de mulher salva homem, artefato envolto por maldade que atrai e corrompe pessoas fascinadas, alívios cômicos toscos, casais forçados, amores proibidos, revelações rápidas dos talentos marciais dos protagonistas, namoros noturnos, motivação da vilã baseada na extinção do amor, etc. Pior é admitir que Freya, mesmo sendo essa Elsa do mal, tinha grande potencial de conflito graças a essa abordagem sombria e adulta que a franquia recebe.
O mínimo a se esperar era um trabalho decente com o protagonista, já que Branca de Neve está longe dos holofotes – ela é mencionada apenas, mas novamente, a dupla torpe aposta no medíocre e acerta no péssimo. A transformação que Eric passa em sua jornada é banal tendo mais a ver com a reconciliação de um amor do passado. Não há um escopo satisfatório em seubackstory, na relação com Freya e até mesmo com Sara, apesar dos esforços dos roteiristas com em tornar o amor dos dois algo crível. Com Sara temos os mesmos problemas, mas com a desvantagem de contar com menos tempo em tela. Se torna tão banal quanto. Os anões servem para pouco ou nada.
Os diálogos também não ajudam por serem tão histéricos e caricatos chegando ao cúmulo do ridículo – pelas tantas, como se já não estivesse claro, Freya grita que é proibido amar em seu reino. Aliás, esta é uma grande mania que o texto possui: ser autoexplicativo. Ele reitera os fatos do filme anterior, reitera fatos do próprio filme e descreve as ações já vistas em tela – claro que tudo isso feito pela tosca narração over. Como sempre, há as frases de efeito péssimas que nem ao menos são variadas: sempre há um I never miss em cenas com Sara.
Mas nem tudo é catástrofe, pois os cidadãos conseguem escrever coisas horrendas que se provam boas depois de desenvolvidas. Isso tange ao espelho. Com essa nova característica de entidade malévola, o filme quase exime a responsabilidade dos atos insanos de Ravenna no passado. Porém, isso tudo é bem resolvido resultando em um ótimo caso de “as aparências enganam”, além de tornar crível o retorno de certa personagem. Também é boa a ideia tateada com o sequestro das crianças por Freya e sobre seu significado, mas a condução é péssima. É engraçado notar como eles pensam nas pausas destinadas ao desenvolvimento de seus personagens, mas que sempre ficam restritas à mediocridade vide a total falta de talento e esforço em criar uma história, de fato, boa.
No clímax, as coisas pioram ainda mais com o ressurgimento de Ravenna. Restando poucos minutos de projeção, os dois tem a coragem de adicionar mais um conflito (clichê) em potencial a respeito da manipulação que Freya sofre com a bruxa má. O plano do Caçador para resolver toda a situação é estúpido (reconhecido pelo próprio roteiro), a resolução é previsível além de contar com uma reviravolta tão pouco sutil quanto.
Resumindo, o texto de O Caçador e a Rainha do Gelo é o que há de pior nesta produção, mas algumas outras áreas tentam disputar o prêmio também. A começar temos o desconhecido Cedric Nicolas-Troyan na direção que pertencia a Rupert Sanders no primeiro filme – após os causos com Kristen Stewart, foi um consenso da produção afastá-lo da franquia.
Troyan é um diretor estreante, mas que já trabalhou em outras produções como supervisor sênior de efeitos de computação gráfica. Logo não há um desastre completo, apenas besteiras de um diretor sem firmeza ante um produtor lunático que subestima seus espectadores. O trabalho dele é bem medíocre sem dúvidas, porém há cuidado em diversas composições e movimentos de câmera. Ou seja, foi pensado antes de apertar o botão de gravar.
Ele respeita muito o trabalho de Sanders deixando a concepção visual quase intocada, mas isso vem mais do trabalho excepcional do cinematografista Phedon Papamichael, do design de produção de Dominic Watkins e dos figurinos absolutamente magníficos de Colleen Atwood – caminhando seguramente para outra indicação ao Oscar graças aos vestidos diversos e delicados que ela apresenta ao longo do filme.
O fotógrafo ainda mantém os tons monocromáticos de outrora, tudo cinzento, reprimido e morto. Boa parte por conta dos contrastes clássicos do preto e branco, porém Troyan quebram essa chatice monocromática ao longo do filme em diversas oportunidades dando mais variação ao trabalho de Papamichael que trabalha tanto com luz dura ou soft, iluminação barroca e naturalista, cores dessaturadas com o reino de Freya e tons pulsantes cheios de vida nas cenas dedicadas ao florescimento do amor dos protagonistas. É um uso óbvio de iluminação e cor, porém como se trata de Papamichael, o resultado nada mais é do que espetacular.
Voltando a Troyan, ele aposta bastante em diversas elipses via raccords visuais. Uma técnica bem audaciosa com certeza, porém a maioria não funciona resultando em algo plasticamente feio – com exceção dos bons time lapses. Sua encenação quase nunca foge do básico e por muitas vezes também é clichê, a ação empolga pouco, um tanto medíocre e por vezes parada. Algumas ideias como um jogo de “gladiadores” até são interessantes, mas logo são podadas pelo prosseguimento do filme. Porém, outras, como uma visão a la Sherlock Holmes merecem a lata do lixo. Fora a insistência com o uso jogado de flashbacks sendo apenas dois relevantes para o espectador.
Não falhando somente à técnica, Troyan é péssimo com os atores. Hemsworth está no automático pensando apenas no dez milhões de dólares que lucrou aqui fazendo os tipos clássicos de seu Thor. Chastain se diverte, um pouco, mas logo ela desiste de levar o filme a sério entregando uma performance aceitável. Emily Blunt consegue criar bem Freya expressando bem a dor da personagem e suas neuroses, mas ao decorrer do filme, assim como Chastain, acaba em uma atuação tão gélida quanto sua personagem.
Já o retorno também milionário de Charlize Theron é o ponto alto para acordar um pouco o espectador. Como o público parece ter gostado bastante de sua última performance, Theron aposta nas mesmas fichas, ou seja, na atuação caricata ao encarnar Ravenna. Porém, mesmo eu achando tudo muito histérico e tosco, é inegável que ela dá nova vida ao filme. Preenche a tela, envolve bastante com suas risadas malignas, poses de diva e caretas vilanescas. Algo bizarro que chega a ser paradoxal de tão ruim que se torna tão bom. Ela poderia entregar uma ótima Rita Repulsa nesse novo Power Rangers.
O Caçador e a Rainha do Gelo é mais um desses filmes para preencher cota de lançamentos dos filmes de verão, mas isso não é justificativa para o resultado ser tão genérico e preguiçoso mesmo apresentando conceitos interessantes tanto no roteiro quanto na direção. O elenco nada inspirado falha em cativar, mas o apuro estético das áreas técnicas é exemplar. Toda a preguiça de outros setores foi compensada pelo esforço dos departamentos artísticos que só apresentam coisas belas e adequadas àquela diegese – repare no piso que forma um tabuleiro de xadrez no palácio de Freya. Uma pena imaginar que este é o primeiro e, por enquanto, único filme onde vemos algumas das maiores atrizes da atualidade contracenar juntas de modo tão frio, desprovido de paixão.