*Este filme foi visto na 41ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo
Poucas coisas representam tão bem a Europa tradicional quanto uma família burguesa. Depois de anos sob o forte jugo do clero e da aristocracia, o continente, no período nomeado pelos historiadores de contemporaneidade, foi o território de intensas transformações culturais, políticas, sociais e econômicas, as quais trouxeram um novo panorama, constituído, principalmente, pelo exercício de poder de uma burguesia recém-formada. Esta, embora ciente do seu papel majoritariamente mercantil, também herdou dos moribundos aristocratas a obrigação de ser guardiã do patrimônio artístico do Ocidente. No entanto, como a História nada mais é do que um eterno ciclo de repetições, era questão de tempo até que essa realidade histórica tivesse o seu fim. Pois bem, ele chegou e foi solenemente captado pelas lentes de Michael Haneke no tragicômico Happy End.
Roteirizado pelo próprio diretor, o filme se concentra nas idas e vindas de uma família patriarcal formada por Georges Laurent (Jean-Louis Trintignant), um viúvo desgostoso com a vida, os seus filhos Thomas (Mathieu Kassovitz) e Anne (Isabelle Huppert) – o primeiro é um médico infiel e a segunda, dona de uma empresa sob litígio – e os netos Eve (Fantine Harduin) e Pierre (Franz Rogowski), filhos de Thomas e Anne, respectivamente. Enquanto cada um lida com os próprios problemas, ao fundo se desenrola a crise dos refugiados.
Acostumado ao tema da decadência (basta nos lembrarmos do excelente Amor para confirmar essa afirmação), Haneke parece ter um estilo feito sob medida para o assunto. Rotineiramente interessado nas consequências em vez das situações que as originaram (Caché, por exemplo, mostra os desdobramentos de um evento ocorrido anos antes do filme começar), o cineasta, além de nutrir uma certa fixação por elementos degradantes da condição humana, gosta de compor planos longuíssimos em que a enervante espera por um acontecimento sempre anuncia uma espécie de reação violenta, como se a diminuição da expectativa fosse, ao mesmo tempo, um aviso.
Nesse sentido, Happy End é um material perfeitamente adaptável ao seu estilo, pois, ao passo que todos os familiares tentam encontrar maneiras de superar as adversidades e, assim, preservar a saúde física e psicológica, a câmera do diretor assiste a tudo friamente e à distância, muitas vezes fazendo com que o público não seja capaz de ver exatamente o que está acontecendo. Isso faz com que se estabeleça uma dinâmica constituída de atividade e passividade, em que esta é caracterizada pelo conteúdo transmitido através da linguagem cinematográfica e aquela, pelos esforços dos personagens em busca de uma salvação.
Aliás, é nesse jogo de cartas marcadas que reside a “maldade” de Haneke – uma vez que é justamente a lógica visual empregada pelo cineasta que denuncia a inutilidade de todos esses esforços -, mas também o coração do longa, visto que são precisamente desses esforços que surgem os sentimentos de empatia no espectador. Talvez, uma imagem que resuma perfeitamente essa sensação seja a de seres lutando para escapar de uma caixa em que todas as possíveis saídas foram lacradas.
Contudo, para entender essa desassociação entre imagem e narrativa é importante ressaltar que há duas camadas interpretativas em Happy End. Uma diz respeito ao caráter humano e pessoal, ou seja, está focada nos dramas individuais. Nesta, é possível dizer que a redenção ainda é um caminho possível de ser trilhado pelos personagens e a câmera os acompanha como uma simples observadora. A outra está relacionada com a alegoria sobre as transformações históricas pelas quais a Europa está passando. Sob esse viés, não há solução e os planos estáticos, longos e distantes retratam exatamente isso.
Tendo Georges como um símbolo do Velho Continente, essa metaforização usa a trajetória do personagem e a sua constante busca pela morte para ilustrar os instantes derradeiros de toda uma civilização. A própria corrupção moral da família burguesa é algo que também caminha nessa direção. Thomas é um sujeito casado que troca mensagens sexuais com a amante, pouco se importando com as consequências que isso pode gerar na vida de sua filha; Anne está no meio de um complexo processo judicial; e Pierre, no alto de sua loucura disruptiva, não consegue superar as hipocrisias que vê serem cometidas no núcleo familiar.
Importante, esse diagnóstico serve como um comentário ácido sobre a sabotagem interna que levou a Europa tradicional a buscar persistentemente a sua destruição. Todavia, há os fatores externos que, sendo forças imparáveis do destino ou acaso, impuseram a sua presença e modificaram o cenário definitivamente. Os dois principais são As novas gerações, nascidas e criadas em berços tecnológicos (propositalmente, a garota mais jovem da trama se chama Eve), e a imigração em massa. Não é à toa que há várias passagens em que acompanhamos imagens gravadas com celular, conversas realizadas através de redes sociais e imigrantes aparecendo em cena de vez em quando.
Não obstante, é preciso lembrar que Haneke não é um sujeito otimista, portanto, não faria sentido que ele visse na substituição da Europa antiga pela nova um acontecimento imediatamente positivo. Principalmente, na parte que concerne à tecnologia. Dessa maneira, é natural que a amante de Thomas, tão apaixonada no mundo virtual, surja pessoalmente imersa em sombras, e no diálogo presencial dos dois, a emoção vista na interação digital desapareça (um sinal de impotência emocional), ou que a inclusão tecnológica na memorável cena final esteja associada à indiferença humana (novamente, com uma atenção especial para Eve, que representa o novo continente e sofre de impulsos suicidas).
Deste modo, a expressão “final feliz” contida no título é tanto um comentário irônico quanto um perturbador ponto de interrogação. Sim, não há um adeus alegre para o personagem de George nem para os outros, se adotarmos um ponto de vista alegórico, mas quem há de garantir que existe um para nós? Por que iríamos achar que a civilização ocidental se assentaria, após mais de dois mil anos de tentativas e fracassos? Ao que tudo indica – secularmente, ao menos -, estamos em um filme de Michael Haneke: esperaremos longamente até o momento em que, diminuída as expectativas, ocorrerá a violência final que justificará plenamente o pessimismo do diretor.
Happy End (Idem, França – 2017)
Direção: Michael Haneke
Roteiro: Michael Haneke
Elenco: Jean-Louis Trintignant, Isabelle Huppert, Mathieu Kassovitz, Fantine Harduin, Franz Rogowski, Toby Jones
Gênero: Drama, Comédia
Duração: 107 minutos

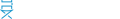



2 Comentários
Leave a Reply