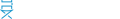Pense em um filme com grande potencial: uma obra que tem como pano de fundo disparidades raciais entre criaturas fantásticas e humanos, arquitetada sobre uma atmosfera moderna e que nos relembra das distopias futurísticas das vanguardas do século XX, além de resgatar elementos da ficção fantástica que tanto permeiam a imaginação humana. É claro que uma narrativa composta por tantos elementos destoantes entre si poderia encontrar grande sucesso, emergindo até mesmo como um novo sui generis para os blockbusters hollywoodianos, ou estar fadado ao fracasso iminente por sua clara pretensão. Bom, sinto informar que Bright, o mais novo original Netflix, infelizmente opta pela segunda opção.
A trama principal gira em torno de dois policiais de uma Los Angeles completamente repaginada e que traz à tona questões sociais de extrema importância até hoje, porém exploradas de forma indevida com diálogos autoexplicativos ou saturados de mensagens clichês. A comunidade élfica é detentora dos inúmeros privilégios por sua constante reafirmação de superioridade, subjugando os humanos para uma categoria ordinária e condenando a presença dos orcs, que representam os marginalizados dentro do escopo narrativo. E em meio a tantas lutas entre essas tribos – e que nos relembram dos conflitos do gueto de Miami do início dos anos 2000 -, a união entre dois policiais é encarada como inadmissível e condenável. O humano Daryl Ward (Will Smith) e o orc Nick Jakoby (Joel Edgerton) formam o conjunto mais estranho dentro da delegacia em que trabalham, e as coisas tomam um rumo ainda mais obscuro quando descobrimos em um breve prólogo que Jakoby é o responsável indireto do tiroteio que quase tirou a vida de Ward.
O primeiro ato funciona de forma perfeita: dentro de uma sociedade familiar, mas cujas regras tomam proporções muito diferentes das que estamos acostumadas, reserva-se o início do filme para apresentações necessárias. Além dos dois personagens, vemos o constante martírio do orc por sua condição física e até mesmo histórica – um “forasteiro” cuja história é conhecida por todos e que permite ao público se conectar com o personagem. Tudo é pincelado por uma fotografia essencialmente onírica, permeada por tons alaranjados e decadentes que conversam com o estado espiritual dos protagonistas durante boa parte da jornada.
As coisas mudam de forma drástica quando Ward e Jakoby são puxados de sua rotina, envolvida pela manutenção da paz entre os povos e pela constante subserviência aos elfos, quando em uma sequência bem construída, encontram um homem largado ao relento, empunhando uma espada enferrujada e dissertando sobre o retorno de certo Lorde das Sombras e como a magia da luz seria a única coisa capaz de destruí-lo. É claro que, levando em conta a descrença da dupla, eles encaram aquilo como um episódio de pura insanidade, mas essas falas na verdade profetizam a emergência de um poderoso e obscuro grupo élfico intitulado Inferni, cujo principal objetivo é permitir que as Trevas retomem controle do mundo.
E pronto, chegamos aos clichês. Como toda boa aventura sobrenatural, a jornada em que os protagonistas mergulham envolvem não a procura de um objeto místico, mas sim sua proteção. De quem, exatamente, descobrimos ao longo do segundo ato, o qual é marcado pelas clássicas cenas de “gato-e-rato”: sequências de perseguição com montagens abruptas e uma composição cênica que torna difícil compreender o que acontece. Os eventos tornam-se até mesmo cômicos depois de um tempo, visto que as rápidas e certeiras ações parecem terem sido arrancadas de outras obras como Profissão: Perigo. Tudo é tão bem coreografado que nos levamos a nos perguntar se estamos assistindo a um espetáculo de dança e movimentos acrobáticos ou a um filme de ação que definitivamente não preza pela verossimilhança.
Não é à toa que esse abismo tônico exista: David Ayer retorna na cadeira de direção, e parece trazer sua identidade de projetos anteriores mais uma vez, principalmente na composição imagética manchada por tons vívidos de dourado e laranja. Se em Esquadrão Suicida a falta de uma mão segura para acertar a narrativa e o tom do arco principal foi o principal deslize, ele parece cometer os mesmos equívocos aqui. Após o resgate da elfa Tikka (Lucy Fry), uma ex-Inferni que detém a varinha mágica capaz de libertar o Lorde das Trevas, toda a tensa atmosfera construída cai na mesmice e na monotonia, colocando os personagens em um constante looping de obstáculos que variam pouco, de uma gangue de humanos até uma gangue de trolls e culminando no enfrentamento de uma gangue de elfos. Não há desenvolvimento o suficiente para que a empatia existe – tanto que inúmeros sacrifícios são feitos, mas de forma descartável e apática.
Ainda que as cenas de luta sejam de exímia importância para uma narrativa como essas, elas são breves, impossíveis e engraçadas o suficiente para que a transparência de sensações seja inexistente. Em Atômica, longa protagonizado por Charlize Theron, os planos-sequências permitiram que tudo fluísse de forma incrivelmente prazerosa aos olhos do público; Ayer poderia ter optado pela mesma técnica para deixar essas sequências sensoriais, mesmo que não dotadas de um espaldar dialógico considerável, mas a preferência por uma edição picotada sufoca e incomoda.
E como se não bastasse, Noomi Rapace, encarnando a líder dos Inferni, Leilah, é a figura mais desperdiçada. Pelo trailer, achamos que seu papel será imprescindível para o retorno das forças das Trevas, mas ela é tão descartável quanto seus vassalos. Sua caracterização é digna de elogios, principalmente por conseguir mesclar referências das míticas criaturas – sua imponência e seus olhos magnéticos – com um vestuário que clama pelo clássico e pelo moderno ao mesmo tempo. Entretanto, Leilah é só ação, com duas ou três falas jogadas para lhe dar o mínimo de voz. Nem mesmo os tão aguardados monólogos vilanescos dão às caras aqui, deixando que sua primeira aparição seja tão “memorável” quanto sua premeditada ruína.
Edgerton é quem salva o filme. Sua presença de cena é ao mesmo tempo adorável, ingênua e corajosa, dando vida a um personagem que, ainda que seja bombardeado por maus-tratos e palavras de condenação – ele foi exilado do próprio clã por compactuar com os humanos -, ele mantém-se fiel aos seus princípios do início ao fim da narrativa, e ao mesmo tempo consegue criar um arco coming-of-age que adiciona complexidade em meio a tantas arquiteturas lineares. Isso sem falar em sua química com Smith que, para o melhor ou para o pior, traz grandes semelhanças com a franquia Os Bad Boys.
A resolução talvez seja o cúmulo da perdição cinematográfica dentro do longa. Não há confronto direto, mas sim uma amálgama de fortes luzes brancas que emergem de uma piscina com propriedades curativas e da varinha mágica. O enfrentamento de forças opostas é puramente reflexivo, em meio à fotografia estourada e à insistente câmera na mão, é apenas mais um modo de varrer para debaixo do tapete o potencial que poderia ser explorado.
Bright é mais um erro da Netflix para o final de ano. A história é redonda e compreensível em sua totalidade, mas são os outros aspectos que, unidos, transformam-se em uma bola de neve de equívocos enfadonhos e, para não perder a ironia, hilários.
Bright (Idem, EUA – 2017)
Direção: David Ayer
Roteiro: Max Landis
Elenco: Will Smith, Noomi Rapace, Lucy Fry, Joel Edgerton, Veronica Ngo, Jay Hernandez, Edgar Ramírez, Ike Barinholtz, Andrea Navedo
Gênero: Ação, Fantasia
Duração: 117 min
https://www.youtube.com/watch?v=Wd5XugFD-lc