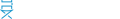Os jogos de ação normalmente optam por intercalar momentos de batalhas contra inimigos comuns em grande quantidade e combates contra chefes, decisivos e mais memoráveis. Assim como no excelente Titan Souls, de 2015, em Furi tudo se resume a lutar contra uma série de chefões. Entre uma batalha e outra, o jogado não pode fazer nada, senão caminhar lenta e vagarosamente entre as arenas. O que o torna notável e suportável além da ação é o universo construído e suas ambiências.
Começamos o jogo com o protagonista preso. O guarda, robusto, possui em sua cabeça giratória diversas máscaras de Oni. Sua multi-expressividade facial não dá, porém, lugar para uma personalidade diferente de um carcereiro violento. Logo ao iniciar, uma figura com uma grande cabeça de coelho roxo, à Donnie Darko, surge e liberta o personagem. “Mate o Carcereiro. Lute pela sua liberdade. O Carcereiro é a chave. Mate-o e será livre.”, ele afirma. Já o protagonista é mudo. Não fala nesta, nem em qualquer outra cena. A figura misteriosa some e, então, se segue em frente. Depois da cutscene, só se pode andar em frente e enfrentar seu oponente. E assim serão as próximas situações.
A câmera normalmente fixa, ou com movimentos muito sutis e vagarosos, acompanhando o andar do personagem, enquadra e direciona nossa percepção do mundo. Uma interface limpíssima. Até chegar à arena de batalha, tecnicamente, o jogador pode deixar todo o controle para o próprio jogo. Ao pressionar um botão, o personagem mexe-se automaticamente. Nenhuma outra função está disponível. Mas se quiser, o jogador também pode mexer o personagem “livremente” com o analógico. Mas note que sua velocidade não muda e não há outra linha para ser seguida nem nenhum canto a ser explorado. Os ambientes são decorados com o mínimo que se precisa para perceber e incorporar as sensações daquela fase. E a cada chefe derrotado, há uma mudança extrema da topografia, da vegetação, cores, construções etc. Nesse sentido, a produção é bem única.

O design dos personagens é muito familiar às do mangá/anime Afro Samurai. Não é à toa que o responsável é o mesmo. Takashi Okazaki, artista oriental que demonstra grande predileção pela estética norte-americana, especialmente em relação ao hip-hop e ao cinema blaxploitation, concebeu e deu identidade à Furi. A postura dos guerreiros é misturada com elementos tecnológicos avançados, com várias cores e tons muito saturados. Seja o personagem principal, samurai – parecido com o protagonista de Afro -, o cavaleiro robusto, a sniper, enfim, uma verdadeira plêiade de combatentes, todos os personagens que pipocam na tela são únicos e representam bem seus estereótipos.
Estereótipos, esses, que podem ser ligados diretamente com figuras populares tanto dos quadrinhos e animações como dos games. Destaque para o terceiro chefe, chamado The Line: um sábio e vetusto heremita que veste um headphone, braceletes, joelheiras e tornozeleiras coloridas e tem controle sobre o tempo. Sentado calmamente sobre uma pedra, possui a tranquilidade e a paciência de um guerreiro digno.
A extensa duração da batalha, a necessidade de estratégia e os temas que envolve recordam o icônico The End, de Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Assim como este, a concepção de outros chefes remete ao de personagens icônicos. No final da batalha, o libertador-coelho afirma que “não há destino”, “nós construímos nosso próprio futuro”. Em um jogo como este, que funciona a partir de escolhas totalmente pré-determinadas, não há como não soar irônico.
A maior diversão vem, porém, nas lutas. Ao invés de montar uma variada gama de ataques, combos e upgrades para serem feitas no decorrer do jogo, logo na primeira batalha se tem acesso e conhecimento do aparato estratégico para enfrentar todos os chefes. Um botão para ataque com a espada, outro de defesa, um de esquiva, enquanto o analógico direito cuida da pistola laser. Uma inventiva mistura do hack ‘n’ slash de Devil May Cry com jogos bullet hell. Cada inimigo possui várias fases, normalmente entre quatro ou cinco.
A cada barra de vida esvaziada, a tendência é o aumento gradual da dificuldade. Cada uma das fases, por sua vez, possui dois momentos: o primeiro mais livre, em que estão liberados os ataques à distância com a pistola e os oponentes vagam livremente por toda a arena; e um segundo, em que os lutadores se aproximam e a movimentação fica mais restrita para efetivar um combate exclusivamente corpo a corpo (ou tête-à-tête).
Os inimigos se comportam com padrões de ataques intuitivos visualmente e, singularmente, ímpares na medida do possível. Só existem checkpoints entre as batalhas, ou seja, o jogador deve derrotar todas as fases do oponente em uma batalha de 15 minutos, normalmente. A dificuldade, para os padrões atuais, pode ser considerada alta. E, apesar do teor viciante ser comparável ao de Super Meat Boy, o desafio é totalmente distinto. É necessária aqui uma experiência, paciência e precisão dark-soulniana, proporcionalmente compensada nos momentos de frustração e de vitória.

Furi carrega sua maior virtude e sua maior falha lado a lado. É um jogo curto. A primeira jogatina dura em torno de quatro horas. Depois, menos de uma hora será suficiente. Por um lado, a curiosidade move o jogador para saber tanto como será o próximo oponente, como para descobrir as raízes do protagonista. O final satisfatório, pouco elaborado, mas que fecha o ciclo temático que a jornada construiu, encerra a real experiência do jogo.
O resto é pura competitividade medíocre: reencontrar os chefes em dificuldades maiores, sofrendo menos dano e ganhando no menor tempo possível. Basicamente, um boss rush. Tais virtudes, que podem ser aprimoradas em um modo de prática, somam pontos e resultam em uma nota individual para cada batalha e no final dão uma média para o conjunto – desbloqueando artes conceituais com uma ou outra informação explícita da construção dos personagens.
A sincronia se completa com a trilha sonora eletrônica, com faixas de nomes como Carpenter Brut, The Toxic Avenger, Danger, entre outros. Cada uma se encaixa com o seu chefe correspondente e confere maior imersão. Tecnicamente, alguns riffs sintéticos funcionam para um videogame, mas podem mostrar-se enjoativos e até, dependendo do seu temperamento, irritantes. Como tudo nesse jogo: perseverança é a chave.