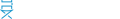Metal Gear Solid é uma franquia que existe há mais de duas décadas. Eu e ele jogamos praticamente todos os títulos da série. Sabemos realmente do que se trata quando o assunto é MGS: riqueza em história, desenvolvimento completo de seus personagens, atenção aos detalhes, batalhas fantásticas contra chefes, humor inusitado, críticas certeiras, mensagens impactantes, jogabilidade que dura por anos – pegue Sons of Liberty para jogar hoje e entenderá o que digo.
Entretanto, aqui em Phantom Pain, tivemos uma experiência fantástica nas primeiras horas para então virar uma das obras mais razoáveis de Hideo Kojima que já jogamos – convenhamos, Kojima fazer um jogo razoável é um demérito.
Mas por que exatamente The Phantom Pain falha em tantos e tantos aspectos? Por que esse jogo não consegue concluir por si só a história de Big Boss e realizar uma ponte decente para Metal Gear?
O game começa com Snake hospitalizado graças ao desfecho traumático de Ground Zeroes. Ele desperta de um coma de nove anos para voltar a viver a lenda de Big Boss. Descobrindo que foi Skull Face quem ordenou o ataque à sua antiga Mother Base, Big Boss, Kazuhira Miller e Ocelot fundam o grupo Diamond Dogs e declaram guerra contra a XOF para acertar as contas e eliminar de vez qualquer rastro do excêntrico Skull Face do planeta. O problema é que o vilão – assim como todos os outros anteriores da série – conta com a ajuda paranormal de seus cúmplices e tem planos muito mais ameaçadores para dominar o mundo.
Quem joga Metal Gear sabe que a ênfase da série se dá no gênero stealth. Matar seus inimigos na surdina e não ser notado. Em partes, a furtividade permanece, mas o gameplay desse game é convidativo para diversos estilos de jogatina. Seja o jogador que gosta de bancar o Rambo, o que deixa tudo para seu parceiro virtual – acredite, a sniper Quiet consegue ganhar as lutas contra os chefes do jogo sozinha – , o que prefere seguir a clássica tática do rasteja e atira ou até mesmo para quem quer usar veículos terrestres ou aéreos. O legal é que o game não te pune por você fugir do stealth, mas te recompensa com diversos emblemas que representam o seu estilo de jogatina – uma sacada brilhante.
O gameplay é simplesmente diversificado ao extremo. É tão rico que é possível desperceber uma das maiores falhas do jogo: a irritante semelhança de objetivos nas missões. Enquanto nos divertimos atirando caixas de suprimentos na cabeça dos soldados, extraindo tanques com o dispositivo Fulton, metralhamos granadas no ar para explodir na cara do inimigo, as missões se resumem a: resgate um personagem x, encontre o plano para a arma y e mate o oponente z. Na maioria, esses são os tipos de missões existentes em Phantom Pain. E isso passa a ser, no mínimo, desagradável quando nós percebemos.
As missões filler são a maioria do jogo – a história principal se concentra em apenas treze das cinquenta missões. Isso nunca existiu em jogos Metal Gear Solid. Lidem com isso. Elas contribuem pouco ou nada para história principal do game. É encheção de linguiça forçada, pois ajudam a obter recursos e melhorar suas armas até certo ponto. Muitos críticos estão aclamando essa jogada. “Oh, olhem só que lindeza, temos aqui 157 missões secundárias e 50 principais! Quanto conteúdo! Isso vai te manter muito ocupado, não é mesmo? Ho ho ho!”. Pois eu respondo: não! Um absurdo fazer tanta vista grossa para um game somente porque é de Hideo Kojima, além de ser o último Metal Gear da autoria dele. E olha que eu ainda nem comecei a tratar de fato sobre os problemas do game.
É simples. Depois de cinquenta horas jogando – acredite, você vai precisar dedicar todo esse tempo para terminar a história principal –, continuar fazendo as mesmas missões, invadindo as mesmas bases, tudo apenas com uma roupagem ligeiramente diferente. Isso vira uma verdadeira chateação. Um exercício para a mente: imagine que você está a fim de uma pessoa. Você sai com ela e repara em suas roupas. No dia seguinte, sai de novo com a mesma pessoa, mas repara que ela está com as mesmas roupas, mas trajando uma tiara. No dia seguinte, a mesma coisa, uma tiara e um brinco. No outro, apenas o brinco. É exatamente assim com The Phantom Pain.
O que muda nas missões são meros enfeites para os mesmos objetivos. Mas há quem defenda: “mas você pode realizar este objetivo de mil maneiras possíveis! ”. Sim, de fato é possível. Mas querendo ou não, uma hora seu gameplay vai encontrar um estilo, ele se provará muito eficiente para cumprir o objetivo e você acaba com um estilo de jogatina viciado. Isso aconteceu com absolutamente todos que eu conheço que possuem o game. Tanto eu, quanto o Guilherme, optamos por fazer o seguinte: aprimore seu sneaking suit – esqueça a camuflagem, jogaram o conceito no lixo aqui (saudades de Snake Eater e da Octocamo de Guns of the Patriots)–, use armas com silenciador, jogue de noite e use a Quiet como parceira. Pronto, aí está a receita do sucesso com uma curva de dificuldade pífia para zerar o jogo. Repito, isso nunca aconteceu antes com Metal Gear Solid que nunca te deixou em uma zona de conforto.
Infelizmente, isso é péssimo para o próprio jogo também, não somente para você. Dessa forma, nós nunca nos sentimos compelidos a realmente explorar todas as mecânicas possíveis para jogar. Ou a usar materiais diferentes dos quais estamos acostumados. É um monstro imenso de variedade para customização de armas, roupas, itens dos parceiros, itens do jogador, mas que fica apenas ali na sombra. Um verdadeiro elefante branco – algo caro para caramba e que tem pouco uso. Claro, isso não cabe a todos os jogadores, mas isso é comum para a maioria. Ou você é um entusiasta ou é um crítico de games para vasculhar todos os segredos de Phantom Pain.
O game é dividido em três partes: prólogo, capítulo um e capítulo dois. O prólogo é fantástico. Ele simplesmente esbanja o poderio gráfico da Fox Engine – criada especialmente para o jogo. O gráfico é absurdo de lindo. Arrisco-me a dizer, o mais bonito dessa geração. Nesse segmento, os efeitos de fogo, luz, água, partículas diversas são exuberantes. Dá até para notar os músculos de Snake respondendo sob a pele enquanto ele se arrasta pelas alas do hospital. Além do gráfico, o prólogo é uma das duas missões que tem um peso narrativo e dramático guiado com forte presença de roteiro. Ali é possível sentir a presença de Hideo Kojima e de sua competência.
Mas aí vem a maior ironia, nessas duas missões roteirizadas em peso – prólogo e missão 43, não há o uso do fator X do jogo: o famigerado mundo aberto. Detalhe: são as melhores do jogo inteiro, justamente pelo peso de sua narrativa, escapando, portanto, da mesmice presente na grande maioria das outras missões.
A partir do capítulo um, o jogador conhece o mundo aberto de Phantom Pain. São duas áreas: a região montanhosa e desértica do Afeganistão e a selva tropical da Angola-Zaire. Na teoria a ideia era ótima, mas na prática, a realidade atinge à tona. Seja lá por qual motivo, o sandbox de Phantom Pain é morto. Simplesmente não há justificativa para a escolha. A vida selvagem é escassa, não há movimento, não há vida e muito menos o que fazer, caso não esteja em missão. O cenário é belíssimo, mas, novamente, é limitado pela falta de conteúdo. Para se ter um ideia melhor do que falo basta observar que não existe um único civil dentro do jogo inteiro – todos são soldados. Um tanto conveniente, não? Em ponto algum sentimos como se aquelas fossem, de fato, regiões em guerra.
O sandbox do Afeganistão é o mais fraco dos dois, apesar de mais belo. Ele consiste, em boa parte, de um corredor largo cercado por montanhas. Como não há exploração vertical aqui como em Far Cry 4, Assassin’s Creed, Shadow of Mordor e Arkham Knight, o jogador se vê obrigado a seguir pelas estradas pré-determinadas. Esses desvios de rota incomodam muito, pois temos que dar uma volta imensa para chegar ao ponto da missão quando tudo poderia ser resolvido se pudéssemos escalar um pouco as montanhas – elas são desniveladas e possuem caminhos no meio delas. O pior de tudo é descobrir que existem paredes invisíveis nessas montanhas. Após muito esforço consegui subir consideravelmente por uma, quase atingindo a rota alternativa, e aí, para minha surpresa, fui impedido por uma parede invisível. Esse é o mundo aberto de MGS? Pois é.
Um fator positivo do gameplay é o enfoque no tempo real. Quando em missão, você pode solicitar equipamentos, parceiros e veículos pelo seu Idroid. Depois de trinta segundos, o Pequod – helicóptero de comando, larga seus itens no ponto escolhido. Além disso, é possível gerenciar sua Motherbase pelo Idroid, mandar suas tropas em expedições diversas, criar itens, ouvir fitas cassetes, músicas pop dos anos 1980 e temas de jogos anteriores, fator que felizmente ajuda quando tudo o que queremos é destravar o real desfecho do game e precisamos repetir sideops atrás de sideops.
Além do mundo aberto, das mudanças climáticas e do ciclo dia/noite, a maior novidade é a inserção dos parceiros. Podemos contar com a sniper Quiet – melhor parceira de longe, com o D-Dog, D-Horse e o D-Walker. Tanto Quiet, D-Dog e D-Walker realizam uma mesma função: são capazes de rastrear seus inimigos com facilidade. Assim você sempre os enxerga na tela e não tem a chance de ser surpreendido. O D-Walker é um Walker Gear desenvolvido para o Venom Snake. É uma máquina de guerra bípede que auxilia muito se você for um jogador de assalto.
O D-Horse tem a principal função de te ajudar na locomoção. É fácil cobrir grandes distâncias com o cavalo, mas ele não é muito sutil para ajudar nas infiltrações e os inimigos te percebem com relativa facilidade. Além disso, ele é melhor adequado para o terreno do Afeganistão. O D-Dog, companheiro que conhecemos desde filhote, tem um radar passivo de cem metros e detecta tudo ao redor dele. É de grande ajuda no começo, mas logo depois é substituído, assim como todos, pela Quiet.
As habilidades de assalto e infiltração da sniper tornam os outros parceiros praticamente obsoletos. Você não sente a menor vontade de utilizar eles quando sabe que tem a melhor sniper da história cobrindo sua retaguarda. Esse evidente desbalanceamento te deixa em uma zona de conforto ainda maior.
Ao contrário do mundo aberto, a inserção desses parceiros foi muito bem-vinda. Tornou o gameplay de MGS mais rico do que já era. Ainda sobre o sandbox, me pergunto por que Kojima não preferiu ainda seguir com o formato linear dos outros jogos só que inserindo as missões em espaços enormes. Sabe? Assim como em Ground Zeroes ou mesmo Snake Eater. Acredito que teria sido uma experiência melhor. Ou simplesmente misturando os dois formatos, por que não?
O fator de replay das missões é atrativo em certa medida – há muitos objetivos secundários para cumprir. A adição do modo reflexo ajuda muito também é outro acerto de Kojima. Com ele, o jogo te dá uma chance de redimir seus erros ao ser detectado por um inimigo. Agora se você não aproveitar a oportunidade, se prepare para encarar as consequências.
É interessante notar como a inteligência artificial do game se comporta com seu estilo de jogo. Se você atingir somente a cabeça dos inimigos, eles vão passar a usar capacetes. Se você só joga a noite, todos eles usarão lanternas para te encontrar. Se atira muito no peito, eles vão usar coletes a prova de balas. É um enfeite bacana, mas que dificilmente eleva a dificuldade do jogo. São os pequenos detalhes que Kojima adora se dedicar – existem vários no game.
Além do mundo aberto, temos a Mother Base – um lugar tão difícil de você se apegar quanto. É uma área imensa dividida em estações (incrivelmente similares ao Big Shell de Sons of Liberty) que ficam absurdamente longe uma da outra – dá para levar dois minutos dirigindo da base central para a médica ou outra qualquer. Na Mother Base é possível ver os itens que você extraiu em campo, assim como os soldados da Diamond Dogs que sempre te saúdam mesmo se você enfiar porrada neles – genial! Além de tomar um banho, a Mother Base não oferece mais do que isso e logo você perde interesse nela. Acaba voltando apenas na esperança de desbloquear mais uma das lindíssimas cutscenes do jogo.
Assim como outras decepções, a maior delas reside nas lutas contra os chefes. A série também é lembrada por lutas memoráveis contra chefões que te obrigavam a quebrar a cabeça para superá-los. Aqui, nada disso acontece. Temos que lutar três vezes contra os mesmos inimigos, os chamados Skulls, que sempre resultam em conflitos repetitivos e maçantes. São apenas bullet sponges que tornam a batalha ainda mais longas. Até mesmo o chefe final se resume a essa tática. Além disso, não há variedade e os encontros são poucos.
Enfim, o gameplay de Phantom Pain é fenomenal, mas um game não vive somente de jogabilidade. Outro fator de peso em todos os jogos da franquia é a história maciça. Tão rica que chega a ser confusa para novatos. E tenha isso em mente aqui, caso você for um jogador de primeira viagem, não vai aproveitar tanto o enredo como os veteranos. Mas não se decepcione, pois essa é uma das histórias mais fracas até então. Mas que fique claro, não foi por falta de potencial, mas sim por falta de crença da Konami no projeto.
Em The Phantom Pain, Kojima mira e atira com sua metralhadora de ideias em diversos tópicos: a problematização da linguagem, Guerra Fria, guerra biológica e química, pobreza na África, crianças na guerra, a mutilação, a deficiência, a “paternidade”, a discussão sobre as armas nucleares e a violência, a evolução da guerra, além de claro, o tema principal do jogo, a vingança.
Tudo isso é lançado e mastigado por tempos, mas nunca engolido. Fora a vingança, absolutamente nenhum desses assuntos tem um desfecho satisfatório ou um desenvolvimento competente. O mais mal trabalhado é a problematização da linguagem que envolve a motivação extremamente confusa de Skull Face – um vilão que você demora a entender e ainda assim, acaba sem entender nada. Infelizmente o encontro “épico” entre Snake e Skull Face traz um dos momentos mais fracos e esquisitos do jogo.
Já a mutilação, a deficiência física e a vingança são trabalhadas principalmente pelo coadjuvante Kazuhira Miller, o parceiro de Snake no comando da Mother Base. Assim como Skull Face, Kaz é um personagem redundante, de uma nota só. Sempre grunhindo, reclamando, proclamando monólogos com frases de efeito bonitas e repetitivas. E apesar de proclamar a vingança contra Major Zero e a Cipher, nós nunca vemos nada disso. O roteiro pouco menciona esses dois pontos que são cruciais para a história de Big Boss. Também há pouca explicação do projeto Les Enfant Terribles (que gerou os clones de Big Boss), o que é uma pena. O arco de Eli com Boss poderia render muito mais.
Kojima enfatiza muito o discurso de Kaz o que acaba torrando a paciência – o texto é poético em demasia, quase um monólogo já que Snake deixa ele falar sozinho. Um personagem que fala demais enquanto o principal fala de menos. Para nossa sorte, o ator Robin Atkin Downes interpreta Kazuhira. Sua performance é simplesmente a melhor do jogo e a do ano. O texto fraco pouco importa com o espetáculo que é a interpretação do ator – pesada, sombria e cheia de ódio. Certamente merece o VGA destinado à categoria.
Venom Snake/Big Boss passa a maior parte do jogo calado. Ele pouco contesta as ordens de Kazuhira para realizar as missões, também pouco conversa, não fala com ninguém, só escuta. É um personagem que está em constante luto desde o início do jogo. É possível interpretar de diversos motivos a súbita mudança de comportamento do personagem e Kojima deixa isso nas mãos do espectador.
The Phantom Pain não cumpre o principal objetivo de sua existência: mostrar como Big Boss passou de herói para vilão. Ele mostra lampejos disso, mas como o personagem é tão introspectivo, é praticamente impossível decifrar o que se passa na cabeça de Snake na maior parte do tempo. Somente na Missão 43, que o jogo se torna mais claro e o personagem passa a nos afetar mais. O problema é que na missão seguinte, o jogo acaba.
Nós só percebemos a maldade do personagem pela sua conveniência com os métodos cruéis de Kaz para lidar com muitos dilemas do jogo.
Outra polêmica é a troca do lendário David Hayter para Kiefer Sutherland. Mais bizarro ainda é notar constantemente que Sutherland trabalha pouco. Ele mantém expressões muito parecidas para Snake, sempre pensativo, um personagem em choque. O timbre da voz é sempre correto, embargado, pesado. Só é uma pena que ele fale tão pouco.
Snake começa a ganhar mais forma quando passamos a nos relacionar com Quiet, a sniper calada. Me limito a dizer que a relação entre os dois é muito bonita, traz os melhores momentos do jogo e se baseia na linguagem corporal. Aqui sim, Kojima explica os motivos do silêncio da personagem e também a origem de seus poderes. O desfecho da história dela é impactante. Nos afeta mais que o fim da história.
Ocelot também é um dos personagens que ganham um bom destaque em Phantom Pain. Aqui finalmente podemos como ele se comporta de fato perto de Snake e sua relação intrigante com ele. Destaque para Troy Baker, excelente como habitual. Aliás, os atores estão fenomenais. Esse é um dos jogos com uma das melhores dublagens e expressões faciais que já ouvi e vi. Os detalhes são tão mínimos que até mesmo Eli tem sotaque britânico, fazendo o vínculo com o restante da franquia. Outro ator que sobressai é James Horan como Skull Face adicionando um sotaque único e gestos singelos que misturam uma calma interior, soberba, prepotência e elegância.
Apesar do texto problemático, da progressão do enredo ser forçada e algumas vezes sem sentido, Kojima revolucionou a modo de contar uma história com suas cutscenes – cerca de cinco horas de filme, muito pouco para um game de cinquenta horas.
Aqui, o diretor usa apenas a técnica do plano sequência. Com a tecnologia fenomenal da Fox Engine, Kojima consegue montar uma decupagem fantástica para as cenas. A ritmo é tão fluido para variar os enquadramentos que é fácil se encantar com tudo aquilo. Para guiar a sua atenção, ele utiliza lens flares, zooms e desfoques selecionados. O resultado final é orgânico e nos leva a sonhar a ver um dinamismo tão perfeito um dia nos cinemas.
Kojima é apaixonado pelo jogo, é perceptível isso. Ele sempre busca dar toques à imagem de modo que ela fique fantástica, cheia de estilo quando assume as rédeas e insere um slow motion poderoso nos levando à loucura. É impossível não vibrar com o jogo ou ficar embasbacado pelas sequencias de ação, especialmente as que envolvem Quiet.
Além dos enquadramentos sempre acertados, Kojima se importa muito com a iluminação. Aqui, a “fotografia” supera a sua função de iluminar apenas e passa a enfatizar muito o que o diretor quer transmitir para nós. O prólogo é perfeito para elucidar isso a você, assim como a missão 20 e principalmente na missão 43 na qual acontece o momento mais poético da fotografia e encenação do jogo.
Vamos entrar agora na polêmica questão envolvendo o design da personagem Quiet, que anda praticamente nua durante todo o jogo, o que, naturalmente, recebeu uma série de críticas por parte de feministas e defensores do politicamente correto. Aqui abro uma pergunta: você já parou para pensar por que a maioria dos personagens principais dos jogos são fortes e de boa aparência? Indago, será para agradar o público feminino ou gay? Ou porque os designers simplesmente gostam de ver um homem musculoso à sua frente? Por que você acha que Snake, de uma hora para a outra, decidiu usar um rabo-de-cavalo?
A parcial nudez de personagens femininas em Metal Gear sempre foi uma constante na franquia, exemplos disso são Sniper Wolf, The Boss e Eva. Ao mesmo tempo, por anos e anos vimos Solid utilizar um collant que ressaltava todos os seus músculos e partes inferiores traseiras e não ouvimos ninguém reclamando.
Todo e qualquer produto conta com seu público-alvo e até pouco tempo atrás os video-games eram totalmente centrados no público masculino – MMORPGS são claros exemplos disso. Criticar um jogo somente porque uma das personagens está quase nua é, perdoem a expressão, pura frescura, especialmente neste caso, onde o fato é totalmente justificado pela narrativa (ainda que ela seja uma mera desculpa para colocar Quiet da maneira como ela é). Os militantes politicamente corretos que tentam censurar tais obras de nada diferem dos religiosos e políticos ao afirmarem que games são obras do demônio e que incitam a violência.
Acredito que muitos conheçam a loucura que foi o desenvolvimento do game. A tensão entre a Konami e Kojima foi tanta que o diretor abandonou o estúdio – ou foi convidado a se retirar.
A deadline do jogo estava chegando e Kojima queria trabalhar ainda mais, pedindo mais dinheiro. O orçamento do game estava superando os oitenta milhões, logo a produtora recusou e mandou ele fechar o projeto, já acreditando no prejuízo. Essa decisão estúpida da Konami é a principal responsável do jogo ser o que ele é hoje: incompleto.
Não é preciso ser cético para notar isso. O capítulo dois era para ser destinado a desenvolver melhor diversas questões do game – dizem por aí que Kojima queria fechar em cinco capítulos, algo que não duvido, pois encontraram indício do capítulo três nos arquivos locais da versão de PC. Assim como já veio a público o restante da missão 51 que estava nos planos de sair no jogo final, mas que nunca teve o desenvolvimento concluído – ela só fecharia um dos subplots mais importantes do jogo.
Acontece que o capítulo dois só vale a pena por conta das missões 43 e 45. De suas dezenove missões, treze são missões repetidas que você já havia finalizado no capítulo um, só que com condições mais extremas, aumentando a dificuldade. Até mesmo as cutscenes são iguais! É vergonhoso ver isso acontecer com MGS em seu jogo “final”.
Pode parecer pouca coisa, mas não é. Ter que cumprir objetivos semelhantes no capítulo um já era irritante, mas revisitar as missões mais difíceis novamente é um teste de paciência. Simplesmente não vale o esforço e deixa um gosto amargo na boca.
Graças a pressa da Konami em lançar o game, informações vitais para o entendimento do final do game ficaram presas nas fitas cassetes, já que as cutscenes nunca tiveram a chance de existir. Quando terminar o jogo, escute todas as fitas marcadas em amarelo. A informação “complementar” é mais relevante que a maioria dos acontecimentos que são expostos pelos filmes.
O desfecho do game é bom. Tem impacto e é poderoso. Uma das poucas reviravoltas que o game possui. Porém, mesmo assim, ele deixa tudo aberto à interpretação do jogador, explicitamente. Não há uma conexão canônica de Kojima deste game para Metal Gear. É uma pena. Ver um gênio como ele se limitar a citar Nietzsche, “Não existem fatos, apenas interpretações. ”, é um tanto deprimente.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain é o resultado de uma má gerência e da traição de sua desenvolvedora em não confiar no sucesso do que era para ser a conclusão épica da saga de um dos personagens mais importantes da História dos Videogames: Big Boss. Com isso, assim como seu protagonista, The Phantom Pain é um game mutilado, aleijado, incompleto.
O jogo é muito bom e divertido, o game mais sério da franquia, mas por causa do roteiro fraco, do desenvolvimento medíocre de boa parte de seus personagens, da escolha dúbia e cara de pau para o level design de diversas missões – principalmente as do capítulo dois, do desfecho que não resolve a mitologia de Big Boss de modo satisfatório, entre tantos outros motivos já listados aqui, se torna apenas um game decepcionante. Metal Gear Solid, Big Boss, os jogadores e Hideo Kojima mereciam algo muito maior que isso.
The Phantom Pain tenta mostrar a história de um herói que viveu tempo o suficiente para se tornar vilão, mas acabou mostrando a história de um jogo perfeito que é longo o suficiente para se tornar um jogo 3,5.
Pontos Positivos: Gameplay fluído, trilha musical original e licenciada soberbas, gráficos e efeitos sonoros exemplares, integração com companheiros, interpretações fabulosas em absolutamente todos os personagens, direção excepcional de Hideo Kojima para as cutscenes, mensagem bonita para o jogador ao final do game, final aberto para interpretação do jogador.
Pontos Negativos: Conceito de mundo aberto mal utilizado, missões repetitivas, muitas missões filler, batalhas medíocres contra chefes de fase, roteiro mal desenvolvido, personagens mal explorados, capítulo dois, o jogo está incompleto, informações vitais para o entendimento da história ficam restritas às fitas cassetes, poucas cutscenes para cinquenta horas de gameplay, resquícios de um sistema de micro-transições no modo single player, experiência decepcionante após a conclusão do game, final aberto para interpretação do jogador.
Metal Gear Solid V: The Phantom Pain
Desenvolvedor: Konami, Kojima Productions
Gênero: Stealth, Ação
Dísponivel para: PC, PS4, PS3, Xbox One, Xbox 360
Versões jogadas para análise: PC (GTX 980 Ti) e PS4