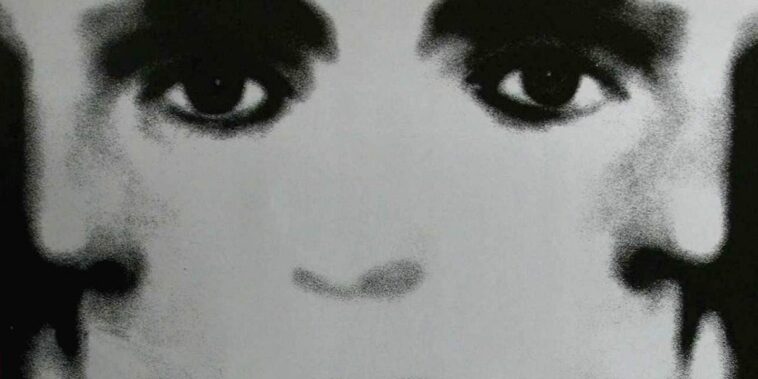Crítica | O Exterminador do Futuro: Gênesis - Acertando as linhas temporais
A coleção de franquias ressuscitadas em 2015 não para de crescer. Já tivemos Mad Max: Estrada da Fúria, Jurassic World e Poltergeist. Não tardou para acontecer o mesmo com os cults Exterminador do Futuro. Pautando um tema extremamente pertinente ao desenvolvimento humano aliada de ótimas cenas de ação, a franquia tem um bom retorno aos cinemas.
Dessa vez, John Connor continua sua luta interminável contra a Skynet – a inteligência artificial obstinada a destruir todos os humanos da face da Terra, em 2029. O objetivo é impedir que o inimigo utiliza uma nova arma, a máquina do tempo. Porém, Connor falha e descobre que a Skynet enviou um androide T-800 de volta para 1984 a fim de matar sua mãe, Sarah Connor, para impedir seu nascimento. Sem escolha, Connor envia Kyle Reese para salvar a vida de Sarah. Porém, ao chegar em 1984, Kyle se surpreende em encontrar uma Sarah Connor completamente diferente da que esperava.
Como já percebeu, leitor, o roteiro de Laeta Kalogridis e Patrick Lucier aposta em fazer um misto de reboot, remake, prequel e sequel dentro de um filme só. Surpreendentemente, os dois conseguem trabalhar coisas muito interessantes que trazem vigor para a veterana franquia. Os erros abissais de lógica e texto de A Salvação ficaram para o passado. Mas isso não quer dizer que temos aqui uma obra-prima – está longe disso, muitíssimo aliás.
O maior acerto é justamente trabalhar esse “universo paralelo”. Aqui a “realidade” diegética do filme original é deixada de lado dando margem que os roteiristas consigam adicionar elementos novos e interessantes, porém, estes, são poucos. Além dessas novidades e muitas reviravoltas completamente imprevisíveis – isto, é claro, se não tiver visto os trailers que comprometem 80% do enredo, a dupla insere boas homenagens nos pobres diálogos, além de problematizarem a relação entre Sarah Connor e Kyle Reese. Entretanto, isto é apenas apresentado, já que as cenas voltadas para o desenvolvimento de personagens são poucas e quando retornam, ficam presas no marasmo criativo.
Porém, também há relações interessantes como a que envolve Sarah e o T-800 encarnado por Shwarzenegger. Algo que remete diretamente a série de vídeo games Bioshock e seus, já clássicos, personagens Big Daddies. A dupla acerta também nas críticas, sempre humoradas, ao vício em smartphones ou com a convivência de múltiplas telas.
Evidentemente, o maior problema do texto é se perder ao contar a história, afinal ela aborda a viagem no tempo. Com esse tema extremamente complexo, é normal contradizer a linha narrativa e destruir a lógica já fragilizada da série. Infelizmente, sem escapar dessa maldição, Gênesis falha aqui. Outro ponto que incomoda bastante é a comédia bipolar – ora genial (envolvendo sempre o bom carisma de Arnold Shwarzenegger que recebeu um apelido horroroso), ora estúpida.
Além disso, Kyle Reese – interpretado pelo péssimo Jai Courtney, age até durante a metade do filme da forma mais estúpida possível. Atirando primeiro para perguntar depois – nada coerente com o pedido por cautela de John Connor momentos antes. Os roteiristas também clamam pela paciência do espectador durante a totalidade do terceiro ato, principalmente durante o clímax que possui uma progressão chatíssima. Isso se deve no quão conveniente é a evolução da inteligência artificial Skynet durante a cena, sempre permitindo uma margem confortável de tempo para que os protagonistas impeçam o apocalipse. Fora isso, os diálogos entre a Skynet e Sarah Connor/Kyle Reese pecam pela encenação estúpida – a cada frase, a dupla explode um dos diversos projetores do holograma que dá vida à I.A. tentando silenciá-la infinitamente.
A dupla também cai no problema em adicionar personagens inúteis como O’Brien, vivido por J.K. Simmons, que pouco adiciona para a narrativa e é deixado de lado logo depois. Já outros muito importantes como Miles e Danny Dyson, criadores da Skynet, são usados como alegorias.
Sobre a atuação aguardada de Emilia Clarke, há pouco o que comentar. Clarke e Courtney não conseguem imprimir uma boa química e alavancar uma tensão sexual crível. Portanto o romance que os roteiristas tentam construir para os personagens vai totalmente por água abaixo. Clarke também não consegue adicionar uma faceta relevante ou algo inédito para sua Sarah Connor. A personagem acaba se tornando apenas mais uma em um vasto universo de personalidades unidimensionais. Quem consegue trabalhar bem é Jason Clarke – John Connor, já que seu personagem ganha características completamente novas aqui. O problema é que o desenvolvimento desse novo conflito é muito raso e repetitivo. Não demora muito para vermos o ator trocando diálogos parecidíssimos, com a mesma mensagem, ao longo do filme.
Tirando essas e outras falhas e exageros dos roteiristas, Gênesis foi presenteado pelo primoroso design de produção, pela belíssima fotografia acompanhada de excelentes efeitos visuais, além da direção primorosa de Alan Taylor.
O diretor e equipe tratam a obra original com muito respeito – pelo menos no que tange a imagem. As sequências que passam no futuro apocalíptico e em 1984 são muito fiéis a concepção visual de James Cameron em seu longa original. Inclusive, essas cenas foram filmadas em película o que garante um visual único, nostálgico. Além disso, o diretor de fotografia, Kramer Morgenthau utilizou técnicas e planejamento de iluminação característicos dos anos 1980 – imagem granulada, pontos únicos de luz para iluminar o terceiro plano, névoa, luzes estroboscópicas, alta contraluz e luz dura para a key light. É um espetáculo de nostalgia, além de agregar muito bem uma riqueza de detalhes que fazem parte de uma época relevante para a história da cinematografia.
Já Alan Taylor sabe muito bem dominar a técnica da boa linguagem cinematográfica. O diretor estudou muito bem a decupagem dos filmes anteriores tanto que os enquadramentos deste se assemelham com os dos clássicos de 1984 e de 1991. Há o uso de efeitos praticáveis, além da preparação correta de expectativa e tensão durante o filme inteiro. O diretor faz uso de boas homenagens que tentam escapar do padrão. Entretanto, no meio de tanta beleza técnica, Taylor não consegue imprimir algo seu – além de alguns vislumbres de enquadramentos inspirados em Terrence Malick no prólogo do filme. Ou seja, o diretor simplesmente não teve liberdade ou deixou diversas oportunidades para imprimir algo novo, criativo ou fora dos padrões.
Porém, como sua técnica é tão boa, o respeito pelo material original ser tão evidente e possuir uma bela pegada e cuidado para definir enquadramentos, cenas de ação e movimentos de câmera, isso não se torna algo negativo, mas uma boa perda – para quem pensa que isso é algo fácil, basta ver a preguiça cinematográfica que existe na direção de Colin Trevorrow em Jurassic World. Se houvesse essa participação ou liberdade criativa por parte de Taylor, certamente a experiência seria mais rica. O diretor somente falha em apenas uma cena de ação – a dos helicópteros. Aqui a física é completamente ignorada, tudo se torna brega, além da qualidade dos efeitos visuais, excelentes até então, despencar de forma assustadora.
O Exterminador do Futuro: Gênesis é um daqueles filmes que devo admitir que gostei muito – importante salientar que eu não havia visto nenhum trailer até assistir ao filme – porém reconheço que se trata de um baita caça-níquel de qualidade mediana para boa. O filme simplesmente não justifica sua existência dentro da mitologia desses filmes e não consegue explorar bem sua principal novidade – John Connor. Pior ainda é notar que Gênesis se trata de o início de outra trilogia. Sim, Arnold will be back para mais um Terminator.
Assim como o filme tem seus diversos defeitos, ele também tem seus méritos. Para os que são fãs da franquia, certamente esta será uma experiência bem decepcionante. Entretanto para quem procura um filme bem divertido, repleto de ação, ótimos efeitos visuais e com o carisma de Arnold Shwarzenegger, não poderia encontrar algo melhor.
O Exterminador do Futuro: Gênesis (Terminator: Genisys, EUA - 2015)
Direção: Alan Taylor
Roteiro: Laeta Kalogridis e Patrick Lucier, baseado nos personagens de James Cameron e Gale Anne Hurd
Elenco: Arnold Schwarzenegger, Emilia Clarke, Jai Courtney, Jason Clarke, Matt Smith, J.K. Simmons
Gênero: Ação, Ficção Científica
Duração: 126 min
https://www.youtube.com/watch?v=62E4FJTwSuc
Leia mais sobre O Exterminador do Futuro
Review | Jurassic World Evolution - Seja bem-vindo ao seu Parque Jurássico!
Por décadas, os fãs de Jurassic Park clamavam por algum novo game que fosse fazer jus a uma franquia tão popular entre o nicho nerd. Apesar de, em geral, diversos jogos arcade medíocres tenham sido lançados pontualmente, nunca antes tínhamos recebido um game de porte verdadeiramente milionário de um estúdio grande e conceituado na indústria – a tentativa da Telltale Games com a linha narrativa paralela de Jurassic Park para a geração passada foi boa, mas não chegou perto dos sonhos mais comuns dos fissurados na franquia.
Algo tão simples e, potencialmente, tão fácil: gerar seu próprio parque jurássico ao buscar lucro e divertimento enquanto equilibra a balança do caos que pode mandar todo seu esforço pelos ares quando o inevitável ocorrer: a natureza encontrar um meio. A última vez que os jogadores experimentaram essa possibilidade de criar o próprio parque de dinossauros foi em 2003 com Jurassic Park: Operation Genesis. Por atender essa demanda tão apaixonada, o jogo conseguiu ganhar vida própria por anos a fio graças a comunidade de mods que adicionou diversas funcionalidades e criaturas ao game.
Isso era fato até agora, com o lançamento de Jurassic World Evolution, um simulador de gerenciamento de parques de diversão inspirado no universo imaginado por Steven Spielberg ao adaptar os livros de Michael Crichton. Finalmente os fãs podem construir, em toda a glória e carnificina, um verdadeiro parque de dinossauros.
O Mercado Encontra um Meio
Mesmo que, em essência, Jurassic World Evolution seja um game tie-in, encomendado pela própria Universal Studios para impulsionar as vendas de merchandising do novo lançamento Jurassic World: Reino Ameaçado nos cinemas, é inegável que se trata de um jogo bem feito pela nem tão famosa empresa especializada em simuladores tycoon Frontier.
Ainda que um tanto apressado para o lançamento, o game oferece bastante ao jogador sem nunca enganá-lo. Apesar de todos querermos já embarcar na ilha mais famosa da franquia de filmes: Isla Nublar, na qual o jogador possui um amplo espaço de terra e recursos ilimitados para criar de modo eficaz (ou nem tanto) os maiores sonhos de John Hammond e seu parque jurássico, o game constantemente te lembra que para atingir todo o seu potencial, é preciso entender sua mecânica ao atravessar diversos desafios espalhados pela campanha do jogo.
A narrativa, infelizmente, não é tão caprichada o quanto deveria, apenas se firmando em diálogos ácidos entre os personagens líderes das divisões tecnológicas do parque: cientifica, entretenimento e segurança, e com outras intromissões de personagens icônicos da franquia para lançar frases de efeito condizentes com a personalidade de cada um – Ian Malcolm, dublado pelo próprio Jeff Goldblum, ganha destaque, apesar das intervenções serem pouco inspiradas e repetitivas.
Em suma, apenas serve como um guião bem básico para apresentar as missões vindas em contratos ao jogador nas quais todas vão acabar favorecendo e desfavorecendo sua imagem perante as três divisões. Os contratos, por vezes, são contraditórios para cada setor como alguns militares requisitando tarefas que deveriam ser pedidas pelo departamento cientifico e assim por diante.
Isso obviamente apenas quebra a imersão da proposta, mas não chega a prejudicar a experiência em geral, pois o trabalho de apresentação e da lógica de gerenciamento de recursos entre espaço físico, dinheiro e confinamento das criaturas são realmente espetaculares.
Driblando a Natureza
Ao longo da campanha, o jogador terá que conquistar as cinco ilhas do arquipélago Las Cinco Muertes, uma é destravada conforme se progride na anterior até atingir um ranking de três estrelas de satisfação do visitante. Cada parque nas ilhas oferece diferentes desafios envolvendo planejamento, investimento inicial, além de outros novos desafios envolvendo não só a limitação do terreno, mas também da imprevisibilidade do clima com tempestades fortes e até mesmo tornados.
Quando disse que este é mais um jogo de simulação de gerenciamento do que apenas um simulador descompromissado apenas para colecionar as criaturas mais fascinantes que já andaram pela Terra, estava falando sério. Jurassic World Evolution prima pelo gerenciamento sábio de dinheiro e energia. Caso acabe fabricando o dinossauro errado e negligenciando seu parque ao não atrair mais turistas com outras atrações, rapidamente verá a margem de lucro cair. As missões também pouco irão ajudar no sentido monetário – pelo menos as de contrato, já que geralmente custam mais dinheiro para concluir do que oferecem de recompensa para o jogador.
Mas é necessário fazê-las não só por conta de manter seu parque livre das sabotagens de algum setor, mas também para conquistar novas tecnologias e dinossauros apenas desbloqueáveis através do nível de fidelidade de cada um dos seus companheiros. Em geral, gasta-se mais tempo com constantes pesquisas de extrações de fósseis, vacinas, aprimoramentos em DNA, upgrades para outros prédios de infraestrutura, compras de usinas elétricas do que propriamente na compra dos dinossauros.
Mas quando as criaturas finalmente voltam ä vida com um genoma viável, uma atmosfera de maravilhamento se instala de tão primoroso que é o trabalho com texturas e animações para dar naturalidade aos movimentos dos bichos – tudo de forma mais próxima ao cânone da franquia, obviamente. É algo tão bacana que rapidamente se torna um vício criar mais dinossauros para conferir algumas mudanças estéticas básicas além de observar como se comportam em grupo.
Apesar de ser muito divertido e render os melhores momentos do jogo, há uma falha de mecânica toda vez que o jogador se depara com a criação de uma nova criatura, afinal todas elas possuem certas necessidades básicas de conforto envolvendo território, comunidade, população, etc. Frequentemente me vi em apuros por ter criado certo herbívoro que precisa de pelo menos mais dois espécimes iguais para conviver em paz, pois o jogo falhou em informar. E quando os dinossauros estão infelizes, passam a ficar agressivos e prontos para romper as cercas do parque e atacar os visitantes.
Há também algumas falhas de lógica que podem ser corrigidas em questão de poucos updates futuros como o fato de dinossauros pequenos conseguirem quebrar as barreiras mais avançadas do jogo somente na base da pancada. Outras já envolvem o sistema de satisfação baseado somente em radar diminuto. Se um dinossauro necessitar de mais floresta, mesmo que o confinamento seja abundante, e acabe se aproximando de um portão desmatado, rapidamente ficará agressivo e desconfortável. São pequenos desafios que acabam por pipocar incidentes que requerem trabalho e atenção do jogador de modo injusto, afinal se tratam de falhas de código do game.
Outros diversos bugs podem ser encontrados em questões de comportamento e inteligência artificial como algumas criaturas empacarem em algum lugar e passarem fome até morrer. E mesmo assim, essas características irritantes e nitidamente existentes por descuidos apressados, Jurassic World Evolution não se torna tedioso. Mesmo que haja manhas para dominar rapidamente as lógicas implacáveis de cada novo parque aberto e da repetição de mecânicas custosas de gerenciamento financeiro e de infraestrutura, o game é uma bela diversão.
O departamento artístico foi extremamente feliz em tornar toda a atmosfera do parque em algo realmente especial, além da própria seleção de dinossauros disponíveis somando mais de quarenta e oito espécies. Apenas são necessários alguns ajustes e a adição de criaturas aquáticas pré-históricas como o famoso Mosassauro e os inevitáveis pterossauros que ainda não estão disponíveis no momento da análise.
Por permitir que um sonho muito antigo finalmente vire realidade, apesar de provocar o jogador a investir longas horas em uma campanha pouco inspirada para desbloquear o jogo em todo seu potencial, Jurassic World Evolution é uma compra mais que obrigatória para qualquer fã de Jurassic Park. Aqui, as despesas realmente não devem ser poupadas em favor da realização dos sonhos mais absurdos: ter uma grandiosa coleção de dinossauros.
Pontos Positivos: Grande variedade de dinossauros, possibilidades de expansões importantes, mecânica de gerenciamento financeiro é desafiadora e recompensadora, liberar o caos no parque é sempre divertido, ótimo trabalho visual e sonoro, excelente mapeamento para controles joystick, presença dos elencos originais
Pontos Negativos: Bugs frequentes irritantes que afetam I.A., falta de informações triviais sobre dinossauros fabricados, estrutura das missões rapidamente se torna repetitiva, narrativa nada inspirada, lógica dos contratos muitas vezes é falha.
Leia mais sobre o game aqui.
Jurassic World Evolution (Idem – 2018)
Desenvolvedora: Frontier Developments
Plataformas: PC, Xbox One, PS4
Gênero: Simulador
https://www.youtube.com/watch?v=EAhN8sIK0mo
Crítica | Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros - Reboot fracassado
Vinte e dois anos se passaram desde o lançamento do icônico Jurassic Park: O Parque dos Dinossauros. Com a qualidade praticamente impecável do primeiro filme, a franquia passou a ser surrada pelos sucessores. O Mundo Perdido e Jurassic Park III não conseguiram manter o padrão. Agora, depois de quatorze anos longe dos cinemas, a Universal trouxe de volta os dinossauros mais fascinantes do cinema. Porém, mesmo com tanto tempo de preparação, Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros se atém a erros dos filmes anteriores, inova pouco e conta com a direção mais insossa já vista na franquia.
O sonho de John Hammand fracassou. Seu parque temático repleto de dinossauros colapsou e Isla Nublar ficou impregnada de répteis gigantescos durante os eventos da trilogia original. Entretanto, aqui no universo de Jurassic World, tudo isso é ignorado. Simon Masrani, outro milionário excêntrico, conseguiu concretizar o sonho de Hammond. Finalmente o parque está aberto.
Entretanto, já com alguns anos de funcionamento, Masrani quer oferecer mais para seus fiéis visitantes. Eis que surge a ideia de criar um dinossauro híbrido, o Indominus Rex. Graças aos avanços da manipulação genética, o híbrido vira uma realidade. Porém, após uma sucessão de erros, o Indominus escapa. Agora, cabe ao ex-militar da Marinha Owen Grady unir esforços com seus velociraptors treinados para caçar o perigoso animal que ameaça a segurança de todos os visitantes do resort.
Sempre fico abismado quando me deparo com esses filmes em que mais de duas pessoas assinam o roteiro. No caso de Jurassic World, são quatro: Rick Jaffa, Amanda Silver, Derek Connoly e o também diretor Colin Trevorrow. Praticamente um pesadelo.
Para quem ainda tinha dúvidas, esse filme é a prova cabal que quatro cabeças não pensam melhor que uma. Geralmente, isso resulta em um filme fragmentado, contraditório, por vezes estúpido, panfletário, que possui mudanças súbitas de atmosfera ou que conta com sumiços de personagens. Pois é justamente isso que acontece aqui. Absolutamente tudo.
Sem dúvidas há um excesso de núcleos narrativos graças a infinidade de personagens – o que prejudica o progresso da história. O primeiro ato se perde entre as atrações do parque, o didatismo panfletário, a construção de um romance ruim e a crescente ameaça do Indominus. Diversas vezes os diálogos abordam críticas a respeito dos direitos dos animais noção de propriedade, sentimentos dos dinossauros e a marcas capitalistas – algo completamente bizarro já que durante o filme existem inúmeros merchandisings o que evidencia a hipocrisia do texto/filme. Já não bastasse a chatice dos diálogos redundantes que abordam esses temas, tudo fica ainda mais grave ao notar que esses pontos já foram exaustivamente explorados nos filmes anteriores.
Após superar a militância, os roteiristas conseguem criar coisas realmente interessantes, porém sempre inseridas em diálogos deploráveis de tão ruins. A relação do aventureiro Owen Grady, vivido pelo divertido Chris Pratt, com uma das velociraptors domada é satisfatoriamente desenvolvida, tanto que é possível sentir empatia por Owen e Blue. A proposta em transformar um dos vilões do primeiro filme em aliados é algo inteligente e inédito – uma das poucas coisas que conseguem ser originais neste filme.
Outro acerto é a dimensão psicológica que o Indominus ganha graças às constantes explicações de Owen Grady – aliás, os roteiristas o usam para explicar o filme em diversas cenas. Com isso, o melhor personagem é o dinossauro híbrido. Uma pena que o quarteto não consegue explorar muito bem o dinossauro. Repare que as revelações de suas habilidades são deixadas de lado rapidamente.
Fora essas poucas coisas, o roteiro só segue ladeira abaixo. O restante dos personagens, quando não sabotados pelos estereótipos, são minados com atuações fracas. Alguns chegam até irritar como o alívio cômico Lowery ou o paquerador Zach. Aliás, aqui temos os personagens juvenis menos proativos da saga inteira.
Os roteiristas também não se dão ao trabalho de responder algumas questões pertinentes: como foi solucionado o problema de contenção dos dinossauros nas Islas Nublar e Sorna? Por que reabrir o parque no mesmo lugar? Quais filmes são canônicos ou não?
Eles não foram apenas preguiçosos para construir um backstory decente. A história em si não funciona sem que o espectador ignore as constantes burradas dos roteiristas. O texto é tão contraditório que chega até a alterar a própria essência de alguns personagens como Owen e Zach. Outros como Hoskins e Masrani são simplesmente abismais. Um profere diversas frases sem sentido em diálogos repetitivos e o outro se comporta como um guia de autoajuda de tão didático e moralista que é. Fora a origem para a linha narrativa completamente deplorável que a série seguirá nos próximos filmes – ou seja, esse péssimo filme provavelmente será sucedido por um pior.
Há também a incrível insistência dos roteiristas – isso na franquia inteira, em um arco que envolve algum personagem tentar retirar os dinossauros da ilha. No primeiro, Dennis Nedry tentou. No segundo, a InGen. No terceiro, Billy. Em Jurassic World acontece a mesmíssima coisa. Eles também tentam inserir pequenos dramas superficiais e um romance totalmente fora de contexto.
Não satisfeitos em comprometer apenas a história, os roteiristas conseguem colocar em cheque a própria qualidade do design de produção do filme. As atrações apresentadas são sim interessantes, principalmente a girosfera, porém outras como o aviário não são dotadas de lógica. Não é possível interpretar o funcionamento da atração com o que é mostrado no filme. As pessoas entram na gaiola assim como em borboletários? Como seria possível entrar se os pteranodontes são completamente violentos? Já que não é viável a entrada, por que os vidros não são translúcidos o suficiente para observar os bichos?
O texto também ataca outra passagem. Em um momento, Dr. Wu informa que o Indominus atingirá 15 metros de altura ou mais. Poucos minutos depois, Claire informa que os 12 metros das paredes que cercam a jaula do bicho são suficientes. Em outra cena, Claire e Masrani visitam o padoque de observação do Indominus. Assim que a câmera quebra o eixo e passa a mostrar o confinamento do bicho, é possível notar que o lugar repleto de mato, uma intensa floresta fechada. Ou seja, observar o dinossauro em meio a tantas árvores é quase um fator de sorte para o visitante. Isso se torna um problema porque o design do restante do parque evita justamente isso: esconder os animais. Seja com a proposta de contato visual intenso da girosfera, na jaula do Tiranossauro e no imenso lago do Mosassauro.
De resto, o design acerta em praticamente tudo. Seja na mobilidade e arquitetura do parque, no figurino e cabelo dos personagens e o design dos próprios bichos – alguns mais realistas como os velociraptor, outros mais cartunescos como o Tiranossauro. Porém o espetáculo visual fica por conta do Indominus Rex. O híbrido é assustador, tem forte presença em cena e possui um bom significado imagético – ele é albino, pálido, um ser completamente desprovido de misericórdia, mas racional e inteligente.
Porém, mesmo dotado do bom design de produção, é imperdoável o uso intenso de computação gráfica para dar vida aos animais. Todos os outros Jurassic Park – filmes realizados com orçamentos menores – usaram de diversas formas os incríveis animatrônicos idealizados e feitos por Stan Winston. Aqui, utilizam a técnica realista apenas na cabeça de um apatossauro em uma cena singela que só consegue emocionar graças ao uso da tecnologia antiga.
Porém a culpa de boa parte dessas decisões cai no trabalho insosso do diretor Colin Trevorrow. Ele utiliza diversos enquadramentos fechados que seria possível o uso de partes dos animatrônicos do mesmo modo que Spielberg fez em seus filmes. O resultado final do intenso uso de animação não poderia ser outro: os dinossauros do longa de 1993 são muito mais críveis e ameaçadores dos que os criados virtualmente em 2015.
Durante o filme inteiro senti que Trevorrow simplesmente não estava afim de trabalhar ou que não tem talento o suficiente para sustentar um filme desses. Sua direção não tem pegada, é frígida e trata o assunto com total frivolidade – algo cruel para um universo rico e fantástico como o de Jurassic Park.
Isso é evidente logo no começo do filme quando Gray e Zach chegam na Ilha. É impressionante como o diretor é preguiçoso ao montar os planos de apresentação do parque. Sempre com enquadramentos abertos, distantes, parados e com pouco apelo visual – isso acontece até mesmo com a saudosa imagem do portal de boas-vindas. Esse notório desinteresse e decupagem pobre persiste no primeiro ato inteiro. Porém o filme melhora um pouco quando a ação começa de fato. Mas ainda assim, o diretor não deslancha.
Muitas coreografias de cena são parecidíssimas com as de filmes anteriores, seja quando os personagens se escondem em troncos, carros ou com dinossauros espreitando e capotando veículos com a cabeça. Porém, sendo justo, o Indominus consegue fazer muito mais do que apenas morder e explodir coisas. Ele usa suas garras para pegar e arranhar, além de usar a cauda como nenhum dinossauro já mostrado antes. Infelizmente Trevorrow não empolga nem com o monstro. Resolve as cenas rapidamente com poucos planos, isso quando ele não pende para o brega como acontece nos momentos finais do clímax.
Além disso, ele não consegue nem copiar Spielberg – um cineasta com linguagem cinematográfica tão própria que é fácil de assimilar e copiar. O diretor não aprendeu nada sobre criação de expectativa e apresentação de personagem – coisas que Spielberg é mestre. É algo muito simples de comprovar: compare a atmosfera e tensão criada na sombria apresentação do Tiranossauro em Jurassic Park com a rápida cena em que o Indominus escapa de sua jaula.
É uma surra cinematográfica.
Nem mesmo o desfecho do filme é poupado da falta de empatia do diretor. Mas, por incrível que pareça, Trevorrow não consegue errar em tudo. Ele consegue criar a memorável cena de Owen partindo em sua motocicleta ao lado dos quatro velociraptor – excelente movimentação de câmera, e faz algumas boas homenagens ao filme original. Entretanto, até mesmo nisso, ele consegue ser bipolar. A primeira homenagem queJurassic World faz ao seu antecessor é estranhíssima – é inserida em um diálogo completamente estúpido que denota uma espécie de recalque com o filme original.
O Mundo Jurássico
Jurassic World falha assustadoramente em iniciar com qualidade acompanhada de uma história verdadeiramente original esta nova trilogia da franquia Jurassic Park nos cinemas. Seja no roteiro estúpido, na direção completamente desprovida de tesão com o filme, na atuação muito mal aproveitada de parte do elenco, nos efeitos sonoros dos dinossauros – boa parte deles são novos e pouco similares aos icônicos efeitos originais, na falta de uso de animatrônicos e até mesmo na trilha musical broxante de Michael Giacchino.
Céus! Trevorrow consegue errar até nos momentos corretos para inserir a inesquecível música tema de John Williams – repare que ele nunca usa para mostrar o deslumbramento dos visitantes com os dinossauros, mas sempre em cenas simplórias envolvendo helicópteros.
Me chateia muito ver tantas falhas, militância, piadas ruins, um texto sem lógica, ação pouco inspirada inserida em um filme que pertence a um universo cinematográfico que só é sustentado até hoje pelo brilhantismo do filme original. Jurassic Park é um dos meus filmes favoritos e tem uma importância muito grande na minha vida – quase um amigo de infância.
Porém não será a nostalgia que me fará dar valor para esse filme medíocre. Nunca vou conseguir entender porque esse longa foi concebido dessa forma após tanto tempo de pré-produção com praticamente nenhuma pressa para o seu lançamento. Assim como os meteoros acabaram com os dinossauros, os filmes sucessores de Jurassic Park estão conseguindo extinguir as esperanças de quem espera boas histórias baseadas nesse universo.
Eu já não espero mais.
Jurassic World: O Mundo dos Dinossauros (Jurassic World, EUA - 2015)
Direção: Colin Trevorrow
Roteiro: Amanda Silver, Rick Jaffa, Colin Trevorrow e Derek Connolly, baseado nos personagens de Michael Crichton
Elenco: Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Vincent D'Onofrio, Irrfan Khan, Ty Sympkins, Nick Robinson, Jake Johnson, Omar Sy, BD Wong, Judy Greer, Lauren Lapkus
Gênero: Aventura, Ficção Científica
Duração: 124 min
https://www.youtube.com/watch?v=S2_aWPGZwhs
Leia mais sobre Jurassic Park
Crítica | O Sucesso a Qualquer Preço - Proposta Irrecusável
Vez ou outra, um trecho essencial de O Sucesso a Qualquer Preço viraliza nas redes ou em cursos de empreendedorismo. Fora do contexto crítico da escrita repleta de sarcasmo de David Mamet, vemos a cena icônica do discurso (des)motivacional de Alec Baldwin para uma porção de vendedores fracassados que precisam mudar de atitude para não serem demitidos até o final da semana.
Enquanto diversos empreendedores da vida real buscam inspiração no discurso inescrupuloso de Baldwin sem compreender exatamente a moral que o filme evoca, é um fato completo de que Mamet provavelmente realize a melhor adaptação de uma das suas impressionantes peças teatrais. Confiando a direção a James Foley, o famoso roteirista conquistaria mais prestígio ao emplacar esse relativo clássico que sempre consegue atrair a atenção de desavisados na internet.
Homens Desesperados
Mamet adapta sua peça original nos mesmos moldes como havia feito com American Buffalo, evitando desviar excessivamente do material original, ainda apoiando todo o espaço temporal no decorrer de um dia de trabalho de alguns vendedores decadentes. Com o escritório comprado por uma empresa maior e muito mais agressiva contra resultados negativos, Rick Roma (Al Pacino), Shelley Levene (Jack Lemmon), George Aaranow (Alan Arkin) e Dave Moss (Ed Harris) são intimados pelo representante da empresa a gerarem melhores resultados ou acabarão demitidos até o fim da semana.
Para motivá-los, entra em disputa um prêmio para quem vender mais durante a semana, mas como os empregados estão todos revoltados pelo tratamento desumano, passam suas horas restantes lidando com o desafio. E também considerando meios escusos e indignos para driblar o problema, já que os melhores contatos para as vendas estão trancados na sala do chefe John Williamson (Kevin Spacey).
Tradicionalmente, longas que trazem peças para as telas, geralmente sofrem da ilusão de não serem visualmente interessantes ou até mesmo cinematográficos, já que a abrangência da ação é restrita em tempo, espaço e situações. O conflito central tem um peso tão gigantesco nos personagens que permitem a revelação parcial sobre quem realmente são. De muitas maneiras, portanto, O Sucesso a Qualquer Preço é um filme que exige a completa atenção do espectador ao diálogo, já que toda a encenação é firmada através da verborragia conflituosa e da intensidade da performance do elenco fenomenal.
O tema em si próprio já é bastante desafiador, pois Mamet trata da vida repleta de reviravoltas entre vantagens, desvantagens e predação que os vendedores sofrem em questão de minutos. Logo, apesar das semelhanças indiscutíveis por evocar a memória do exemplar Doze Homens e Uma Sentença, um dos maiores clássicos do Cinema por Sidney Lumet, Mamett cria uma história mais intrincada por se tratar de um drama realista bastante pessoal sem se apoiar com firmeza em um acontecimento crucial de fácil guião moral como um assassinato ou um caso de traição em um casamento.
Com personagens desconhecidos e o conflito pela sustentabilidade do emprego, os diálogos realmente precisam ser extraordinários. Felizmente, o que Mamet realiza aqui é de um nível tão estupendo que até mesmo Aaron Sorkin teria orgulho. Na divisão tripla da jornada dos vendedores, cada núcleo comporta um gênero específico: uma tragicomédia, um drama e, por fim, o foco narrativo da lábia dos vendedores para concretizar vendas.
A tragicomédia centrada em Moss e Aaronow certamente é a menos eficaz ou interessante devido a repetição intensa de argumentos e reclamações que os dois trocam entre si elaborando críticas por vezes justas enquanto outras apenas justificam a preguiça de ambos no trabalho. A desmotivação que os personagens sofrem em geral funciona como um panorama analítico de Mamet sobre as próprias condições do mercado ao se “rejuvenescer” enquanto funcionários mais velhos e experientes são escanteados e submetidos a reformas para compreender novos modelos de negócios nos quais os jovens são especializados e, consequentemente, melhores pagos.
Mamet basicamente prenunciou uma realidade que afeta muitos trabalhadores hoje em 1992. Isso vem a tona com o núcleo solitário de Shelley Levene, outrora o melhor vendedor da companhia, hoje não mais que um fracassado qualquer com pendencias bancárias problemáticas envolvendo pagamentos da clínica na qual sua filha é internada. Pela performance vulnerável de Jack Lemmon, em primeiro momento este é o personagem mais próximo do espectador por gerar grande empatia – isso é subvertido de modo brilhante no terceiro ato quando o vendedor consegue fechar um loteamento valioso para a companhia.
Seu drama palpável mostra a plena decadência do tratamento do mercado com seus funcionários mais leais, além de apresentar algumas motivações mais genuínas para Shelley apelar a métodos escusos para conseguir vantagens no trabalho. Ele já é apresentado como corrupto – todos os personagens são, mas como seu drama é bem mais palpável e menos abstrato, a balança pende favoravelmente.
Já com Roma, o melhor vendedor do escritório, Mamet elabora a persuasão cáustica e inescrupulosa da profissão em empurrar produtos e loteamentos de qualidade duvidosa para pessoas de índole, muitas vezes, inocente, apenas seduzidas pelas propostas deliciosas da prospecção do lucro fácil. Novamente, os diálogos de Mamet são fascinantes por evocar questionamentos de persuasão muito válidos, além do próprio Al Pacino oferecer outro espetáculo em cena com seu estilo despojado e meio desinteressado enquanto analisa friamente o cliente, sua presa.
Novidades rolam soltas ao decorrer das consequências da reviravolta principal da narrativa com mais carga de texto em estruturar críticas ao exibir a verdadeira natureza de todos os homens que, apesar de vulneráveis e derrotados, ainda são lobos disfarçados de ovelhas. No fel da balança, todos são condenáveis por traírem quaisquer pessoas que os orbitem. Levar vantagem é a vitória, independente do quão cruel ela possa ser.
Medidas Desesperadoras
Apesar do texto e do elenco sustentarem O Sucesso a Qualquer Preço com firmeza e bastante fluidez, há de se levar em conta o empenho de James Foley em trabalhar excessivamente com a montagem para dinamizar os diálogos – principalmente quando acompanhamos Moss e Aaronow. Sem remover a característica primordial de um longa centrado em uma peça de teatro, o cineasta aplica longos diálogos apenas com planos abertos e bastante duradouros nos quais a marcação da movimentação do ator, apesar de totalmente natural, remete a vista em um palco teatral.
Esforços cinematográficos de atmosfera também são muito empregados na primeira metade concentrada na derrocada do grupo deprimido. Isso é refletido pela abundancia da chuva incessante, além do tratamento fotográfico de iluminação mais sombria com contrastes poderosos entre cores azuladas e avermelhadas denotando a divisão moral suicida que alguns deles enfrentam no decorrer da jornada.
Dinamizando a montagem entre cortes rápidos ou de junção perfeita para a movimentação dos atores, além de inserir closes em momentos cruciais de ápice das atuações do elenco, Foley intensifica as cenas mais importantes justamente com sutilezas mínimas a ponto de conseguir equilibrar o caos quando cinco personagens estão disparando bravatas ao mesmo tempo enquanto dois conflitos importantes acontecem.
Apesar de não ser visualmente poderoso, O Sucesso a Qualquer Preço traz um dinamismo raramente visto em filmes diretamente adaptados de peças com poucos cenários. É evidente que se o drama centrado em conflitos majoritários realistas dessa natureza, envolvendo toda a complexidade moral da fabricação das relações comerciais humanas, será difícil que Mamet lhe conquiste com seus diálogos primorosos caso não haja interesse do espectador.
Assim como seus personagens, o roteirista tenta desesperadamente te vender um filme. Mas no caso, a vantagem nossa é que certamente saímos com um lucro bastante positivo no repertório.
O Sucesso a Qualquer Preço (Glengarry Glen Ross, EUA – 1992)
Direção: James Foley
Roteiro: David Mamet
Elenco: Al Pacino, Alan Arkin, Jack Lemmon, Ed Harris, Alec Baldwin, Kevin Spacey, Jonathan Pryce
Gênero: Drama, Crime
Duração: 100 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=HFv3M_qI9Dg
Crítica | O Assalto - Roubo Sem Glamour
O fascínio de David Mamet cresceria substancialmente por personagens fortes inseridos em situações nada ortodoxas envolvendo criminalidade ou enrascadas provocadas por dinheiro. Em seu oitavo filme como diretor, Mamet conquistaria um dos orçamentos mais generosos de sua carreira devido ao teor do que ele pretendia abordar: um típico filme de assalto.
Como é um roteirista muito prestigiado pela indústria, a aposta de trinta e nove milhões foi concretizada na forma de O Assalto reunindo nomes expressivos no elenco como Gene Hackman e Danny DeVito. Além disso, o que poderia dar errado possuindo um dos maiores escritores da geração por conta de sua criatividade invejável?
Infelizmente, a realidade foi crua, apesar do desempenho modesto do longa nas bilheterias. Mamet apenas cria um filme divertido, mas não o suficiente para passar além disso, afinal algumas surpresas negativas recaem diretamente em sua escrita sempre ferina.
Queimados
Durante um assalto que seria o último da carreira do ladrão Joe Moore (Hackman) e sua trupe de especialistas, um fator imprevisível ocorre permitindo que o assaltante deixe seu rosto ser filmado por câmeras de segurança – curiosamente, esse ponto que motiva o desejo de aposentadoria do protagonista, é em grande parte esquecido em diversas cenas da obra. Apesar do assalto ter sido parcialmente bem-sucedido com Moore entregando toda a remessa para seu contratante mafioso, Mickey Bergman (DeVito), o homem não se dá por satisfeito, o obrigando a realizar um último trabalho antes da sonhada aposentadoria.
Para domar Moore, Bergman retém os lucros da parte do antigo parceiro, além de obrigar que o experiente gatuno aceite a presença de Jimmy Silk (Sam Rockwell), seu protegido, na gangue que executa os assaltos com perfeição técnica. Rapidamente, toda a dinâmica do grupo se transforma com a participação nada convidativa desse membro inexperiente e traiçoeiro.
Mamet, assim como um assaltante experiente de joias, primeiro engana a plateia para então surrupiar algo valioso e deixa-la no desalento. A primeira sequência do longa oferece uma abertura enérgica e contagiante com a vertigem causada pelas sucessivas trocas de enquadramentos para estabelecer toda a lógica e geografia do plano do assalto inicial enquanto os personagens nos são apresentados.
A direção é um ponto inicial de destaque com dinâmicas diversas da montagem contemplando a ação e as minúcias das interações entre os assaltantes enquanto executam o trabalho. Apesar de não ser revolucionário, Mamet cria uma sequência muito eficiente assim como todo o trabalho de câmera ao longo do filme. Competente, correto, mas não muito inspirado – o tratamento com a paleta de cores continua inexpressivo pelos tons monocromáticos empregados.
Enquanto o primeiro ato se sustenta bem pela dinâmica do grupo e dos diálogos fantásticos de Mamet com frases de efeito divertidíssimas, O Assalto rapidamente começa a desfarelar com rapidez. Isso ocorre principalmente pela ocorrência absurda de clichês na narrativa como a insubordinação contra o mandante que se transforma em antagonista, com o uso sempre irritante de Jimmy como o elemento desagregador desagradável, de trapaças “inesperadas” ou reviravoltas falsas que visam “enganar” o espectador.
O ritmo constante desse “faz e desfaz” torna a narrativa realmente pouco relevante em acompanhar, já que os personagens, apesar de carismáticos, simplesmente não possuem qualquer substância ou relevância. Tanto que quando o grupo pensa em se separar, toda a tensão é supérflua, pois o espectador já tem ciência que se trata de mais algum truque barato da escrita de Mamet.
Pela falha com os personagens, o que resta é apreciar a beleza do plano final de Moore e do inusitado assalto final que consegue bastante originalidade com a abordagem repleta de disfarces, além da falta de glamour do local. É um plano simplesmente lógico. Mas, como havia dito anteriormente, Mamet insiste em trazer uma miríade constante de reviravoltas que visam colocar o protagonista em enrascadas, mas cujas soluções dos desafios são fáceis de deduzir ou de aceitar devido a vasta experiência do assaltante.
Tudo se torna um jogo de trapaças e muito pouco além disso, até um tiroteio final sem muito prestígio e mais outras duas reviravoltas envolvendo traições e surpresas sobre a recompensa final. É um ritmo tão desmedido que o espectador fica cansado e até mesmo descrente em tudo que o roteirista apresenta.
Também por ter sido lançado durante uma época saturada de filmes de assalto, a memória de outros longas de 2001 que são infinitamente melhores é persistente como no caso de Onze Homens e Um Segredo, um longa tão eficiente que acabou cravando uma franquia inteira que existe até mesmo nos dias de hoje. Até mesmo em sua estreia, era assombrado por filmes melhores.
Assalto cheio de falsas surpresas e clichês
No fim, David Mamet apenas traz um longa padrão e divertido que não guarda muitas surpresas além da qualidade dos diálogos sempre bem escritos. A narrativa decepciona pelo excesso e por conta do completo abandono do roteirista por seus personagens em situações clichês sem se valer da originalidade de se tratar de um grupo criminoso composto por homens já próximos da terceira idade.
Com uma direção apenas correta e pouco inspirada e uma história que só consegue surpreender pessoas que nunca viram qualquer filme de assalto antes, O Assalto apenas será o que o título promete: um assalto de seu tempo, embora o resultado final não acabe gerando tanto desgosto assim.
O Assalto (Heist, Canadá, EUA – 2001)
Direção: David Mamet
Roteiro: David Mamet
Elenco: Gene Hackman, Danny DeVito, Delroy Lindo, Sam Rockwell, Rebecca Pidgeon, Rick Jay
Gênero: Crime, Ação
Duração: 110 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=nhQ6gS0fm9s
Crítica | Homicídio - O Fantasma da Identidade
Raramente os longas de ação policial de 1990 abordavam questões profundas sobre a natureza dos próprios protagonistas. Muitos inspirados por uma retomada e renovação do noir clássico e também pela onda de violência perpetrada principalmente em Nova Iorque, mas em quase todos EUA, havia uma abordagem de questionamento do sistema. Isso obviamente explodiu com Se7en, clássico moderno de David Fincher que jogou os olhos de diversos produtores para o potencial adormecido destes então chamados neo noirs.
Entretanto, já em 1991, em conjunto com outro filme policial fantástico, O Silêncio dos Inocentes, o prestigiado roteirista David Mamet ousaria ir a temáticas raramente exploradas em uma jornada inesperadamente profunda para um estudo de personagem em seu terceiro filme como diretor, Homicídio. Apesar de pouco conhecido ao público casual, é preciso jogar mais gracejos a Mamet a fim de populariza-lo, afinal suas histórias são realmente boas e acessíveis.
O Não-Pertencimento
Homicídio é uma grande surpresa para o espectador assim como se tornou para o próprio Mamet que antes visava adaptar uma obra policial popular, mas acabou se afastando tanto do texto original que criou uma narrativa totalmente inédita. O espectador é convidado a acompanhar a rotina pouco prazerosa do detetive de homicídios Bobby Gold (Joe Mantegna) e seu parceiro Tim Sullivan (William H. Macy) que se encontram em um verdadeiro desafio após falharem na captura de um assassino de policiais. Com o homem foragido e muita pressão do departamento, Bobby acaba se envolvendo por acidente em outro assassinato: uma senhora judia morta sob circunstâncias muito suspeitas.
Removido do caso do assassino de policiais que prometia uma chance real de promoção, Bobby fica preso em uma investigação indesejada que o concentra no cerne da comunidade judaica local o forçando a vasculhar antigas feridas sobre a sua própria fé, afinal ele próprio também é judeu.
Mamet é um roteirista cuidadoso e logo no começo da obra já joga diversas migalhas de temas pertinentes que são retomados posteriormente, ajudando a sintetizar todo o complexo conflito que Bobby passará. Por isso, é de suma importância que o espectador esteja atento na miríade de diálogos que, em primeiro momento, parecem supérfluos ou simplesmente banais, retratando as conversas entre os policiais.
As rusgas na instituição são demonstradas através da dureza do trabalho cotidiano, limando a gentileza em qualquer nível criando um sistema perpétuo de infelicidade e pequenas opressões que retroalimentam preconceitos diversos. A abordagem pessimista não para por aí, afinal até mesmo Bobby, o protagonista, possui tons cinzentos sobre a falta de tato com terceiros.
Apesar da questão policial ser importante, ela passa longe de ser central. Até mesmo elementos raciais como a busca pelo homicida original é escanteada para dar vazão a essa inusitada jornada de autodescobrimento que Bobby passa a contragosto ao ser obrigado a conviver com a comunidade judaica. É curioso que Mamet, em questão de poucas cenas, já elimina completamente hipóteses de um romance – coisa que era de grande importância em noir clássicos.
O roteirista/diretor ilustra perfeitamente como Bobby é um alienado nas duas comunidades nas quais deveria estar inserido: na policial e na judaica. A policial renega melhores oportunidades e a judaica o vê como elemento externo já que é um judeu não-praticante que desconhece preceitos básicos da religião. Sua falta de empatia de primeiro momento também mostra como Mamet pretende criar um ciclo de hostilidades que no final prejudicam de modo agravado o primeiro elemento.
Centrado na busca sobre quem matou a senhora judia, incluindo com o auxílio de algumas conveniências narrativas descaradas, Bobby avança em um mistério mais perturbador negligenciado pelo departamento policial. Sem maiores revelações, é justo apontar que Mamet é excepcional ao enfim contextualizar comentários e ações de Bobby nesse momento do longa.
O espectador passa a compreender totalmente uma dor anestesiada do detetive sobre seu sentimento de não-pertencer e de agradar ao opressor que sempre o repudiará na vã esperança de ser aceito em comunidade. É um conflito interno que pode parecer bobo para o espectador, mas o roteirista apresenta tudo de modo tão engajador que é impossível perder o interesse pela jornada de Bobby.
O interesse pela subversão e desconstrução do gênero policial também perdura com as conclusões da obra. Independente das escolhas que o protagonista toma, seu fim sempre de condenação e infelicidade. Dividido por uma escolha ética muito cinzenta entre duas entidades que nunca realmente o ampararam, o protagonista entra em um vórtice autodestrutivo perigoso e inescapável. Bobby é um homem falho em quase todos os sentidos.
A Destruição de um Homem
Por ser principalmente um roteirista, David Mamet não se esforça em criar imagens complexas na direção ou até mesmo de tornar a câmera uma voz ativa para sua história na grande maioria das cenas. Homicídio é um longa cinematográfico apesar de tudo, a paleta de cores monocromáticas e o constante jogo de sombras evocam o sentimento noir, além do espectador ser presenteado em momentos pontuais com algo verdadeiramente poderoso.
A melhor cena do longa, perturbadora e crua, não apela para nenhum tipo de violência gráfica. O homicídio que dá título ao longa mostra a cara através de símbolos muito conhecidos pelo espectador. Símbolos verdadeiramente desprezíveis que conseguem maquinar emoções fortes refletidas diretamente no desencanto do protagonista. Mamet, sabiamente, depois de explodir a emoção em seu filme, então maquina o outro lado, mostrando que no jogo do poder, o maniqueísmo se torna um conceito falho. Bobby se encontra em uma situação que vai além do seu polícia e ladrão cotidiano, o levando a um estado pleno de confusão mental que lhe custará preços altíssimos.
Por conta de um texto tão redondo e sábio em ponderar sobre questões sociais sobre criminalidade que são, de fato, ignoradas em grande escala, além de oferecer um dos panoramas mais intensos sobre o estudo de personagem, é fácil afirmar que estamos diante de um verdadeiro filmaço. É o que dizem: um roteiro ótimo salva uma direção medíocre.
Homicídio (Homicide, EUA – 1991)
Direção: David Mamet
Roteiro: David Mamet
Elenco: Joe Mantegna, William H. Macy, Vincent Guastaferro, Jack Wallace, Charles Stransky
Gênero: Crime, Drama
Duração: 104 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=P9-Q0ZRFk7g
Crítica | Gêmeos: Mórbida Semelhança - Um Clássico Fraternal
Considerado um dos melhores longas da carreira de David Cronenberg, é fácil notar o que tanto fascina em Gêmeos: Mórbida Semelhança, apesar de ser uma produção bastante aquém de seu potencial por conta de escolhas excessivamente clichês e da marca autoral mais presente do cineasta: o esgotamento de uma ideia subdesenvolvida, mas muito original.
Poucos sabem, mas Gêmeos se trata de um fato perturbador, inspirada no livro Twins que “ficcionalizou” o intrigante acontecimento que chocou Nova Iorque: a morte dos irmãos Stewart e Cyril Marcus, encontrados mortos em seu apartamento de luxo em circunstâncias misteriosas. Se valendo da nova tecnologia do motion control que permite a captura precisa e exata do mesmo plano por repetidas vezes, Cronenberg conseguiria trazer um filme revolucionário com o mesmo ator interpretando diferentes personagens “ao mesmo tempo”.
A Separação
Como na maioria de seus longas, Cronenberg visa tatear dramas extraordinários e provocantes com propostas inovadoras nas situações das narrativas. Apesar de Gêmeos ser um dos longas mais acessíveis, aborda questões profundas sobre fraternidade e solidão que também o tornam desafiador.
Acompanhamos as vidas dos gêmeos idênticos Beverly e Elliot Mantle (Jeremy Irons), dois ginecologistas de extremo sucesso e prestígio no mercado científico, que após se envolverem sexualmente com a atriz Claire Niveau (Geneviève Bujold), sob a mesma identidade, partilhando a mulher entre eles. Mas como Beverly logo se apaixona por ela, os irmãos caminham em terrenos desconhecidos com enorme potencial de causarem completo desequilíbrio em sua relação fraternal sincronizada.
Esse fato da sincronia é algo trabalhado desde o primeiro instante por Cronenberg ao apresentar os protagonistas na infância. Vestidos da mesma forma e trocando conhecimentos, a proximidade dos dois é tão orgânica que quando o longa avança para mostrar a idade adulta de ambos, o espectador não fica surpreso ao encontra-los morando juntos.
Cronenberg é eficiente em delinear características distintas de comportamento para os gêmeos apesar de ser fácil ficar perdido em distinguir Beverly com Elliot, já que se trata de um trabalho sutil e elegante da atuação fantástica de Jeremy Irons. De modo próximo a uma visão clássica de contrastes, temos o irmão inteligente e mais tímido, responsável pelo desenvolvimento teórico e prático da medicina que ambos praticam – este é Beverly.
Já Elliot é mais descontraído, com melhor oratória, postura e apresentação, rapidamente se tornando o sedutor dos dois e elaborando o doentio jogo de dividir mulheres com o irmão, já que quase ninguém consegue distingui-los. Em suma, temos o nerd e o galanteador, ainda que muito inteligente. A premissa de pegar arquétipos clichês muito difundidos em filmes que se baseiam em amizades de longa data e também com a fraternidade, há essa característica que torna a relação dos dois bastante original em questão a sexualidade e da falta completa de privacidade entre eles.
Pelo equilíbrio, há essa relação simbiótica que permite o favorecimento profissional de ambos, mas basta entrar um conflito emocional genuíno que tudo é desalinhado, revelando o quanto Beverly se sente oprimido pelo irmão, sentimentos muito repreendidos no âmago do seu ser. O irmão que é mais novo por questão de minutos, crê, de certa forma, que se trata de uma mera cópia de qualidade inferior. E para provar sua identidade, batalha ingenuamente por um amor, se desfazendo do tratamento misógino que oferecia a diversas parceiras antes de Claire.
Aliás, um dos fatos inteligentes do texto é fazer com que os gêmeos que vivem interpretando um ao outro logo encontrarem sua separação no relacionamento com uma atriz. Por ser perita em compreender personagens, logo percebe o jogo bizarro que está envolvida devido a mudança constante de personalidade entre os dois.
A premissa é realmente fascinante, mas Cronenberg ainda sustenta o hábito de apresentar características repletas de potencial para logo serem descartadas como o fato de Claire ser paciente de Beverly e Elliot e também da sua fixação em curar a própria infertilidade – isso somente serve de pretexto para a confecção de novos equipamentos cirúrgicos bizarros utilizados em duas circunstâncias medíocres.
O fato é que a relação com Claire causa o desequilíbrio nos irmãos fazendo Elliot perceber que é totalmente dependente de Beverly, apesar de seus desejos secretos de ser apenas uma pessoa. Felizmente, o roteiro de Cronenberg não insiste na repetição de situações, mas se alonga de modo expressivo para apresentar o declínio de Beverly e do desgaste com Elliot.
Claire é o pivô de tudo e como um agente invasor mais poderoso na relação dos dois, apresenta o caminho das pedras para o caos. Isso é inserido de modo gradual, algo bastante correto, porém os desfechos são mais realistas, mas demasiadamente clichês, já que paira em diversas cenas a sombra de uma reviravolta inesperada, mas a história se encerra previsivelmente com diversas pontas soltas envolvendo uma catarse necessária para cumprir a cota de violência bizarra de mutilação física sempre presente em filmes do cineasta.
Em geral, na direção, Cronenberg torna Gêmeos uma obra cinematograficamente apagada devido a decupagem bastante característica de filmes de televisão – um hábito que marcaria toda a subsequente década de 1990 em diversos longas. Cronenberg não ousa muito com a câmera ou através de enquadramentos mais elaborados, além de um tratamento padronizado na fotografia que sempre visa trabalhar com tons monocromáticos ou opacos.
É sim uma boa maneira de mostrar que entre os dois irmãos, há essa falsa percepção de falta de contraste e da completa falta de identidade que assombra ambos personagens. Enquanto isso funciona em nível narrativo, não favorece em nada para o longa ter alguma distinção visual mais inspirada. Tudo é excessivamente quadrado e pouco magnético. A única sequência realmente imaginativa que evoca toda a atmosfera visual de Cronenberg envolvendo bizarrices grotescas do corpo, é forte o suficiente para assombrar o restante da obra pelo conteúdo de violência gráfica que sintetiza todos os temores psicológicos de Beverly.
Também é justo mencionar o quanto Jeremy Irons se esforça para delinear essas diferenças sutis em sua atuação quando contracena consigo mesmo. No início do longa, quando os dois personagens estão equilibrados emocionalmente, é quase impossível notar quem é Beverly ou Elliot de tão minúsculas que são as diferenças, além do efeito visual do motion control tornar toda a encenação extremamente realista. É algo impressionante.
Conforme o longa avança e as diferenças se tornam mais díspares, há uma aproximação melodramática que exaure um pouco a energia de Irons, até novamente encontrar o tom para equalizar ambos personagens de modo sublime. Com certeza se trata de uma das melhores performances do ator em toda a sua carreira.
Yin-Yang
Cronenberg realiza um dos seus melhores textos e trabalho com elenco em Gêmeos: Mórbida Semelhança, mas ainda apresenta seus defeitos característicos na condução da narrativa que encontra uma drástica queda de qualidade durante a segunda metade repleta de clichês, situações esgotantes e desfechos previsíveis. Com o show de atuação de Jeremy Irons e a mensagem sobre a agonia da identidade, este se torna um longa muito interessante sobre fraternidade de um ponto de vista raramente trabalhado na ficção. Por ser um longa bastante cerebral e pela falta de manejo de Cronenberg para transmitir suas mensagens com clareza, é possível que não encontre algo a mais além de um entretenimento.
Gêmeos – Mórbida Semelhança (Dead Ringers, Canadá, EUA – 1988)
Direção: David Cronenberg
Roteiro: David Cronenberg, Norman Snider, Bari Wood, Jack Geasland
Elenco: Jeremy Irons, Geneviève Bujold, Heidi von Balleske, Shirley Douglas, Stephen Lack
Gênero: Suspense, Drama
Duração: 116 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=-ZHbu3msmes
Crítica | Crash: Estranhos Prazeres - Cronenberg Sem Limites
Em 1996, David Cronenberg já havia feito os filmes que marcariam sua carreira como A Mosca, Videodrome e Gêmeos: Mórbida Semelhança. Tendo conquistado uma posição de tamanho prestígio na indústria, além de ter apresentado ao mundo uma nova visão sobre horror aliado a elementos sexuais e da mutação do corpo humano, é particularmente curiosa a existência de Crash: Estranhos Prazeres já que, em teoria, é uma obra mais adequada ao experimentalismo temático que o diretor havia desbravado durante os anos 1970 – com Calafrios, por exemplo.
Porém, arriscando e exaurindo uma ideia ao máximo novamente, o cineasta adaptaria livremente o livro de J.G. Ballard para explorar um tabu sexual sob nítida roupagem de filmes eróticos soft core, mas com certo tema que dependerá muito do espectador sobre como interpretar, pois este é facilmente um dos filmes mais vagos do diretor.
Amor Mutilado
O tema tabu que Cronenberg explora vagamente no discurso do filme envolve tanto o vazio existencial da cidade como também a busca intangível pelo prazer sexual nos tempos modernos repletos de estímulos. Para emplacar essa crítica bastante pessoal, nos apresenta ao casal Ballard que tenta renovar o casamento ao abrir livremente as possibilidades de casos extraconjugais para reaver o orgasmo.
James Ballard (James Spader), durante uma viagem de volta para a casa depois de se envolver com sua amante, acaba se acidentando em um grave acidente automobilístico que acaba matando o marido de Helen Remington (Holly Hunter) que dirigia o outro carro. Durante a recuperação, os dois se conhecem e logo desenvolvem um fetiche de transar em carros. Além disso, Helen apresenta uma turma de dublês que recria os acidentes mortais de Hollywood na surdina em busca de adrenalina e excitação. Todos são liderados pelo bizarro Vaughan (Elias Koteas) que apresenta esse submundo autodestrutivo para James.
De longe, esse é um dos filmes mais desafiadores de Cronenberg para o espectador em um nível que até mesmo supera a loucura apresentada em Videodrome que trazia muitas críticas justas e universais em seu conteúdo. O maior problema é toda a artificialidade que permeia a vasta maioria dos personagens assim como a narrativa. O conflito central do resgate do casamento é escanteado rapidamente do mesmo jeito que o desenvolvimento dos personagens.
Cronenberg apenas encadeia acontecimentos fragilmente conectados ao mostrar diferentes cenas de sexo soft core – exatamente como filmes eróticos não explícitos, com quase todo o elenco. Os diálogos apenas tangem o sentimento de depravação e a busca impossível por adrenalina sexual enquanto ficam embebidos com a proximidade da morte ao tomar riscos que até mesmo os acabam deformando permanentemente – consequências dos acidentes replicados.
Logo toda a narrativa se torna uma mera desculpa para exibir acidentes de carro e cenas de sexo abandonando totalmente a questão crítica interessante e original de Cronenberg. Portanto, toda a experiência fica a critério dos significados que o espectador atribuir no material apresentado já que o cineasta não desenvolve nada e exaure a ideia pela repetição incessante de monólogos expositivos pretensiosos e pouco objetivos.
Como tudo é tão vago e repetitivo, é fácil colocar a cabeça para funcionar e tentar encontrar significados perdidos, mas como os personagens são apáticos e robóticos, é difícil persistir nesse exercício mental que não trará grandes resultados ou retornos. Cronenberg apenas deixa a mensagem pairando no ar enquanto distrai o espectador com muito sexo.
É um modo interessante de afirmar a crítica do vazio existencial e do suprassumo de estímulos no próprio filme, mas obviamente é um tiro no próprio ritmo do longa que rapidamente se torna cansativo. Ao menos, ao modo de filmar, Cronenberg se prova um verdadeiro mestre conseguindo elaborar sequências incrivelmente eróticas através de planos detalhes delicados, explorando o tato e sensações térmicas do couro e da lataria dos veículos, entre outras sacadas visuais competentes.
O mesmo ocorre com a decupagem envolvendo as cenas com os carros, seja durante as colisões ou nas perseguições. O diretor consegue sempre estabelecer uma relação nítida entre os integrantes da cena de modo sempre adequado, apesar de logo as possibilidades se repetirem em escolhas de encenação pouco criativas ao longo do filme.
Tabu Intelectualizado
Crash: Estranhos Prazeres é um longa complicado de ser compreendido em totalidade. De muitas maneiras, parece incompleto no discurso, apenas funcionando em certos momentos como uma experimentação cinematográfica irreverente e provocativa. Mais próximo a soft core intelectualizado repleto de pretensão, dificilmente muitos espectadores encontrarão entretenimento ou até mesmo uma filosofia interessante nessa extravagância cronenberguiana.
Crash: Estranhos Prazeres (Crash, Reino Unido, Canadá – 1996)
Direção: David Cronenberg
Roteiro: David Cronenberg
Elenco: James Spader, Holly Hunter, Elias Koteas, Deborah Kara Unger, Rosanna Arquette
Gênero: Erótico, Drama
Duração: 100 minutos
https://www.youtube.com/watch?v=sNi80K5sTco
Crítica | Calafrios - O Erotismo da Morte
David Cronenberg é um realizador que, estranhamente, não recebe os méritos que merece em vida. Sua obsessão autoral simplesmente transformou os filmes de horror e ficção científica nos anos 1970 catapultando algumas ideias que renderiam verdadeiras obras de arte nas mãos de outros realizadores como Alien: O Oitavo Passageiro.
Seu primeiro longa-metragem oficial para os cinemas foi justamente Calafrios que apresenta diversas das características que o tornariam famoso. Cronenberg popularizou histórias sobre mutação humana, infestações de doenças venéreas, o medo da possessão embrionária com vermes que subjugam a vontade dos hospedeiros, além da abordagem destemida sobre a sexualidade impulsiva e doentia.
Eros, Logo Existo
Apesar de Calafrios ser um filme de horror B e nitidamente mal executado em diversos pontos, sua proposta é originalíssima esbanjando potencial. Cronenberg, sem a menor noção de desenvolvimento narrativo, demora uma eternidade para exibir sobre o que se trata a obra. Apresentando o local onde os eventos ocorrem, o diretor/roteirista utiliza toda a sequência de créditos iniciais para apresentar o condomínio Starliner, o mais luxuoso da região possuindo uma infinidade de atrativos, além de um próprio complexo de comércio local para manter os habitantes abastecidos já que o prédio foi construído em uma ilha desabitada.
Com a questão do isolamento já bem definida, o roteirista então elabora um misterioso assassinato ritualístico em um dos apartamentos que posteriormente é justificado sob pesada exposição revelando para o espectador o que ele estará prestes a ver. Um médico insano realizou experimentos de cruzamento genético em vermes parasitas tropicais para gerar a criatura perfeita. Quando adulta no hospedeiro, deixa suas vítimas em um estado completamente selvagem em busca de sexo para conseguir iniciar o ciclo de sua reprodução.
O médico misterioso deseja uma sociedade na qual todo o caos aconteça em uma enorme orgia apocalíptica. Porém, arrependido, tenta eliminar sua criação que, infelizmente, já se alastro em alguns dos habitantes do prédio condenando todos que moram ali.
A linha narrativa realmente é bastante original pela proposta de vermes que forçam estados de êxtase sexual nos hospedeiros, mas o desenvolvimento dessa proposta é uma das mais genéricas e inconsistentes que Cronenberg realizaria em sua carreira. De modo geral, o cineasta apenas mimetiza A Noite dos Mortos-Vivos, eterno clássico de George Romero. Apesar de ser funcional e entrar no rol da infinidade de cópias da obra-prima de Romero, Cronenberg se vale de uma estrutura mais expansiva, já que a maioria dos personagens são descartáveis e igualmente desinteressantes.
Para inchar o longa, o diretor acompanha diversos pontos de vista conforme os vermes se alastram pelo prédio a procura de novos hospedeiros. E, infelizmente, essas sequências geralmente são vergonhosas pela mão pesada do realizador ao exibir os personagens reagindo às ameaças tanto na forma do próprio verme pequenino quanto dos humanos já infectados. Basicamente, quase ninguém reage para se defender, apenas aguardando o doloroso destino enquanto gritam congelados no mesmo lugar. Isso só não ocorre com a figura mais próxima que temos como protagonista, o médico Roger.
De resto, principalmente com as mulheres, temos a mesma repetição cênica toda vez que surge um ataque tornando o filme em uma das experiências mais maçantes possíveis para o espectador. Cronenberg também cai nos vícios de realizar diversas más escolhas com o roteiro ao escrever tantas decisões estúpidas para os personagens que insistem em ficar separados ou ignorar informações já recebidas sobre como se prevenir da ameaça dos parasitas mutantes.
Isso afeta bastante o protagonista que, devido a sua completa burrice – ironicamente taxado como um dos “melhores profissionais do mundo”. Como boa parte dos personagens são desconhecidos e reagem de modo robótico às ameaças – o elenco oferece desempenhos risíveis na maior parte do tempo, não existe o menor senso de ameaça e, por consequência, toda a criação de suspense muito adequada na técnica, acaba não funcionando.
Além disso, Cronenberg tem o péssimo vício de mudar constantemente as regras da infecção. A cada cena, parece que o diretor ofereceu direções distintas para o elenco resultando em reações totalmente discrepantes. Alguns se comportam como zumbis violentos à procura de vítimas para estuprar – isso leva a outro problema de consistência do roteiro, enquanto outros seduzem terceiros de modo plenamente consciente. Na teoria, que de fato é mesmo muito interessante, o parasite envolve atos eróticos, mas não existe erotismo no estupro. Nas cenas que alguns hospedeiros tentam seduzir, de fato, Cronenberg é eficaz em criar certa atmosfera sensual.
As distrações constantes por conta do roteiro ruim repleto de personagens inexpressivos, além do ritmo excessivamente arrastado, acabam ofuscando boa parte do bom trabalho do cineasta na direção de Calafrios. Já tendo trabalhado com alguns curtas e filmes para a televisão, o diretor já não era tão amador enquanto aparenta em algumas cenas péssimas de dramaturgia, mas há certo cuidado excepcional de Cronenberg em diversas áreas técnicas que fascinam o espectador em certos momentos.
O primeiro deles está logo com o tratamento curioso com a câmera que ora se comporta de modo bastante clássico, ora mais livre com a abordagem instável da câmera na mão. Há uma grande preferência em criar tensão através de planos longos com alta profundidade de campo, revelando aos poucos alguém ou algo se esgueirando por trás da vítima, além de certo cuidado maior com a iluminação de cenas realmente sombrias. É um capricho estético que tira o filme da normalidade e mostra que Cronenberg demonstrava carinho com a produção, principalmente com os efeitos práticos impressionantes para os vermes animatrônicos.
Porém, muito de sua direção pode ser encarada com despreparo e mal gosto estético, aqui incluso o efeito horroroso de slow motions incorretos. Boa parte do filme sofre com falta de atmosfera e um olhar cinematográfico mais apurado, se tornando apenas mais uma obra genéria visualmente dentre uma vasta seleção de filmes de horror B da época.
Inspiração para o Amanhã
É um fato que Calafrios não se trata nem mesmo de ser um filme medíocre. É uma obra majoritariamente ruim, brega e pouco divertida. Mas há esse ponto de originalidade na ideia que catapultaria sempre a carreira de David Cronenberg a perseguir e explorar mais seus sonhos absurdos e surreais, além de impulsionar a industria sobre a fascinação com parasitas e vermes que acabariam rendendo toda a franquia Alien e o fantástico O Enigma de Outro Mundo. Ou seja, até mesmo nas piores experiências, é possível achar algumas preciosidades que podem render verdadeiras pérolas.
Calafrios (Shivers, Canadá - 1975)
Direção: David Cronenberg
Roteiro: David Cronenberg
Elenco: Paul Hampton, Joe Silver, Lynn Lowry, Allan Colman, Barbara Steele
Gênero: Terror, Ficção Científica
Duração: 87 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=eK9Wal9Dvic
Crítica | Os Sonhadores - O Espetacular Aqui e Agora
Certos artistas levam anos para encontrar um ponto ideal de criatividade e maturidade em suas carreiras. Ao contrário do que muitos pensam, isso não necessariamente está centrado nas primeiras experimentações da juventude. Um grande exemplo disso é Bernardo Bertolucci que, apesar de ter sido muito elogiado com O Conformista, trouxe uma grande quantidade de filmes razoáveis repletos de imaturidade como Último Tango em Paris e 1900.
O prestigiado cineasta italiano foi encontrar o equilíbrio em seu fanatismo pela escatologia e discursos ideológicos com O Último Imperador que até mesmo acabou lhe rendendo dois Oscar. Porém, passado o sucesso desse grande filme, Bertolucci ficou perdido entre produções hollywoodianas que pouco atraíram a atenção tanto das premiações como do público.
O último ponto da virada da carreira de Bertolucci como um artista relevante para a indústria, aconteceu em 2003, com a estreia inusitada de Os Sonhadores, um filme extremamente curioso que dialoga tanto com a vida pessoal de um artista antes repleto de convicções assim como oferecia uma visão mais realista sobre grande parte da massa parisiense que participou das históricas manifestações de Maio de 1968.
Somos Tão Jovens
Apesar de não ser o último filme de Bertolucci, Os Sonhadores tem um trejeito único de oferecer essa falsa impressão. Isso ocorre por conta da fascinação dos três personagens protagonistas pelo Cinema e principalmente pelo movimento artístico da Nouvelle Vague. Contando com a adaptação do próprio romancista Gilbert Adair sobre sua própria obra, é nítido que esse é o longa melhor amarrado e com a narrativa mais gostosa de acompanhar – Bertolucci é muito conhecido por ser um roteirista desconexo e impulsivo, apresentando novas características a custo do abandono de núcleos narrativos inteiros.
Acompanhamos a história do tímido estudante americano Matthew (Michael Pitt) que faz intercâmbio em Paris para aprender francês. Solitário, o jovem passa diversas tardes na cinemateca onde assiste a diversos clássicos internacionais e também aos filmes mais quentes dos realizadores franceses do momento. Porém, com a demissão do curador da instituição, o rapaz acaba encontrando os irmãos Theo (Louis Garrel) e Isabelle (Eva Green) durante um protesto.
Rapidamente firmando amizade por conta da enorme paixão ao Cinema, o trio passa a ficar unido e aproveita a viagem dos pais para conviverem juntos no enorme apartamento. Durante esse período, os três acabam descobrindo verdades indesejadas sobre si mesmos enquanto negligenciam responsabilidades básicas.
Ou seja, Os Sonhadores facilmente se enquadra em um campo de filmes coming of age, centrados na juventude e no custo do amadurecimento. Entretanto, por se passar em um momento histórico curioso e polêmico, além de envolver a criatividade de um dos maiores cineastas autorais dos anos 1970, rapidamente se torna uma obra com um quê a mais.
O fato que rapidamente envolve o espectador não são os contrastes entre os excêntricos e estranhos irmãos franceses entre o americano comportado, mas sim na estética da obra. É inevitável, pois Bertolucci estava muito inspirado e dedicado ao máximo a incorporar muito da linguagem cinematográfica da Nouvelle Vague em todo o filme. Basicamente, o espectador encontrará um longa que teria tudo para pertencer aos anos 1960, mas com maior capricho narrativo.
Naturalmente, o cineasta mais mimetizado é Jean Luc-Godard – isso é explícito. Bertolucci, fã do classicismo da câmera estável e elegante, sofre uma revolução no próprio estilo ao adotar diversas das características mais rudes do cinema francês da época incluindo intenso trabalho com câmera na mão, closes generosos, nudez e cigarros, forte presença do grão fílmico, cenas externas em locações de ruelas charmosas de Paris, jump cuts e muitos planos-sequência fluídos e coerentes para conferir a unidade cênica do apartamento de Theo e Isabelle.
Entretanto, o cineasta não se limita apenas a dar essa roupagem apaixonante para seu divertido filme: ele cria ou aprimora um estilo de montagem muito atraente. Em nível muito íntimo, a montagem de Os Sonhadores está diretamente ligada à psique dos personagens fissurados pelo cinema e, por conta disso, toda vez que temos alguma menção direta a um longa ou até mesmo recriação de cenas consagradas como no caso da quebra do recorde de Bando à Parte, Bertolucci insere match cuts bastante precisos entre a encenação diegética com as imagens dos filmes referenciados. O efeito é realmente único de tão bem realizado.
Também aproveito para apontar que o sempre famoso trabalho com reflexos está presente em cenas igualmente bem realizadas como do banho do trio em uma banheira. O cineasta aproveita os três eixos do espelho partido para sempre enquadrar os três personagens unidos no plano, mesmo que um deles seja visível apenas por conta do reflexo. A escatologia na qual Bertolucci sempre foi fissurado surge de modo abrandado e a nudez é comportada de modo mais natural possível – o trabalho com o elenco se destaca justamente por conseguir evidenciar diferentes tons de inibição ao longo dos atos.
Movidos por Sonhos Inocentes
Como disse, a narrativa de Os Sonhadores é mesmo muito agradável e coesa provando, enfim, que Bertolucci consegue conduzir uma história quando mais ponderado. De cunho intimista, o texto conquista pelos personagens, já que o estranhamento inicial da história logo é normalizado e tudo se encaminha para o trabalho massivo no desenvolvimento dos três personagens claramente distintos, apesar da primeira falsa impressão gerada por Theo e Isabelle.
O choque cultural, obviamente, é uma grande força, já que Matthew comporta pontos de vista mais maduros e responsáveis sobre política, arte e revolução. Assim como nos filmes de Godard na Nouvelle Vague, principalmente em O Pequeno Soldado e A Chinesa, há uma quantidade generosa de cenas para discutir maoísmo e a Guerra do Vietnã. Os embates sempre são expostos nas discussões antagônicas de Matthew e Theo já que Isabelle, aparentemente, não se interessa nada pelos devaneios políticos do irmão.
Aliás, Os Sonhadores é um dos poucos filmes no qual a direção de arte é essencial para sintetizar os personagens. O texto se concentra bastante em Matthew por dois motivos: ele é o protagonista e também é um visitante, uma tela em branco esperando ser preenchida por situações que demonstrem suas paixões e quem ele é – isso é feito também com o auxílio da narração over.
Porém, com Theo e Isabelle temos justamente o contrário. Apesar dos personagens também serem trabalhados em camadas, a maioria das cenas está concentrada em focar na estranheza dos irmãos e de sua afeição excessiva que levanta suspeitas incestuosas. Theo é o mais explorado através do caos instalado em seu quarto. Fã declarado da Revolução Cultural Chinesa de Mao Tsé-tung, o rapaz coleciona pôsteres e objetos remetendo à ideologia. Aqui aplica-se uma crítica sutil ao mostrar o revolucionário acomodado como um jovem tão desorganizado e sem responsabilidade que se torna apenas mais um dos muitos insatisfeitos que foram às ruas durante as manifestações sem saber direito o que proclamar.
É justamente por isso que sua relação de amor e ódio com Matthew que sempre mede os riscos de uma revolução precipitada é inteligente já que Theo projeta os sentimentos conflituosos que sente pelo pai, no amigo. E como o protagonista se envolve amorosamente com Isabelle, há até mesmo o surgimento de um complexo de Édipo diluído em bebedeiras e relações homossexuais que pairam em imagens sugestivas. É pretensioso e denso, mas funciona.
No meio dessa guerra de egos entre Theo e Matthew, há Isabelle, a personagem mais misteriosa do longa, porém a mais sedutora e, em primeiro momento, madura. As reviravoltas envolvendo a personagem subvertem expectativas de modo similar a Beleza Americana e realmente trazem um grande impacto ao espectador quando temos a revelação da concepção visual de seu quarto, nada mais do que uma extensão completa do que a menina é. Essa característica totalmente cinematográfica que oferece um dos contrastes mais poderosos do longa, desarmando todo o discurso de Isabelle até então.
Isso leva a terrenos mais curiosos que comprometem totalmente as surpresas do último ato do longa que novamente traz diversas críticas políticas à juventude movida apenas pelas paixões e pelo caos da catarse. O final esmagador apenas confirma o custo da maturidade e da negação da mesma, levando cada um dos personagens para caminhos dolorosos, hipócritas e, por fim, de completa subserviência dos desejos mais impossíveis.
Sexo, Cinema e Política
No auge da maturidade, Bernardo Bertolucci realiza um filme tão jovem e tão realista sobre a juventude sempre fadada a repetir os mesmos erros da persistência rebelde contra tudo e todos. Funciona bem como seu testamento político que desarma muitas de suas crenças que já haviam sido desconstruídas firmemente em O Último Imperador, mas aqui é algo realmente explícito.
Evocando sua paixão pelo Cinema conseguindo captar e mimetizar a essência cinematográfica de muitos dos filmes da Nouvelle Vague, é curioso que o artista consiga imprimir diversas de suas características, além de oferecer uma atmosfera tão doce e divertida que praticamente aprimora o pior dos vícios dos diretores nascidos no movimento. Portanto, mesmo para quem absolutamente detesta o cinema francês dos anos 1960, Os Sonhadores é uma ótima oportunidade de se apaixonar por um estilo que realmente revolucionou o Cinema.
Os Sonhadores (The Dreamers, Reino Unido, França, Itália – 2003)
Direção: Bernardo Bertolucci
Roteiro: Gilbert Adair
Elenco: Michael Pitt, Eva Green, Louis Garrel, Anna Chancellor, Robin Renucci
Gênero: Drama, Romance
Duração: 112 minutos.
https://www.youtube.com/watch?v=YU1brBVMBkM