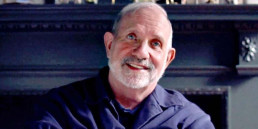Crítica | Michelle e Obama
Michelle e Obama é um daqueles filmes que entrega o que todos esperam: um melodrama novelesco com fachadas transgressoras. Ao longo da história do cinema estadunidense, já tivemos diversas obras biográficas que retrataram a vida de presidentes e líderes: ao que tudo indica, os americanos tem um apreço pela louvação exacerbada de seus "heróis" assim como os britânicos têm um fetiche histórico de realizarem produções e mais produções sobre o constante ciclo monárquico que pincelas as ilhas nórdicas há mais de um milênio. Normalmente tais obras conseguem fornecer um deleite estético - mas algumas, como o filme que aqui analiso, só trazem uma estampa escritural quase indigesta.
O diretor e roteirista Richard Tanne, em seu novo projeto, literalmente resolveu retratar o primeiro encontro do futuro casal Michelle e Barack Obama, respectivos primeira-dama e presidente dos Estados Unidos da América. O motivo, senhores, não se mostra claro em nenhum momento. Mas logo depois de uma introdução em plano-sequência pintada com uma das clássicas músicas do final da década de 1980, não podemos fazer nada além de engolfar num estado letárgico e permanecer franzinos, vendo até onde aquilo vai. A relação deles parece ter saído diretamente de um conto de fadas moderno, iniciando-se em museus de arte moderna e culminando com o tão esperado primeiro beijo - uma metáfora vencida do "mágico momento sob o visco de Natal" que já foi usada e abusada desde sua invenção.
É interessante notar a contradição entre os dois personagens. Enquanto Barack (Parker Sawyers) é uma pessoa mais suave e mais “vida boa”, apegado à cultura africana e a cigarros, além de estudar Direito da Universidade de Harvard, Michelle, interpretada com charme por Tika Sumpton, é uma ativista feminista que batalhou como nunca para alcançar uma posição de prestígio, contrariando a sociedade da época que subjugava a figura feminina para trabalhos considerados “rebaixados”.
E devo confessar que nunca vi um casal fazer tantas coisas em apenas vinte e quatro horas. O filme tem apenas uma hora e vinte de duração, mas seu ritmo lento e oscilante nos prende ao universo criado por Tanne de forma quase sobrenatural - e não digo isso e forma positiva. Talvez este não seja o ponto fornecer uma perspectiva nova sobre um dos casais mais famosos do mundo, e sim simplesmente contar o início de um romance. E, como sempre, o amor à primeira vista é refutado aqui, seja pela majestosidade de Michelle entrando em conflito com a total falta de senso estético de Barack.
Qual o grande problema do filme, então, se estamos lidando com uma simples narrativa novelesca? O problema é sua relevância para os diversos filmes biográficos que saem ano após ano: nenhuma. Tudo na história é previsível. Tudo bem, tirando o que nos está escrito na sinopse, não sabemos que Barack levará sua futura esposa para todos os lugares supracitados, mas o desenrolar da história é extremamente clichê. Até mesmo em filmes baseados em fatos reais o roteiro pode ser controlado para abandonar estéticas formulaicas e criar algo original, mas não é o que acontece aqui: garoto conhece garota, ela não vai com a cara dele, mas depois de uma série de “aventuras”, os dois acabam se apaixonando e refletindo sobre questões “filosóficas” sobre seu futuro juntos. Cada um dos pontos principais da trama pode ser prenunciado em poucos minutos de filme - e apesar de seus oitenta minutos de duração, a história arrastada se assemelha a uma eternidade presa na Chicago dos anos 1980.
Nem mesmo a trilha sonora típica da época é capaz de salvar Michelle e Obama da ruína: músicas tão alegres colocadas em momentos de tensão, e a composição dramática entra como uma função catalisadora fria e cruel que deseja mais que tudo nos forçar a derramar uma lágrima por uma narrativa nada envolvente. As metalinguagens são usadas profusamente e apenas mancham uma paleta de cores sem identidade e que pode ser definida como uma mixórdia caótica. Apenas Sawyers e Sumpton são os pontos de luz num túnel escuro - pela atuação e pela química que trazem em cena. O confronto entre reacionário e libertário é constante, mas os temas não se desenvolvem além da superficialidade e irritam até os mais leigos espectadores.
Michelle e Obama (Southside With You, no original) não acrescenta em nada na história do cinema; pelo contrário, sua estética panfletária incomoda e entra como um artifício muito mal elaborado cujo lançamento “coincidiu” com as conturbadas eleições dos Estados Unidos deste ano. O filme só irá agradar aos seguidores mais fanáticos do casal Obama - e pode ser que nem chegue a isso.
Crítica | A Rede Social - A Obra-prima de uma geração
Muitos spoilers.
É incrível como muitas vezes, aquilo que pode não fazer o menor sentido de início acaba revelando-se, na verdade, a melhor decisão possível no final. Digam que Heath Ledger será o novo Coringa dos cinemas em Batman - O Cavaleiro das Trevas, passe pela inevitável sombra de desconfiança pela performance de Jack Nicholson, e temos um dos melhores vilões da História do Cinema. Diga que Quentin Tarantino dirigirá um filme ambientado na Segunda Guerra Mundial, e temos o neo clássico Bastardos Inglórios. Diga que David Fincher, mestre dos filmes de suspense e serial killers dirigirá um filme sobre a história e fundação do Facebook... E temos uma das melhores obras de arte do Século XXI com A Rede Social.
O roteirista Aaron Sorkin dramatiza aqui os eventos que levaram Mark Zuckerberg (vivido por Jesse Eisenberg) a criar aquela que atualmente é a maior rede social do planeta, e talvez o site mais acessado da internet depois do Google. Somos jogados em 2004, na faculdade de Harvard, onde Zuckerberg acaba de tomar um pé na bunda de sua namorada, Erica (Rooney Mara), que simplesmente não aguenta mais sua arrogâncai e temperamento difícil. O término leva Zuckerberg a encher a cara e se distrair com algum experimento de internet, onde hackeia todos os servidores da faculdade para criar um jogo de classificação dos alunos, algo que em poucas horas derruba o sistema e coloca Mark na diretoria. Isso também atrai a a atenção dos gêmeos Tyler e Cameron Winklevoss (ambos vividos por Armie Hammer) e de seu sócio Divya Narendra (Max Minghella) que o convidam para ajudar a criar uma rede social exclusiva para a faculdade de Harvard.
Porém, Mark acaba pegando o conceito e desenvolvendo-o para algo mais complexo, saindo na frente com o lançamento de seu The Facebook, que rapidamente torna-se a grande sensação no campus e vai expandindo-se para demais universidades, escolas e até países. Com a ajuda de seu melhor amigo, Eduardo Saverin (Andrew Garfield) Mark segue monetizando o site e iniciando sua própria empresa, o que provoca a ira dos gêmeos Winklevoss, que partem para confrontá-lo nos tribunais, e também do olho gordo do ambicioso empreendedor Sean Parker (Justin Timberlake). Todos esses acontecimentos colocarão Mark em um turbilhão de negócios, conflitos e inimizades, ao mesmo tempo em que vamos tentando entender o que é mais importante para ele.
Pela sinopse, já fica claro que é uma premissa um tanto mais complexa do que a mera criação de um site, então isso definitivamente nos livra da errônea primeira impressão de este ser "Facebook: O Filme". O que temos no lugar é uma obra inteligente que é muito eficiente em sua proposta de analisar as relações humanas no século XXI, marcadas pela interatividade virtual, as táticas agressivas do business empreendedor e o desejo de ser aceito que assola o protagonista da história. São temas importantes que facilmente se perderiam em um roteiro desconcentrado, mas felizmente o genial Aaron Sorkin acabou responsável pelo texto, partindo do livro Bilionários por Acaso, de Ben Mezriech.
O Gênio de Aaron Sorkin
Conhecedores do roteirista sabem que a verborragia é sua marca absoluta, e que dizer algo de maneira direta e objetiva está longe de suas ambições artísticas, que estão mais interessadas no comentário, no sarcasmo e na ironia; características que tornam seus diálogos tão deliciosos de se ouvir e tão ricos em detalhes - algo que infelizmente é perdido até mesmo na tradução em português. Logo na cena que abre o filme, vemos uma conversa entre Mark e sua namorada Erica (pode-se dizer que é a primeira vez em que Mara realmente chamou nossas atenções), e é um diálogo longo e robusto que dura uns bons 6 minutos com apenas o básico plano/contraplano de Fincher para retratar a ação.
É praticamente contra a premissa do próprio Cinema, que clama para que "mostre ao invés de contar", mas as imagens facilmente se formam graças à escrita impecável de Sorkin e as performances espetaculares de Jesse Eisenberg e Mara na cena em questão - cena que foi rodada nada menos do que 99 vezes, dado o perfeccionismo absurdo de Fincher. É também a cena que perfeitamente nos introduz a TUDO o que viria a seguir, desde a personalidade difícil de Mark e sua mania de manter diálogos paralelos (que veríamos na montagem simultânea de passado e presente), nos apresenta de nome à Eduardo Saverin, ao universo do remo acadêmico, o desejo de ser parte de uma fraternidade da universidade e à neura que assombrará o protagonista até o segundo final de projeção: se é, ou não, um cuzão.
É essa jornada de Mark onde reside o grande núcleo do filme, e a maestria na forma com que é narrada é um dos motivos pelo qual o longa foi comparado a Cidadão Kane na época de seu lançamento - uma comparação temática longe de ser exagero, se me perguntarem. Ainda na fantástica primeira cena, não só Sorkin apresenta todos os temas e elementos da história, mas também deixa claro nos primeiros segundos de diálogo as intenções de Mark: como se destacar em uma sociedade repleta de gênios e pessoas talentosas, como Mark precisa "fazer algo substancial" para receber a atenção dos Final Clubs, que ele considera como a porta para uma vida melhor onde ele talvez encontre essa forma de se destacar - chegando até a usar a eleição de Teddy Roosevelt como um argumento positivo às fraternidades. Isso praticamente nos justifica tudo o que o protagonista quer: ser especial. Mesmo sendo uma figura difícil e que muitas vezes tomará ações hediondas, é facilmente compreensível entender o que move Zuckerberg ao longo de sua história.
Isso fica ainda mais complexo quando Eduardo vai chegando cada vez mais próximo de se tornar parte de um dos Final Clubs, o que claramente provoca um sentimento de inveja por parte de Mark - não só por ver o amigo alcançando justamente aquilo que ele queria desde a abertura do filme, mas também pelo ciúmes pela ideia de perder seu grande companheiro para algo maior; as sutilezas na performance de Eisenberg são eficientes em indicar isso. A subsequente traição que o personagem sofre após a entrada de Sean Parker no jogo é até descrita pelo próprio Saverin como uma forma de Mark "se vingar" pelo fato de ele ter conseguido a tão sonhada participação na fraternidade, que somada ao fato de Mark ter tornado-se ambicioso demais em busca de seu próprio sonho e aliado-se a Parker, denotaram em sua expulsão da empresa. Só mesmo na vida real para termos a gigantesca ironia do fundador da maior rede social no planeta perder sua única amizade real no processo.
Mas, ainda falando sobre o arco de Mark, nenhum deles é mais importante e crucial do que o de Erica Albright. Se mencionei Cidadão Kane ali em cima, Erica é o Rosebud de Mark, o elemento por trás da história que acaba definindo a grande motivação emocional do protagonista. É Erica quem provoca todos os eventos do primeiro ato, ao terminar com o protagonista, lhe jogar na crise emocional que provoca a ideia do Facemash e o resto é História. Quando temos o segundo encontro entre os personagens no filme, Mark já lançou o Facebook e começa a ficar notório pelo sucesso do site, sendo essa a primeira pergunta que lhe dirige quando se esbarram em um restaurante. Mesmo com o sucesso do site e o fato de ter começado a sair com garotas graças a ele, quando Erica simplesmente não faz ideia do que é o site ("Boa sorte com o seu videogame") e o repreende por te-la xingado virtualmente em seu blog após o incidente do Facemash, Erica o destrói por completo e acaba despertando ali mais uma motivação ao personagem: expandir.
A motivação inicial de Mark no início era claramente tornar-se especial, mas aos poucos vamos tomando nota de que sua motivação realmente é ganhar a atenção de Erica, algo que fica mais nítido quando se interessa na história (falsa) de Sean Parker sobre como ele tentara impressionar uma ex-namorada do colegial ou na reveladora cena final, encontra Erica no Facebook e a adiciona. E percebam a elegante rima entre a primeira cena e a última, onde Mark e Erica estão juntos de frente para o outro num bar lotado de pessoas, enquanto o final nos mostra Mark sozinho a observando pela tela de um computador.
Nunca poderia imaginar que adicionar alguém no Face seria algo tão simbólico.
Então somos apresentados à sofisticada estrutura narrativa do filme, que constantemente intercalará as ações de Mark dando início ao Facebook com os dois processos legais que se seguiram após o lançamento e popularização do site. Tal decisão exige muita atenção do espectador, já que uma pequena informação pode ser entregue com um corte rápido; se flashbacks geralmente rendem sequências mais longas, a técnica de Sorkin - aliada ao perfeito trabalho de montagem de Kirk Baxter e Angus Wall - muitas vezes nos leva de volta no tempo apenas para que possamos ouvir um único comentário de algum dos personagens. É um estilo radical e que garante uma linguagem ainda mais frenética e dinâmica ao texto fluido de Sorkin, jamais deixando o espectador cansado e nos dando a experiência virtual de como é se estar dentro da cabeça de Mark Zuckerberg, que desde a primeira cena inferniza sua namorada por estar sempre mantendo assuntos paralelos dentro do mesmo diálogo. E ainda que não goste totalmente da ideia, não nego que os saltos temporais representem uma eficiente versão do efeito zapping que realizamos ao surfar por diferentes sites na internet e absorver diversos conteúdos ao mesmo tempo, mas mergulharemos nisso mais à frente.
A maestria de Sorkin estende-se também à criação dos personagens que, mesmo tratando-se de figuras reais, ganham uma dramatização necessária para torná-los figuras mais caativantes; então uma necessidade de ser fiel à vida real não é exatamente uma necessidade, o próprio Sean Parker real afirmou que não era nada bad boy como o filme o retrata, por exemplo. Veracidade à parte, todos os personagens de Sorkin ganham um tratamento impecável e diálogos fervorosos que são capazes de nos diferenciar suas personalidades: a arrogância de Mark, a fala mansa de Sean e a lealdade de Eduardo são características fortes ali, e Sorkin é bem sucedido em escrever diálogos que reforçam a amizade dos protagonistas de forma natural, levando para o momento da destruição algo muito poderoso e triste. A forma como apresenta o empreendedor vivido por Justin Timberlake também é uma aula de roteiro e introdução, já que - assim como o diálogo inicial entre Mark e Erica - nos diz tudo o que precisamos saber sobre o personagem: acorda sem roupa na cama de uma universitária (vivida pela Dakota Johnson pré-Cinquenta Tons de Cinza) sem lembrar-se de seu nome ou contexto da situação, apenas para em questão de minutos reverter a situação através de sua fala e inteligência.
Parker é quase como o lado sombrio do filme, da maneira como convence Mark a abrir os olhos para o mercado empreendedor e deixar a visão ingênua e amadora de Eduardo para trás. Os exemplos perfeitos dessa sedução encontram-se no diálogo entre Sean, Mark, Eduardo e a namorada, Christy (Brenda Song), onde Mark enfim é apresentado à Parker, e tanto o texto de Sorkin quanto a direção de Fincher são cirúrgicos em captar as diferentes ideias que circulam a mesa de jantar, fazendo isso até na distribuição dos personagens: na ponta direita da mesa, Eduardo e seu terno esporte preto está irritado pelo atraso de Parker - já reforçando sua descrença no sujeito - enquanto no outro extremo, Mark e suas roupas coloridas e suaves mal conseguem conter sua empolgação pelo encontro, enquanto Christy apropriadamente senta-se entre os dois, de forma a manter o meio-termo. Do outro lado da mesa, Parker facilmente ganha o "confronto", e começa justamente ao ganhar a afeição do "meio-termo Christy" ao lhe perguntar qual bebida gostaria de tomar e imediatamente pedir ao garçom a mesma bebida para todos ali - e é genial o pequeno jesto de Eduardo logo depois do pedido, quando rapidamente coloca seu braço ao redor de Christy, já temendo que Parker roube até mesmo sua namorada.
Essa antítese entre Sean e Eduardo é algo muito interessante de se analisar, até porque Sean surge quase como uma versão espelhada melhorada do jovem brasileiro. Ainda na cena do jantar, repare como o figurino de Eduardo e Sean são muito parecidos, com a gritante diferença de que o terno esporte de Sean parece muito mais justo e à vontade, além de trazer uma camiseta por baixo; ao passo em que o de Eduardo é um terno consideravelmente mais largo e com uma indiscreta gravata branca. Em outro momento, vemos Eduardo com o mesmíssmo terno enquanto Sean usa uma peça parecida, mas com um paletó que traz um hoodie acoplado: Sean é o lado cool, moderno e descolado do jovem empreendedorismo, enquanto Eduardo representa o lado mais retrógrado, que veste ternos grandes demais para suas próprias ambições. Detalhe sutil e genial da figurinista Jacqueline West.
Esse diálogo no jantar fora apenas o início da sedução de Mark por Sean, e é algo que concretizado de forma memorável durante a conversa entre os dois em uma balada de San Francisco. Com uma música altíssima de fundo, vemos um clássico exemplo de Aaron Sorkin: Mark comenta que as duas acompanhantes de Sean lhe parecem familiares, pois descobrimos depois que são modelos da Victoria's Secret, mas Sean não limita-se a dizer "são modelos da Victoria's Secret", embalando aí um longo monólogo onde conta a história do fundador da marca de lingerie, assim como sua ascensão e queda do poder. Não só é uma estratégia de escrita muito elegante, como também nos mostra como Sean vai sutilmente puxando as cordinhas em Mark, contando a história da Victoria's Secret para fazer o jovem enxergar o potencial de sua empresa e confiar em sua visão. É nesse ponto em que Mark se perde totalmente à Sean, em uma maravilhosa aula de roteiro.
É facilmente um dos melhores roteiros já escritos.
500 Milhões de Amigos
A começar com Jesse Eisenberg, que parece ter nascido para interpretar esse tipo de pessoa socialmente defeituosa e neurótica, algo que o texto de Sorkin e a direção de Fincher exploram muito bem. A fala acelarada do jovem ator dá fôlego às palavras de Sorkin, assim como a proposital sensação de confusão pela velocidade de seu discurso, transformando esse retrato de Zuckerberg em algo calculista e que parece estar quilômetros à frente de qualquer outra pessoa na sala. A raiva e a tristeza de Mark facilmente se misturam na ótima performance de Eisenberg, como na cena em que discute com Eduardo por telefone quando a conta da empresa é congelada; e facilmente vemos o medo do jovem de retornar à sua vida solitária por trás de seu discurso raivoso. É belo também ver os pequenos momentos de vulnerabilidade de Mark, seja em sua "oração" após finalmente publicar o Facebook ou sua completa confusão mental ao ser despejado por Erica, assim como os lampejos de felicidade, geralmente provocados pelo discurso persuasivo de Sean.
Certamente a especialidade de Eisenberg, o sarcasmo é uma dos traços mais fortes e divertidos do personagem, que é capaz de tornar-se malicioso e o líder da situação com facilidade. Reparem durante uma das cenas de depoimentos, onde Mark repentinamente vira-se para a janela a fim de observar a chuva - completamente ignorando as perguntas do advogado dos Winklevoss -, retornando para o diálogo com a expressão e a voz cansadas, como se simplesmente não aguentasse mais ouvir tudo isso, até o momento em que sua persona vai crescendo e crescendo e Eisenberg entrega um monólogo ameaçador e genioso sobre como seu tempo poderia estar sendo melhor gasto; em um contraste impressionante com como havia iniciado o diálogo. Ainda que o Mark real possa não ser assim, acho indiscutível que o Zuckerberg criado por Eisenberg é um dos personagens mais icônicos e únicos que o Cinema recente foi capaz de oferecer até agora.
O calculismo e dicção robótica de Zuckerberg são balanceados pela performance mais emotiva de Andrew Garfield como Eduardo, eficiente em construir uma relação de amizade verdadeira e que funciona ao longo da narrativa. Através de pequenas nuances, como sorrisos de canto ou olhares baixos, percebemos que Eduardo aceita todas as imperfeições e até a grosseria de Mark, como quando ele responde secamente que "não deveria ficar triste se não conseguir passar" quando este euforicamente lhe informa sobre seu processo de aceitação no final club da Phoenix; e o olhar de Garfield durante essa cena é capaz não só de resistir ao insulto discreto, mas enxergar a nítida camada de inveja do amigo. A destruição da amizade garante os melhores momentos do ator, especialmente na excruciante cena em que Eduardo descobre sua remoção como CFO do Facebook e confronta Mark cara a cara, espatifando seu notebook no processo. Os olhos de Garfield ficam vermelhos enquanto este segura as lágrimas durante seu discurso raivoso, e temos aí uma das cenas mais poderosas e impactantes do filme.
A grande surpresa fica por conta de Justin Timberlake, que jamais havia se mostrado como um ator promissor até então. Pra começar que é muito irônico o casting de um artista do meio musical para interpretar um sujeito que acabou encrencado justamente por burlar direitos autorais de cantores e artistas do meio - o próprio Timberlake já tendo contato com Parker antes mesmo de se aventurar no cinema. Dito isso, Timberlake está excelente na pele de Parker, sendo capaz de capturar a persona moderna e visionária do empreendedor, assim como é intensamente sedutor e sensato na forma como convence os demais personagens; sempre carismático e sorridente. Justamente por isso, a cena em que ele e Eduardo têm o único diálogo sozinhos revela um Sean muito mais aberto: sem gracinhas ou máscaras para esconder suas intenções, Timberlake diminui o volume de sua dicção e entrega uma performance fria e quase ameaçadora, ainda que mantenha seu sarcasmo tradicional: "Sabe o que eu li sobre você? Nada."
Se o elenco sofreu nas mãos de Fincher com suas múltiplas tomadas, eu nem consigo imaginar a dor de cabeça que Armie Hammer deve ter passado, já que acabou com a difícil responsabilidade de interpretar dois personagens. Não só isso, dois personagens geneticamente idênticos e com personalidades distintas, aumentando ainda mais o desafio de criar figuras opostas.... Tendo a mesma aparência. Os Gêmeos Winklevoss foram criados a partir de um elaborado jogo de câmera e montagem que nos permite ter uma tela dividida - gravando a mesma cena duas vezes, mas com o ator "duplicado" atuando como um diferente personagem a cada tomada - e também através de um sofisticado efeito visual de substituição de cabeça, onde o dublê de corpo Josh Pence tinha sua cabeça digitalmente substituída pela de Hammer, que atuava em uma câmara de captura de performance. Fincher dirigindo uma captura de performance, imaginem só o trabalho...
Mas felizmente Hammer é um ator fantástico e se sai muito bem na criação de Tyler e Cameron, e fico triste que o ator ainda não tenha conquistado um nome de destaque em Hollywood. É uma performance muito funcional, com Cameron sendo o gêmeo mais racional e calmo, até propondo a seu irmão e Divya que uma abordagem pacífica e sem holofotes à situação de Mark seria a melhor escolha - mesmo que a voz do ator seja grave, é possível notar a linha suave na dicção do ator. Já Tyler é o mais explosivo e imediato, algo que Hammer consegue transmitir muito bem através da postura do irmão - também é esperto que Tyler muitas vezes use um protetor de orelha ou óculos de natação, já mostrando a preocupação do personagem com sua segurança, justificando também seu anseio em proteger sua propriedade intelectual.
Então temos duas personagens femininas que, apesar de terem pouco tempo de cena, são de extrema importância para a trama. A primeira, obviamente, é a que vemos interagir com Mark na cena de abertura, a Erica Albright de Rooney Mara. Lembro-me de, no mesmo ano, ter visto a atriz protagonizando o remake de A Hora do Pesadelo, e mesmo sofrendo com uma direção ruim e um material podre, ficou nítido ali um talento notável na moça, que realmente mostra a que veio em sua performance estelar durante o primeiro diálogo. Vemos como o interesse de Erica na primeira informação de Mark vai lentamente se convergindo a tédio e confusão, e Mara tem ótimas nuances na expressão quando - por exemplo - tenta fugir de um assunto no qual Mark está claramente obsessivo ao sorrir e tentar retomar a conversa, mantendo a educação e segurando a explosão do pavio já aceso. Quando ela enfim resolve acabar o relacionamento, Mara é determinada e nervosa, e acaba marcando uma forte presença durante seu monólogo final, quando pela primeira vez no filme, vemos alguém chamar Mark de cuzão.
A outra personagem é a advogada Marilyn Delpy, vivida por Rashida Jones em um papel limitado. É a última pessoa com quem Mark interage no filme, quando resume para Mark - e o espectador - o que acontecerá ao final de ambos os julgamentos, e mais importante, talvez seja a única pessoa de todo o filme que consegue penetrar a bolha protetora de Mark sem intenções maliciosas. Pontualmente vemos Jones reagindo de diferentes formas à algumas informações da história, na medida em que a narrativa avança nas duas linhas temporais, mas é só no final que realmente vemos sua importância. Não só servindo como o coro grego da história, Delpy diz a coisa mais importante de todo filme para Mark: "Você não é um cuzão, mas se esforça demais pra ser um", o que culmina na catarse mais significativa do personagem, além de imeditamente o levar a procurar Erica no Facebook. Mesmo que seja uma curta participação, Jones está ótima.
Nada Fincher, mas totalmente Fincher
Finalmente, sobre a direção de David Fincher. Depois de tantos suspenses e filmes de serial killers, é muito improvável que este filme tão verborrágico e que dependesse de um diretor contido ganharia a assinatura de Fincher. Ironicamente, este é um daqueles casos em que roteirista e diretor completam-se em uma perfeita simbiose onde cada um eleva o trabalho do outro simultaneamente: é o filme mais contido de Fincher, e também o melhor de sua carreira, mas não é por não termos alguns de seus maneirismos habituais que este filme torna-se "menos Fincher". Sua presença é sentida na fluidez perfeita das cenas, que atingem um nível de perfeição estético e dramatúrgico sem precedentes, em parte às repetidas vezes que o diretor grava uma tomada, o que resulta no aprimoramento cirúrgico de cada ação, toque ou fala.
Em nenhum momento temos um embate entre Fincher e Sorkin, algo que nitidamente ocorreu em Steve Jobs; e o fato de Danny Boyle constantemente procurar formas de traduzir visualmente o texto detalhista de Sorkin é o principal motivo para que o biopic do fundador da Apple não tenha sido uma nova obra-prima. Aqui, Fincher mantém sua condução discreta e elegante sem ofuscar o roteiro, optando por algo mais requintado no visual obscuro, contendo luzes amareladas e sombras dignas de um noir que a fotografia de Jeff Cronenweth ilustra tão bem, e acaba fornecendo um toque de thriller para A Rede Social; como na ótima sequência em que vemos Mark hackeando o sistema de Harvard com a mesma tensão e determinação de um assalto a banco ou no aterrador diálogo entre Mark e Sean em uma balada com música eletrônica altíssima, marcada pela mistura de luzes roxas e vermelhas que piscam sobre o rosto dos personagens e conferem um caráter ainda mais ameaçador ao fundador do Napster.
As sutilezas do diretor também se manifestam através de planos e movimentos de câmera elaborados. Por exemplo, o tilt onde vemos os chinelos de Mark em meio aos sapatos dos engravatados, o discreto plano sequência que acompanha Mark conversando no carro com Sean, saindo para a continuação dessa conversa e então subindo as escadas de pijama para uma reunião de investidores ou como mantém a câmera estática, sem cortes, durante a primeira discussão tensa entre Mark e Eduardo - apropriadamente encurralando-os no canto de uma parede chapada e amarelada. Há ainda um jogo mais complexo e que pode passar completamente batido pelo espectador durante uma das cenas finais, quando Mark e Sean conversam ao telefone após a prisão deste: na delegacia, Sean encontra-se no canto esquerdo do quadro, enquanto Mark está sentado no QG do Facebook no canto direito do quadro. Quando Sean move-se para o canto direito, o corte volta para Mark e o vemos deslizando com a cadeira para o canto esquerdo, quase como se - através desse jogo dessa mise em scène - o personagem estivesse evitando a todo custo ficar "ao lado" de seu sócio, repudiando suas ações.
A lógica dos enquadramentos é outro quesito sutil e poderoso aqui, especialmente na forma em que Fincher lida com os conflitos. Por exemplo, a conversa de telefone entre Mark e Eduardo já é um momento esquentado por natureza (dado o contexto de que Eduardo acabara de congelar a conta bancária da empresa) e o diretor usa novamente a estética de deixar cada personagem em um canto da tela durante os planos - reforçando o antagonismo - mas o interessante é que Eduardo claramente tenta apagar o fogo que é o nervosismo de Mark e sua posição no Facebook, até o momento em que sua namorada enciumada ateia fogo em um de seus presentes, e Fincher habilidosamente coloca o ato ocorrendo fora de foco, atrás de Eduardo; a perfeita síntese da situação pela qual o personagem se encontra no momento, agora tendo que apagar um fogo não só figurativamente, mas literalmente. E seguindo a mesma lógica, o que ocorre no plano detrás de Mark também é uma perfeita representação não só de seu estado, mas de seu personagem como um todo: Sean e um grupo de adolescentes farreando e comemorando dentro de uma sala, enquanto ele resolve problemas da empresa. Quando Mark enfim vira-se para observar a festa, uma rajada de champanhe é despejada pela janela de vidro, com o plano de Fincher lindamente representando a barreira invisível entre Mark e as outras pessoas, mostrando uma vida que ele parece ser incapaz de ter.
Felizmente, Fincher só deixa seu lado mais megalomaníaco ressurgir nos momentos certos, onde o texto realmente não é o elemento mais importante - algo muito raro nos roteiros de Aaron Sorkin. O grande exemplo aqui obviamente é a sequência da Henley Royal Regatta, onde a equipe de remo dos gêmeos Winklevoss sofre uma derrota apertada de seus concorrentes em uma corrida. Aqui, Fincher realmente conta tudo com apenas imagens, tomando como grande parceiro o fantástico eletrônico cover que Trent Reznor e Atticus Ross oferecem para "In the Hall of the Mountain King", criando uma sequência eletrizante e que funciona sem qualquer tipo de som, tanto pela beleza estética da profundidade de campo reduzida ou pela alegoria de que os Winklevoss perdem a corrida - assim como perderam o Facebook - por muito, muito pouco. A sequência quase robótica é magistralmente montada de forma a sincronizar os movimentos de ambas as equipes de remo com as batidas da música, e é o tipo de cena que ao assistirmos já sabemos que se tornará clássica.
Sol Pintado em Abstrato
Constantemente vemos esse Fincher mais elegante, com extrema ajuda da trilha de Reznor e Ross, uma das mais originais e empolgantes daquele ano; se hoje ouvimos tanta eletrônica e "ambiência" em trilhas sonoras, pode apostar que tudo se deu à investida da dupla aqui, que saiu com a merecida estatueta do Oscar pelo excelente trabalho. O tema principal do filme, "Hand Covers Bruise", é uma síntese perfeita do personagem de Mark Zuckerberg: solitárias notas de piano que repetem-se eternamente, tendo em fundo o efeito sonoro característico de um computador (similar àquele arcaico barulho da internet discada) e um aparelho conhecido como swarmatron, que emite um som contínuo similar a uma vibração/distorção, fornecendo o clima de suspense e inquietação essencial à história - até mesmo o nome, "mão cobre machucado", é assustadoramente relevante aos temas do filme. É uma música icônica e que inteligentemente é usada apenas três vezes no filme: a cena de abertura com Mark correndo no campus (apresentação da história e do universo, pontuando a solidão de Mark), durante o insulto de Mark no depoimento (o lado sombrio do personagem emergindo) e no confronto verbal entre Mark e Eduardo no clímax (o efeito mais dramático e que marca o fim da amizade dos dois).
É uma trilha atmosférica e que funciona perfeitamente bem durante todos os momentos, seja para pontuar a dramaticidade, vide o uso do piano na faixa "Penetration" para as reuniões tediosas de Mark e Eduardo com anunciantes ou para salientar sentimentos abstratos, como o som distorcido de "The Gentle Hum of Anxiety" durante a prisão de Sean ou as batidas animalescas de "Magnetic" para a cena do jantar com o mesmo. Aliás, é genial como Reznor e Ross reaproveitam uma de suas faixas durante a fase do Nine Inch Nails para a cena em que Eduardo escreve o algoritmo na janela e a sequência do Facemash se espalhando, com "A Familiar Taste". Não só a guitarra pontua bem o aspecto "radical" da ação de Mark, mas traz um efeito sonoro que se assemelha muito com a ponta de uma caneta esferográfica sendo deslizada por uma superfície plana, e podemos facilmente fazer a conexão com a caneta de Eduardo na janela. De certa forma, a música pontua como essa caneta na janela se ramificou assustadoramente.
E já que falamos sobre efeitos sonoros, uma das áreas mais subestimadas do filme - e que provocou muitas dúvidas durante sua indicação ao Oscar - é a mixagem de som chefiada por Ren Klyce, um dos leais parceiros de Fincher. Sendo um filme que traz uma quantidade enorme de diálogos, e muitos deles acontecendo simultaneamente, é necessário um tratamento de som com muito cuidado e sutileza, setor no qual Klyce é excepcional. A primeira cena, por exemplo, é um perfeito exemplo de como se construir uma boa ambiência, com o diálogo de Mark e Erica quase sendo ofuscado pelas conversas paralelas no bar, além da música "Ball & Biscuit" do White Stripes estar perfeitamente reverberizada ao fundo. Um exemplo mais dramático é a cena da balada, onde as caixas de som explodem com a música eletrônica "Sound of Violence", de Dennis De Laat, fazendo com que Timberlake e Eisenberg praticamente gritem suas falas enquanto a música literalmente nos coloca no lugar. O melhor é ver como a faixa original foi editada e remixada para pontuar melhor trechos específicos do discurso de Sean, como a explosão do refrão da música quando o empreendedor grita "This is a once in a generation holy shit idea!" ou a diminuída no volume da música quando enuncia "I'm CEO, bitch".
O que nos leva, enfim, ao processo de montagem. Outra categoria vitoriosa do filme no Oscar, a montagem da dupla Kirk Baxter e Angus Wall é uma dos aspectos mais fortes do filme, que majestosamente dão conta da direção minuciosa de Fincher e da narrativa entrecortada de Sorkin. Logo na primeira cena (já perceberam que essa cena é perfeita, certo?), a ordem dos cortes obedece a uma direção certeira para criar efeitos diferentes, como o plano aberto que apresenta a cena, o corte para um plano mais central de Erica quando ela menciona Final Clubs ou a velocidade do vai e vem aumentando à medida em que Mark acelera seu discurso, deixando tanto Erica quanto o espectador num estado confuso.
A sequência do hacking de Harvard é um dos grandes exemplos de como a velocidade melhora uma cena, e Baxter e Wall lidam com diversas ações paralelas ao mesmo tempo: a festa no Final Club de Phoenix, a tela do computador enquanto Mark hackeia, a página do blog e o próprio Mark interagindo com seus amigos - além dos planos de apoio que incluem o teclado e o mouse. Os cortes são eficientes na forma com que organizam a ação de escrever no blog com a de digitar um código, além da maneira como as imagens da festa do Phoenix se inserem sugerirem algo quase onírico, como se Mark estivesse sonhando com aquilo.
Essa organização de linhas temporais e vai e vem de personagens e ações é algo executado com precisão impressionante, e eu realmente não preciso discorrer muito sobre esse incrível trabalho, que é um curso gratuito para muitos editores por aí. Outro aspecto que merece atenção é aquele que passa despercebido, que pode ser realizado com alguns cortes e elipses muito sutis - a dupla se especializou nisso com dois cortes muito específicos em Millennium - Os Homens que Não Amavam as Mulheres e Garota Exemplar. Por exemplo, quando os Winklevoss e Divya discutem sobre o fato de Mark querer expandir o site para a universidade de Stanford, imediatamente somos levados para um quarto em Stanford - algo que só descobrimos quando vemos o nome escrito na calcinha de uma das alunas -, onde o Facebook já é popular. Uma elipse perfeita que se manifesta de forma similar na cena da balada, onde Sean promete a Mark levar o Facebook para outro continente. Alguns segundos depois, um fade to black nos leva diretamente para Henley, Inglaterra, onde temos a sequência da Royal Regatta. E, claro, o Facebook já está popular ali. Dessa forma, mesmo que constantemente voltando no tempo, a narrativa de A Rede Social está sempre avançando.
A Once in a Generation
A Rede Social talvez seja o exemplo perfeito de como um filme pode subverter expectativas. É um estudo de personagem poderoso, movido pelo roteiro absolutamente perfeito de Aaron Sorkin a direção magnífica de David Fincher, que entende suas sutilezas e leva seu talentoso elenco a explorar áreas cheias de nuances e detalhes ocultos. A saga de Mark Zuckerberg e a criação de seu revolucionário Facebook pode desde já ter seu espaço certificado na História, dado o domínio da linguagem cinematográfica e a eficiência com que conta uma história que, à primeira vista, pode parecer banal e sem muito espaço para reflexões. Na verdade, estamos diante (ainda) do melhor filme da década.
Como o próprio Sean Parker atesta em certo momento, é um evento que só aparece uma vez a cada geração.
A Rede Social (The Social Network, EUA - 2010)
Direção: David Fincher
Roteiro: Aaron Sorkin
Elenco: Jesse Eisenberg, Andrew Garfield, Justin Timberlake, Armie Hammer, Max Minghella, Rooney Mara, Rashida Jones, Brenda Song, Joseph Mazzello, John Getz, David Selby, Denise Grayson, Josh Pence
Gênero: Drama
Duração: 120 min
https://www.youtube.com/watch?v=lB95KLmpLR4
Leia mais sobre David Fincher
Crítica | O Último Virgem - Mirando em American Pie e errando feio
O que os longas “Loucas Para Casar”, “Vai Que Cola” e “Meu Passado Me Condena 2” tem em comum? Ambos são comédias e passaram dos dois milhões na bilheteria e os três foram os líderes entre os filmes brasileiros mais assistidos em 2015.
Nos últimos anos as produtoras vêm investindo pesado em comédias principalmente a Globo Filmes e entrando na onda desse sucesso em que as comédias nacionais se tornaram sensação a distribuidora Downtown Filmes que já havia lançado sucessos como “O Candidato Honesto” e “Minha Mãe é Uma Peça” lança no dia (11) o filme O Último Virgem.
Dirigido pela dupla Felipe Bretas e Rilson Baco ambos com experiência em séries e documentários trabalharam nessa produção. O roteiro foi escrito por Lipy Adler, o personagem Escova do filme, o amigo pegador e que aconselha o personagem principal a perder a virgindade.
A trama é muito parecida com a de comédias americanas que já assistimos como “American Pie” ou “SuperBad - é Hoje”. Quatro amigos estão no último ano do colégio e deles apenas o nerd Dudu - personagem feito por Guilherme Prates – não perdeu a virgindade. Eles têm uma professora que é o sonho de consumo de todos adolescentes do colégio.
Ela é sexy, atraente e inteligente. Um dia durante o fim de uma aula em uma cena surreal e ridícula, a professora pede para Dudu ficar no final da aula e o convida para estudar de noite em sua casa. Os três amigos ao saber do acontecido incentivam o rapaz a perder a virgindade antes de ter o encontro com a professora para não passar vergonha. E nisso passam por vários apuros até chegar ao grande encontro. Não se sabe ao ceto o que esses quatro querem no filme tanto que depois que acontece a festa na parte final eles praticamente desaparecem e o filme puxa tudo para o personagem do Dudu.
O Último Virgem é com toda certeza um dos piores filmes do ano e uma das piores comédias nacionais dos últimos anos. Roteiro ruim, direção idem, péssimos personagens, excesso de clichês e cenas constrangedoras como a situação inicial em que a mãe entra na hora em que o filho está sozinho fazendo “aquilo” e limpa a mão no mamão e sua mãe entra e come o mamão. Há muitas cenas bizarras como essa que querem forçar para dar risada, mas geram apenas vergonha alheia.
Você deve se perguntar porque ainda não citei a atriz Fiorella Mattheis que aparece com grande destaque no pôster de divulgação acima dos quatro personagens principais e que seria o grande destaque do filme. Seria, mas não é.
O grande destaque (se é que existe um) é a atriz Bia Arantes. Em um filme ruim como esse ela engole o personagem do Dudu e é de se lamentar que não tenha tanto destaque na história. Já a personagem de Fiorella se apareceu por mais de dez minutos no filme já foi o bastante. Foi um erro vender esse filme como se ela fosse a principal se ela nem aparece praticamente no filme, só está lá para chamar público. E o pior, você percebe que ela não está confortável em seu personagem.
A personagem não é sexy, nem sensual além de ser sem sal. E o que dizer do grupo dos quatro amigos? Todas situações pelas quais passam são mal dirigidas. Quando você pensa que vai rir em algum momento nada acontece. Em um filme de comédia é natural darmos risadas, mas o que acontece nessa produção é o contrário: temos vontade de chorar ao assisti-lo.
O Último Virgem (Brasil – 2016)
Direção: Rilson Baco, Felipe Bretas
Roteiro: Lipy Adler, L.G. Bayão
Elenco: Guilherme Prates, Fiorella Mattheis, Lipy Adler, Éverlley Santos, Christian Villegas, Gabi Lopes
Gênero: Comédia, Romance
Duração: 90 min
https://www.youtube.com/watch?v=ZguXOcLmKPc
Crítica | Anjos da Noite: Guerras de Sangue
Confesso que nunca vi nenhum filme da franquia “Anjos da Noite”. Nem na adolescência essa franquia me chamou a atenção. Só sabia que era sobre um romance proibido entre uma vampira e um lobisomem. Pois bem, após ver esse novo capítulo intitulado “Guerras de Sangue” (Underworld: Blood Wars), sinto que não perdi absolutamente nada ao não acompanhar essa história.
Esse quinto filme mostra a vampira Selene (Kate Beckinsale) que após perder o contato com a sua filha e seu marido, é caçada pelos dois lados: pelo clã de vampiros a qual era fiel e traiu e pelos lobisomens, chamados de Lycans. Quando os vampiros descobrem que o terrível Marius (Tobias Menzies) é o novo líder dos Lycans, decidem fazer um pacto com a heroína para que contenha essa ameaça e acabar de vez com a guerra entre os clãs.
Se a trama já soa genérica e desinteressante na sinopse, na prática ela consegue se superar: se torna genérica, desinteressante, clichê, previsível e estúpida. O roteirista da tal trama é Gary Goodman, que tem no currículo obras como “O Último Caçador de Bruxas”, “Apollo 18” e “Padre”. E Goodman mostra em “Anjos da Noite” o mesmo talento nulo apresentado nos outros trabalhos: o roteiro não tem ritmo; os personagens são desinteressantes, burros e clichês; os diálogos são horrorosos; e as “reviravoltas” dadas pelo roteiro são, no mínimo, risíveis. No fim o maior mistério da história acaba sendo como chamam esse cara para escrever uma trama, pois esse roteiro de “Anjos da Noite” tem erros típicos de estudante de cinema.
Se o roteiro já está infantil e imaturo, o que dizer da direção de Anna Foerster? Simples, consegue ser tão ruim quanto o roteiro. A diretora não tem noção alguma de como filmar, nem uma simples conversa entre dois personagens. Utiliza planos feios e desinteressantes e não sabe como dirigir atores. Parece que para Foerster, os atores tem que apenas fazer caras e bocas para câmera e é isso que todo o elenco faz. O único que consegue se salvar é o veterano Charles Dance, que consegue ter uma presença poderosa quando está em cena. O resto é só caras, bocas e poses para a câmera.
A diretora mostra também não ter noção alguma de como comandar sequencias de ação, que era para o ponto mais importante de um filme como esse.
Foerster erra no mesmo ponto que está se tornando comum no cinema de ação norte americano: excesso de cortes e quebra de eixo de câmera que acabam impossibilitando o espectador entender o que está acontecendo.
Não dá para entender os golpes dados pelos personagens, pois quando acontece o golpe, há um corte em cima. Isso acaba tirando o impacto do golpe e o espectador não consegue compreender a coreografia da cena, além de não da para entender a relação espacial dos personagens.
E para piorar, a fotografia escura de Karl Walter Lindenlaud deixa tudo incompreensível. E Foester parece ser uma grande fã de videogames, porque as maiorias das cenas de ação soam mais como cinematics (animações que acontecem entre as fases dos jogos) do que cinema. Os fãs de Mortal Kombat irão entender as referências em duas cenas específicas. Ou seja, todos os elementos que deveriam ajudar a criar as cenas de ação, são o que acabam deixando elas incompreensíveis e genéricas.
O visual do filme é um dos mais feios que vi nos últimos anos. Pois é absurdamente óbvio e de muito mau gosto. Exemplo: há dois clãs de vampiros, os do norte e os do sul. Os do sul são guerreiros, por conta disso acabam usando apenas roupas pretas e a casa do clã é toda cheia de espadas, enquanto os do norte são pacíficos e só utilizam roupas brancas e moram em um mosteiro. Tudo óbvio demais e os figurinos e os penteados soam como fantasias de carnaval de tão artificiais.
Além do design dos lobisomens ser risível, parecendo mais como vilão do Power Rangers do que alguma criatura ameaçadora e monstruosa. E os efeitos especiais são péssimos, quando Selene enfrenta Marius parece que a moça luta contra o ar, de tão mal feito que é o efeito do lobisomem.
Enfim, nada se salva nesse “Anjos da Noite – Guerras de Sangue”. A única coisa boa é que ele é um filme que funciona por si só, porque no começo há um resumo dos acontecimentos anteriores. Mas de resto é um longa que falha em praticamente tudo que pretende. Ele funciona apenas como comédia involuntária. E depois desse longa temo em ver os outros filmes da franquia. Acho que de franquia trash engraçada, ficarei com Resident Evil mesmo.
Anjos da Noite: Guerras de Sangue (Underworld: Blood Wars — EUA, 2016)
Direção: Anna Foerster
Roteiro: Cory Goodman
Elenco: Kate Beckinsale, Theo James, Lara Pulver, Charles Dance, Tobias Menzies, Bradley James, Alicia Vela-Bailey ,Trent Garrett
Duração: 91 min.
Crítica | 3%
Cuidado: crítica contém spoilers.
Distopias e utopias são representações simbólicas de um futuro remoto. Enquanto essas se referem a uma idealização completa e paradisíaca de como a raça humana se portará no futuro, aquela traz uma visão pessimista, onde temas como opressão e desigualdade social são recorrentes e a segregação de classes é levada ao extremo. As mais famosas obras distópicas que conhecemos, tanto no cinema quanto na literatura, são 1984 e Admirável Mundo Novo, romances de George Orwell e Aldous Huxley, respectivamente, e Metrópolis, de Fritz Lang - um dos filmes pioneiros da ficção científica.
Desde então, tivemos diversas releituras desse tema que culminaram em franquias muito populares entre os jovens e que introduziram alguns temas polêmicos de forma muitas vezes didáticas, como a futilidade, o conceito de meritocracia e outros, citando aqui Jogos Vorazes e Divergente, as quais trouxeram consigo um ótimo conceito, mas que por vezes não se concretizou da melhor forma possível.
O tema entrou em decadência, do mesmo modo que a estética em found footage. E então, em 2015, a gigante do serviço de streaming, Netflix, anunciou que adaptaria um piloto de baixo orçamento lançado em 2011, 3%, para uma produção original de oito episódios, seguindo o ritmo semelhante de outras séries distópicas, como o sucesso Black Mirror. Tal notícia se espalhou pelos quatros do Brasil de forma a causar bastante fervor, visto que seria o primeiro show nacional a entrar para extenso catálogo do serviço supracitado. E eu, como todos os outros apaixonados por entretenimento, não fiquei de fora. O que realmente me incomodava era a narrativa: uma mistura dos ideais meritocráticos defendidos pelos teóricos do século XVI com tecnologia - e mais uma vez o que suas trágicas consequências causariam na sociedade.
O grande problema foram as expectativas: conhecemos o nível Netflix de produção. Sabemos as mágicas que eles conseguem transportar das páginas do roteiro para a tela de diversos aparatos tecnológicos. E assim comecei a assistir a esta série, confesso que fiquei relativamente decepcionado.

Primeiramente, devemos entender que a tentativa de diversos realizadores - tanto de cinema quanto de televisão - brasileiro tenta trazer elementos da cultura estrangeira e adaptá-los para a realidade, sem se esquecerem de que esse simulacro na maioria das vezes cai no absurdo. Apenas nas últimas semanas, tivemos Sob Pressão chegando às telonas, uma cópia barata da soap opera Grey’s Anatomy, e SuperMax, uma tentativa de transformar a famosa antologia American Horror Story em subtramas brasileiras que tinham como único indício de nacionalidade sua localidade. Felizmente, 3% sucede de forma exímia no quesito identidade: já no episódio piloto, vemos a caracterização de uma comunidade no extremo norte da Floresta Amazônica fadada ao descaso e à mortandade que não se relaciona de forma alguma com as distopias europeias ou norte-americanas. Até a paleta de cores contribui para essa unificação: tons de vermelho, verde e azul contrastam entre si para criar um clima brasileiro e estranhamente onírico.
A história é até bem simples de ser resumida: em um futuro remoto, a sociedade foi dividida em duas - aquela pertencente ao Mar Alto e aquela que se limita aos prédios destroçados de uma favela e de uma sociedade cuja escassez se mostra como símbolo. A cada ano, os jovens que completam seu vigésimo aniversário podem participar do Processo, uma série de provas psicológicas e físicas que selecionará apenas 3% dos candidatos para serem transportados a um novo e melhor mundo. O conceito se mostra bem interessante: mas os deslizes vêm com sua execução.
Em Cubos, o primeiro episódio, César Charlone encabeça a direção geral e usa e abusa de planos holandeses e composições mais fechadas com a câmera na mão, relembrando de sua estética no longa Cidade de Deus, no qual trabalhou como diretor de fotografia. Aqui, a opção por um trabalho mais intimista logo dá lugar a vícios de linguagem monótonos que varrem conceitos muito interessantes para debaixo do tapete. A inclinação dos planos supracitados entra como símbolo para o desequilíbrio e para uma estética mais onírica e irracional, mas aqui é tão mal executada que chega a incomodar. Vale ressaltar que em alguns capítulos, como Água, a utilização dessa estética combina perfeitamente com o tom de flashback da narrativa, onde o roteiro procura analisar o passado do antagonista Ezequiel (João Miguel) e o faz de forma bem construída, mas de forma geral não harmoniza e inclusive desvia a atenção dos espectadores para possíveis metáforas.
Michele (Bianca Comparato), Fernando (Michel Gomes), Rafael (Rodolfo Valente), Joana (Vaneza Oliveira) e Marco (Rafael Lozano) são os protagonistas da primeira temporada, e decidir colocá-los como pertencentes a uma mesma massa foi um tiro saído pela culatra. Mais uma vez, a execução pelo roteiro deixou a desejar - e pior: deixou-os sem personalidade até mais ou menos a metade da série. Vez ou outra era possível perceber nuances em alguns dos personagens, mas colocando-os um do lado do outro, apenas conseguimos pensar que todos eram rebeldes de sua própria maneira, com ressalvas para Joana, que mostrou-se como uma das melhores criações e cujo arco ajudou a conexão entre personagem e público. E aqui, o deslize continua: a química do elenco parece inexistente até os quarenta e cinco minutos do segundo tempo. Michele e Fernando desenvolvem uma relação amorosa ao acaso e sem precedentes, impedindo qualquer compaixão quando os dois se separam no season finale, Botão, sem dizer que Comparato traz pouquíssima expressão para as telas.
Vale lembrar que todos estes erros se desenvolvem no episódio piloto e se alastram para dois episódios consecutivos. Assim que nos acostumamos ao ritmo frenético e não balanceado de uma montagem completamente irregular, os personagens parecem criar uma personalidade e começam a conversar com o público, trazendo-o para a realidade em que vivem, mas infelizmente não permitindo que mergulhemos em suas preocupações. Falando em termos geométricos, nenhum deles realiza uma parábola completa na primeira temporada, mantendo-se na linearidade total.
Um dos pontos positivos reside sobre a paleta de cores, como supracitado. Dentro da instalação do projeto, que aparenta sem bem menor por dentro do que por fora, somos apresentados a contraposição entre o neutro utópico do branco e às cores quentes próprias de uma irracionalidade exacerbada e condenável. Neste momento, estamos no ponto de vista dos antagonistas: do chefe do processo interpretado por Miguel, da chefe da segurança Cássia (Luciana Paes) e da nova secretária-sênior Aline (Viviane Porto), bem como seus inúmeros funcionários: todos eles veem os participantes como bárbaros animalescos que pertencem a uma classe inferior até serem purificados - e nós passamos a vê-los deste modo. A partir do quinto episódio, os tons de azul tornam-se predominantes, talvez indicando uma possível ameaça e angústia para a “sociedade perfeita”, mas que também não se mostra tão presente assim.
As provas deveriam ter cunho psicológico e físico, mas em sua maior parte permanecem no psicológico. Resgatando elementos de Admirável Mundo Novo, os habitantes do Mar Alto não se expressam com tanta facilidade como nós e se assemelham a máquinas pneumáticas: quando o fazem, estão em desequilíbrio, e tudo o que ameaça a paz da suposta utopia brasileira devem ser ignorados - neste caso, são internados no Centro de Tratamento. Os testes têm a intenção de levá-los ao extremo da barbárie para depois ascenderem a um plano quase transcendental de pureza.
Falando deste modo, dá-se a entender que as diversas tramas e subtramas de 3% se desenrolam de forma bem abrangente, mas infelizmente não é isso que acontece. O tema que se supera e que é altamente explorado é a pressão e o transtorno psicológico decorrente da própria escolha individualista inerente ao ser humano - e a melhor representação disso na série emerge na caracterização da personagem de Julia (Mel Fronckowiak), uma das grandes surpresas da série inteira. Seu arco transparece de forma tal maravilhosa que traz mais peso aos ideais medíocres de Ezequiel e que nunca se postam de forma plena em toda a primeira temporada. Enquanto isso: temas como desigualdade são construídas de forma por vezes escrachada, e não metáfora. Talvez se Pedro Aguilera, o idealizador e criador original de 3%, optasse por diálogos menos autoexplicativos e que trouxessem um real significado arquetípico para cena, as coisas tivessem saído de forma diferente; não é difícil criar várias linhas narrativas, o problema é equilibrá-las.
Infelizmente, para uma distopia, a utilização do verborrágico funciona em partes. Mas para que haja um equilíbrio, faz-se necessário também a ação - e 3% simplesmente não tem nada do tipo. As poucas cenas viscerais são mal coreografadas e servem como catalisadoras para sequências futuras e que nos fazem esquecer do passado. Entretanto, a morte de Marco - uma das composições mais belas de toda a série - trouxe certo ressentimento por parte de seu personagem, o qual mostrou-se como conservador e reacionário durante todo o Processo apenas para cair no jogo corruptível do poder e do comando tirânicos.
Em suma, a primeira série original Netflix brasileira é um ótimo início para futuras criações. E apesar de divertir, não podemos deixar de sentir uma pontada de decepção ao vermos tantos conceitos interessantes jogados ao mar. 3% não chega a ser um simulacro de Jogos Vorazes, por exemplo, por ser identitário, mas tem muito a melhorar - e com uma possível segunda temporada já confirmada, Charlone e Aguilera podem e devem ousar mais.
Crítica | De Palma
Um dia de filmagem foi suficiente para os diretores Noah Baumbach (Frances Ha, Enquanto Somos Jovens) e Jake Paltrow extraírem de Brian De Palma os sucos vitais mais saborosos de sua longa carreira. A sequência de abertura, com letras garrafais vermelhas deslizando sobre um fundo preto, como uma abertura remodelada de ...E o Vento Levou, desbanca qualquer expectativa de um tom que se assemelhe a um extra de DVD. Em seguida, ainda não se vê De Palma. Prefere-se iniciar com uma ponta das comparações a Hitchcock que virão, com cenas de Um Corpo que Cai. Os comentários do diretor entram em seguida, para enfim começar a declarar o que sobreviveu em sua mente sobre sua vida e obra.
Baumbach já havia feito uma série de entrevistas com De Palma que saíram como extras de alguns filmes do diretor que saíram pela Criterion (aqui no Brasil, alguns pela Versátil). Nelas, o entrevistador compartilhava um campo-contracampo com o cineasta. Agora, nem campo-contrampo, nem o campo dividido: De Palma está sentado no centro da tela. O discurso direto, com interferências inaudíveis e imperceptíveis dos entrevistadores, característica que garante um vigor ininterrupto ao entrevistado, alternado com arquivo fotográfico e fílmico complementam-se e ilustram os méritos e as falhas das obras. A edição simples, sem tentativas de inserir homenagens ao diretor em seu próprio formato - seriam previsíveis e descartáveis cenas em split screen, de um lado a entrevista, do outro algum filme. O diretor não se envergonha de reconhecer algumas péssimas decisões, da mesma maneira como enxerga claramente seus momentos grandiosos. E, afinal, pela opção de se gravar uma única e longa entrevista, a fala evidencia o que está mais vivo na memória do diretor. Seria um artifício problemático se a intenção fosse destrinchar igualitariamente a carreira de De Palma, algo impossível com apenas seu ponto de vista. No caso, quem ‘dirige’ os caminhos do filme é o próprio De Palma, que ordena sua história em ordem cronológica e tece um panorama personalizado, com narrativas reguladas de maneira diferente dependo do assunto e da época em questão. A cadência da oralidade é um dos pilares que sustentam as quase duas horas de duração.
Os riscos são diferentes, então, de um comum documentário burocrático post mortem – cenotáfios vergonhosos. Ou, às vezes, nem post mortem precisa ser para bajular tanto um nome e, no final das contas, não entender seu objeto de pesquisa, vide Woody Allen: Um Documentário. Aqui, a (auto)reverência é diferente. Não há o olhar limitado que tenta empurrar goela abaixo a grandeza de um nome, mas sim de mostrá-la efetivamente. O documentário funciona como uma revigoração da ‘teoria dos autores’ ao ir além do que já é tão evidente em toda a obra do diretor. Baumbach & Paltrow conseguiram captar, de maneira menos extensa e pretensiosa, sem perder o teor excitante das boas conversas sobre cinema, interessantes para cinéfilos e leigos, o espírito de Hitchcock/Truffaut. Depois de declarar ser um dos poucos reais seguidores que reflete as ideias do mestre em seu cinema, De Palma assume a posição do cineasta britânico, sem a presença física e incisiva de seu Truffaut ou da intérprete. No caso, uma vez que De Palma fez de Hitchcock, desde o começo, a tela de suas projeções, seus filmes acabam cumprindo esse lado da interlocução. Só mais um dos duplos de sua obra.
Felizmente, há muito a ser discutido para além do que os filmes já mostram. É fascinante ver e ouvir sobre as diversas preferências, referências, inspirações políticas (a que se deve o título de ‘Renascença’ hollywoodiana senão, sobretudo, a sua capacidade de conjugação do sistema?), o porquê de determinadas opções, e até como suas experiências pessoais se encaixam nas tramas. Um exemplo incrível são as fotografias em série de Vestida para Matar, inspiradas nas vezes em que De Palma seguia seu pai e tirava fotos dele com amantes.
Para os já devotos desse importante nome, interessados em questões mais profundas, ou uma defesa furiosa de Missão: Marte vinda da boca do seu próprio criador, o filme é insuficiente. É mais interessante aos neófitos e admiradores casuais, satisfeitos em prolongar as experiências dos filmes por alguns minutos a mais. De Palma destaca também na sua carreira o papel que teve a crítica de cinema no seu desenvolvimento. Já os que não aceitam uma espécie de misoginia nos roteiros de De Palma pouco serão interlocutores da discussão, à parte uma ou outra satisfação, se assim posso definir os trechos de respostas à alguns posicionamentos. Parece, na verdade, que a fotografia que encerra o documentário é mais uma de suas provocações.
Conservando as glórias onde elas estão – e onde provavelmente ficarão por mais algumas décadas –, essa extensa entrevista realizada e editada com precisão pela dupla Baumbach & Paltrow inspira rêveries tanto do já caro ‘duplo’ ao priorizar a singularidade de De Palma sem ser unívoca. Um tipo de documentação pouco usual e que deve inspirar outras do gênero no futuro próximo.
Crítica | A Chegada
Obs: texto enorme. É um dos maiores do site. Análise contém spoilers significativos.
Há certos desafios na vida de qualquer jornalista que se aventure pelas bandas da crítica das artes. Decerto existe muito conteúdo mastigado e facilitado que até mesmo podem condicionar nosso pensamento para níveis mais empobrecidos. A baixa qualidade cinematográfica deste biênio quase que consegue nos vencer pelo cansaço.
Felizmente, tanto em 2015 e 2016 tivemos obras do cineasta mais promissor dessa década, o canadense Denis Villeneuve. E sempre, em todos seus filmes, é um enorme desafio escrever sobre as obras, pois exigem um conhecimento extra fílmico ferrenho para compreender suas diversas simbologias.
Mesmo tendo acompanhado sua carreira há alguns bons anos, só fui analisar uma parte de sua filmografia no ano passado com o texto de Sicario, um filme de roteiro razoável que foi salvo pela direção exímia de Villeneuve.
Agora sem Deakins como parceiro na fotografia, é chegada a hora de ver se Denis Villeneuve não é apenas uma breve sensação. Para quem ainda duvidava de sua competência exemplar, A Chegada extermina qualquer limiar de dúvida. Estamos presenciando mais um clássico contemporâneo para a renascença da ficção científica de qualidade.
Afirmo isso com a maior tranquilidade possível. Tendo a gratificante oportunidade de rever ao longa em uma pré-estreia, fui preparado para absorver muito mais do que havia visto na cabine. Um velho hábito retornou: levar meu caderno de anotações para a sessão, a fim de colher o máximo possível das excelentes imagens que havia visto na cabine, mas que corriam o risco de sumir entre diversos pensamentos corriqueiros.
Então aviso agora, o texto será longo, pois não gostaria de perder a oportunidade de destrinchar o excelente filme que A Chegada é. Encare esse texto mais como um enorme artigo do que uma crítica propriamente dita. Como um Tudo que nós pudemos decifrar de A Chegada, mas com pitacos inerentes a uma análise cinematográfica. Caso só queira a recomendação, tenha a plena segurança de encontrará uma daquelas pérolas cinematográficas que, com sorte, temos uma vez a cada ano de lançamentos.
Mas se está a fim de embarcar em um texto minucioso que tenta explicar efetivamente o porquê de A Chegada ser uma excelente obra, lhe convido para dividir essa experiência sensacional: falar sobre o melhor longa desse ano.
A História da sua vida
A Chegada, na verdade, é uma adaptação do conto Story of Your Life escrito em 1991 por Ted Chiang, um romancista consagrado de ficção científica. Quem fica a cargo de trabalhar na adaptação é Eric Heisserer, um ótimo roteirista para oferecer a liberdade criativa tão necessária à Denis Villeneuve para brincar com simbologias cada vez mais complexas. Aliás, digo que a adaptação de Heisserer é mais feliz em contar a história do que o próprio conto original. Muito do conteúdo é inédito, pinçando apenas alguns conceitos e conflitos da história de Ted Chiang.
Acompanhamos a história da linguista Louise Banks que é chamada de supetão pelo Coronel Weber para ajudar na comunicação com seres alienígenas que chegaram à Terra. Com a escalada crescente da neurose, caos e desconfiança da humanidade e entre as nações, Louise e seu colega cientista, Ian, precisam correr contra o tempo para conseguir encontrar métodos de comunicação escrita e verbal com os misteriosos visitantes e descobrir o verdadeiro propósito dessa assustadora visita.
Sempre digo que é dez vezes mais difícil elogiar um bom trabalho do que criticar de fato. O roteiro de Heisserer é justamente um desses casos brilhantes de alta complexidade. Há sempre duas vertentes dentro de qualquer história de ficção científica que envolva contato extraterrestre. Uma é a tradicionalíssima do pessimismo cósmico – filmes como Enigma do Horizonte, Enigma do Outro Mundo, Alien, Prometheus são exemplos claros de mensagens sobre como tudo pode dar errado quando há contato imediato com inteligências externas ao planeta.
A outra, da linha otimista, define filmes como E.T. O Extraterrestre, Contato e Contatos Imediatos de Terceiro Grau. Em A Chegada, as coisas tendem a ser mais complicadas, pois orbita muito no suspense se é uma grande história de aniquilação ou elevação – daí a grande eficiência do horror construído nas primeiras sequências por Villeneuve.
Todo a proposta do longa circunda a questão da índole dos alienígenas e essa é justamente a grande vantagem do texto de Heisserer: a pluralidade de opiniões. Isso é dividido através dos poucos núcleos da obra que podem ser categorizados em “comunicação, ciência e militarismo”. Os personagens se comportam de acordo com suas funções narrativas nunca transgredindo o espaço um do outro.
Mesmo que haja a escolha óbvia de favorecer o discurso da protagonista, representante máxima do diálogo e opositora ferrenha da resposta militar, sempre há outro lado para criar o tão necessário atrito para o drama mover-se. Então, assim como diversas outras obras, A Chegada aposta em dramas de escopo humano e em conflitos de escopo global.
Aliás, Heisserer é brilhante em capturar tão bem a essência geopolítica do conflito gerado pela invasão. Ele taxa atitudes muito plausíveis sobre certos países, mantendo os ocidentais e o Japão como os mais receptivos e abertos ao diálogo com as criaturas. A Chegada, surpreendentemente, rende uma ótima aula de geografia.
Isso é colocado com inteligência pela estrutura nada convencional do roteiro do longa. E como já foi avisado, o texto conterá muitos spoilers e eles começam já no próximo parágrafo.
A descrença de começos e finais
O começo do filme trabalha a partir do poder da síntese. Louise narra sobre sua percepção do tempo. Claramente trata-se de uma voz over com a personagem já situada em um espaço futuro às imagens apresentadas. Ali é fundamentado um conflito que nos leva acreditar ser sobre um backstory da personagem, seguindo a linha clássica e clichê do personagem que perdeu tudo e que só lhe resta o trabalho para seguir em frente, com aparente niilismo como companheiro.
É eficiente e compramos o drama da morte da filha de Louise. De fato, cremos que se trata da introdução do drama que provavelmente levará Louise a uma catarse ao fim do longa – como ocorre em diversos outros filmes. Dois exemplos claros de começo dramático para gerar catarse na resolução são Up e Guardiões da Galáxia, filmes populares para ilustrar a sua linha de raciocínio.
Heisserer cria essa cortina de fumaça por conta da inserção do conflito majoritário logo depois dessa introdução. Uma professora que vive isolada em sua rotina centrada que nem mesmo se altera depois da chegada dos alienígenas – como se vivesse em um período pós-traumático. Com a vinda do convite do exército para Louise liderar a equipe tradutora, a personagem deixa o isolamento pela primeira vez.
Chega a ser bastante engraçado notar como o roteiro é extremamente simples – assim como o de Sicario, mas melhor elaborado. Ao pegar uma premissa tão forte, obviamente que há a sedução completa do interesse do espectador.
Há sequências inteiras que dependem somente da competência de Villeneuve em transformá-las na tradução perfeita em termos de linguagem visual – exemplo: A equipe entra na nave dos alienígenas. Essa rubrica de ação é revertida em uma sequência de quase dez minutos silenciosos dentro do filme.
Também, por isso, é impressionante a pouca quantidade de diálogos para desenvolver os personagens, pois muitas das coisas são sintetizadas pela eficiência visual. Nisso que também há o mérito de Heisserer: ele não duvida da inteligência do espectador com exposição intensa. Somente uma vez que há uma explicação didática de Louise para o público compreender de sua escolha em se comunicar através da escrita em vez da fala.
Mesmo tirando Louise do isolamento de sua rotina, a personagem é jogada novamente para o isolamento do campo militar anexado às proximidades da nave. Heisserer e Villeneuve trabalham bem nesse conceito de isolamento em contraste da especialidade profissional de Louise se centrar na comunicação. Nos poucos diálogos que temos entre a protagonista e Ian, há alguma reflexão do paradoxo.
Depois de estabelecer os primeiros contatos e sessões com os alienígenas, Heisserer apresenta o conceito que define o longa: os “flashbacks” que na verdade se tratam de visões, de flashforwards. Eles são inseridos cirurgicamente na trama, aparecendo somente depois que Louise faz contato com os heptapods sem a roupa protetora de contaminação, removendo uma das barreiras que dificultam a comunicação. É uma subversão da consciência sobre a narrativa comum, linear, que todo o espectador carrega.
No modo que é apresentado, facilmente o espectador se confunde, acreditando que se tratam de flashbacks de Louise se recordando de momentos-chave no convívio com a filha que já fora apresentada na introdução do filme. Por isso, quando ocorre a virada brutal no terceiro ato, que é provocado o choque ao entendermos que Louise, na verdade prevê o futuro.
Isso pode parecer um conceito jogado para quem não viu a obra, mas na verdade se trata de uma construção muito apurada de narrativa.
A cada nova sessão ou momentos que a dupla continua o trabalho no QG, Heisserer insere as visões, já as utilizando para resolver algumas dificuldades de Louise com o trabalho da tradução. Em outro sonho, apresenta outra didática ao espectador de que diversos idiomas moldam o raciocínio silencioso e, portanto, Louise estaria se aproximando do raciocínio dos heptapodes conforme aprende mais sobre sua linguagem, ganhando outra percepção do tempo. Uma percepção não-linear.
Também importa citar que o sonho gera, propositalmente, interpretações falsas para induzir o espectador ao erro em crer em um possível desfecho previsível e clichê como colocar o testemunho de Louise em cheque inferindo insanidade ou de que a mulher fará alguma loucura por alguma espécie de domínio da mente exercido pelos alienígenas – assim como em Body Snatchers.
Heisserer torna o conto de Ted Chiang mais cinematográfico, encaixando clímaces e conflitos. Para favorecer o discurso constante sobre a dualidade da linguagem, seja como instrumento unificador representado pelo núcleo Louise, Ian e os heptapódes, ou como arma de destruição e incitação ao ódio. Portanto há sim um antagonista para ilustrar a dicotomia.
Este é representado pelo capitão Marks, um dos militares que acompanham os cientistas durante as sessões. As únicas cenas que abandonam o ponto de vista de Louise são destinadas para justificar a motivação de Marks em agredir os pacíficos alienígenas. São dois breves momentos. Acompanhamos uma ligação com sua mulher em prantos e aterrorizada com a chegada dos invasores e também da desordem social. A outra ocorre mostra Marks e um comparsa assistindo a um discurso de um jornalista independente que incita a violência contra os alienígenas.
Graças a animosidade causada pelo terrorismo de Marks em explodir a câmara dos encontros, o mundo entra em caos encerrando a rede de comunicações e colaboração para dividir o conhecimento adquirido nos encontros das onze naves restantes. Então,a China declara guerra. É justamente aí que entra o fator mais divisivo na análise desse roteiro.
Heisserer usa a “arma” dada pelos alienígenas, o vocabulário extraterrestre que oferece as premonições, para resolver o clímax do filme. Mas como a estrutura é muito bem definida anteriormente, não é adequado desqualificar taxando o recurso como um deus ex machina, afinal já é justificado na narrativa, seja com o encontro final catártico com o heptapod ou pelo uso das visões anteriores.
O que pode incomodar é o modo abrupto que a resolução é apresentada, como se os outros personagens que Louise interage nas visões já tivessem consciência de sua habilidade. Porém, não fosse essa conveniência, dificilmente a cena teria o mesmo impacto.
Uma fraqueza do texto é o personagem Ian, encarnado com competência por Jeremy Renner. Ian seria o lado racional da trama, explorando a ciência que as criaturas poderiam oferecer. No conto original, Ian é mais proativo nas sessões, tentando descobrir como funciona a ciência dos alienígenas, das leis matemáticas e sobre o planeta dos seres. Mas aqui, esse lado cientifico fica em total escanteio. Ao menos, é fácil sentir empatia pelo personagem por servir sempre como apoio de Louise, além dele ter um papel fundamental para definir o propósito dos aliens na Terra.
Aliás, Heisserer é totalmente original em desenvolver essa grande cadeia de ação e reação, oferecendo respostas concretas sobre o motivo das naves terem chegado ao planeta – algo inexistente no livro.
Nesses quesitos da escrita de Heisserer é possível analisar separadamente. Já o resto clama por uma interpretação maior das excelentes simbologias que Denis Villeneuve apresenta em seus enquadramentos, na sua direção nada menos que exemplar e histórica com A Chegada.
A consagração de um gênio
Se analisar o roteiro de Heisserer já é complicado, imagine discorrer sobre a direção de Villeneuve, um diretor já conhecido por suas profundas marcas autorais e de forte presença criativa na concepção visual das suas obras. Na verdade, assim como em Sicario, o roteiro de Heisserer depende muito da competência de Villeneuve para funcionar de modo eficiente.
Então, a partir disso, o diretor trabalha com conceitos chave que guiarão toda a análise que faremos aqui: amor, destino, ignorância, sagrado, divino, elucidação, caos, ódio, isolamento, união, medo, dicotomia da comunicação, linguagem escrita, corporal, falada e, principalmente, cinematográfica.
O que espanta, especialmente quem já conhece Villeneuve de outros filmes, é uma grande reformulação de sua marca autoral. Na teoria e na concepção de um longa, sempre martelamos que o primeiro plano de seu filme tem de ser um dos mais importantes. Como se trata de Villeneuve, é correto afirmar isso, pois o principal discurso de transformação reside no plano de abertura.
Através de um travelling, o diretor captura o teto de uma sala enquanto, lentamente, inclina a câmera em direção a uma enorme janela cuja estrutura forma algumas molduras. Através dela, vemos um longínquo horizonte. Na narração, Louise afirma sua descrença sobre começos e finais – já a maior pista da não-linearidade do filme. Importante lembrar sobre esse enquadramento, tão importante que já deixo a imagem aqui, pois fará parte da principal simbologia do filme:
Depois, há a sequência sintetizando a vida da filha de Louise. É uma mudança extremamente abrupta para a fotografia e para o estilo de direção que ele está acostumado. Toda a sequência evoca as técnicas de Terrence Malick em A Árvore da Vida, mantendo cores levemente saturadas, com câmera bastante móvel e curta profundidade de campo.
Tudo isso confere o ar onírico, sagrado e pouco natural desse segmento. Aliás, na conclusão, antes de inserir um fade out, já temos outra metáfora visual que conversará com as discussões sobre tempo que guiarão o terceiro ato do filme. Na imagem, Louise caminha com passos trôpegos e desolados em um corredor circular, no sentido horário, passando por diversas portas que podem representar a marcação das horas.
A mesma introdução marca Louise em estado de libertação, fora da barreira representada pela janela. A filha liberta Louise. E a composição romântica de Max Richter, On The Nature of Daylight ajuda a demarcar isto, pois é uma peça paradoxal: bela e fúnebre ao mesmo tempo.
Eficiente na confusão mental sobre a natureza desse segmento, Villeneuve casa as cores monocromáticas, pálidas e cinzentas do luto para a chegada de Louise na faculdade e sua completa indiferença à agitação provocada pelos noticiários e dos alunos amontoados nos corredores. É uma excelente encenação para mostrar que a protagonista é, de certa forma, uma pessoa infeliz e isolada. Somente após diversas interrupções dos poucos alunos em sala de aula que ela finalmente descobre que o mundo está mudado para sempre.
Não levará muito tempo para o diretor começar a dar os acenos de respeito para alguns cineastas consagrados na ficção cientifica. O primeiro é para Spielberg com um breve plano sequência de Louise se dirigindo até seu carro.
Quando ela retorna à casa, novamente o plano de abertura do filme estampa a tela. Dessa vez, vemos Louise emoldurada nas divisórias que demarcam o centro da janela e do enquadramento. É possível tirar múltiplas interpretações para a função das molduras. A mais coerente é a demonstração gráfica de aprisionamento e isolamento da personagem que sempre observa o horizonte, mas nunca o transgrede.
O mesmo enquadramento da janela aparece pela última vez nesse ato no momento que o coronel Weber aterrissa o helicóptero militar nas proximidades da casa de Louise para levá-la até a concentração. Finalmente a ordem natural da rotina é quebrada. Vemos o helicóptero trespassar as molduras da janela indo em direção ao horizonte. É o começo da mudança completa que a protagonista sofrerá na jornada.
A Chegada
Assim que o helicóptero chega nas proximidades do acampamento, novamente Villeneuve faz um oner homenagem a la Spielberg. É um plano aéreo revela a concentração de curiosos que, além de ser separada dos invasores pela barreira militar, também é dividida por uma espessa névoa. Depois, temos o oner propriamente dito, mostrando para o espectador pela 1ª vez com clareza a nave invasora, a “concha”.
Novamente, ali, temos outro vislumbre sobre como Villeneuve é um cineasta completo, se equiparando com David Fincher, Christopher Nolan e Quentin Tarantino – os três que conseguem fazer a melhor união entre o cinema mainstream com a pureza artística. A encenação é brilhante.
Explico, a câmera paira justamente sobre um bendito vale que é parcialmente encoberto pela mesma névoa que desce das montanhas. A névoa que encobre o vale e parte da concha é branca e pura já servindo de foreshadowing da atmosfera esbranquiçada onde os heptapódes habitam. Conforme o Villeneuve movimenta o plano, circundando o acampamento, a névoa torna-se mais sombria e espessa. Ou seja, enquanto direcionada para a nave, infere uma atmosfera suspeita, mas que é tranquila, pacifica pela coloração branca. Quando estampa o terceiro plano do enquadramento do acampamento humano, é sombria, portanto, refletindo toda a ignorância, medo e propensão à violência da humanidade em um momento tão estressante.
A nave estar estacionada sobre um vale também não é mero acaso. Assim como muitas coisas, há um propósito bem definido, buscando evocar uma simbologia. O vale, simbolicamente, é o complemento das montanhas – que sobem em direção ao divino. Já o espaço côncavo/plano de um vale é um receptáculo natural para o vem do céu. Em uma correlação ainda mais simbólica, é onde a alma humana se encontra com o Divino para gerar revelações e catarses místicas, sagradas – segundo o Livro dos Símbolos. E é justamente isso que acontece no decorrer do filme.
Logo, todo o ambiente iluminado, ainda que ameaçador, do vale entra em contraste direto com a escuridão dos interiores das instalações militares. É um dos grandes usos metafóricos da excelente iluminação do diretor de fotografia Bradford Young que honra o cargo deixado pelo ilustre Roger Deakins.
A partir dali, após um breve estabelecimento do núcleo humano no acampamento que ao mesmo tempo representa o escopo global do conflito e também do drama intimista, Villeneuve se prepara para apresentar uma sequência aterradoramente simples, mas fantástica: o 1º contato dos protagonistas com a nave e com os alienígenas. Isso é dividido brilhantemente em duas partes: o ingresso à nave e a chegada dos heptapódes.
Quando o grupo se aproxima, descobrimos que a nave levita, nunca encostando ou danificando o solo. Para entrar nela, é preciso o uso de elevador. Novamente, outra simbologia poderosa. O divino, representado pelos alienígenas, não facilita o acesso para a humanidade, se comunicando como iguais. Ao contrário, a humanidade, representada obviamente pelo núcleo dos cientistas, precisa elevar, ascender, evoluir para entrar em contato com outra inteligência.
Novamente, nessa dilatação temporal, Villeneuve busca proclamar o sagrado ao enquadrar em plano detalhe o toque de Ian na casca externa da ‘concha’. É um plano que pede para ser comparado com A Criação de Adão, a obra máxima de Michelangelo na Capela Sistina. Mesmo que o plano seja para mostrar o deslumbramento entre um contato sagrado entre a ciência e a crença de Ian, há um flerte cínico do diretor quando o tato é interrompido no momento que a plataforma é alinhada com a abertura da nave. Ali, brevemente, o dedo divaga no vazio misterioso, sombrio, jogando o personagem para a cruel realidade.
Com os planos azimutais, o diretor novamente emoldura os personagens entre enquadramentos que mostram o conhecido e terrestre em contraste ao desconhecido, muito iluminado, extraterrestre.
Na suspensão da gravidade, a protagonista quebra a ordem natural pela 1ª vez. No que antes exigia a elevação, se transforma em um túnel com o fim iluminado – ordenamento sagrado novamente.
É justamente nessa excelente dicotomia do ser ou não ser que Villeneuve arregaça as mangas e mostra o verdadeiro poder catártico da trilha musical do sempre excelente Johann Jóhannsson. A música simplesmente reflete o estado de espirito e ebulição psicológica dos personagens. Repare, toda vez que o plano é centrado nos personagens, a música é mais calma, porém assim que o diretor insere o contraplano, exibindo o fim do túnel, Jóhannsson explode a trilha com tons assustadores, magnéticos e desagradáveis.
Enquanto estamos no porto seguro, no conhecido, refletido pelo Homem, a música se comporta. Já ao mirar o desconhecido e possivelmente perigoso, ocorre a excitação instrumental. Simples, eficiente e inteligente. Por isso que o roteiro do longa é uma peça de análise um tanto complexa, pois Villeneuve utiliza diversos recursos simbológicos para expressar os personagens sem recorrer ao uso de palavras, de exposição.
Importante lembrar que essa é a cena de maior espírito Kubrickiano que veremos no longa. Difícil não relacionar com o embate final entre Dave e HAL em 2001: Uma Odisseia no Espaço.
O Contato
Quando finalmente os personagens ingressam na câmara que ocorrem as reuniões com os extraterrestres, o diretor faz questão de esclarecer que ordenamento natural continua quebrado, afinal os personagens estão de ponta cabeça, usando o teto como piso. O próprio design da câmara evoca essa dimensionalidade confusa, pois qualquer canto da sala pode ser tomado como teto ou piso.
É justamente nessa cena que ocorre a grande metáfora do filme inteiro, sobre o amor ao cinema. Aqui é necessário o resgate, na memória do espectador, do primeiro enquadramento que Villeneuve apresenta: o centralizado, da janela e suas molduras. Coloque em contraste direto com a similaridade do enquadramento, também centralizado, do vidro que separa o lado onde ficam os humanos e o lado onde estão os heptapódes.
O lado de lá, é branco, emoldurado por um enorme retângulo de bordas arredondadas. No enquadramento, Villeneuve pega, por enquanto, parte das paredes negras do teto e do solo. Eis que, nessa comparação, o cineasta cria uma metalinguagem. O vidro preenchido pela fumaça branca vira um anteparo, assim como a tela do cinema, brincando com a razão de aspecto do filme, gravado em cinemascope e, portanto, contando com a presença do letterboxd para mostrar a imagem completa.
Ou seja, as bordas negras que emolduram a tela branca remetem diretamente às bordas da correção de aspecto da sala de cinema que você provavelmente assistirá ao filme. Nessa correlação, ele torna tanto os personagens em espectadores e vice-versa. Afinal, é o momento-chave do primeiro ato. É a chegada dos alienígenas, da revelação de sua biologia pela 1ª vez para todos nós, seja na diegese quanto no espaço extra fílmico.
Mas o que isso tem a ver com o enquadramento que abre o filme? Muito, como veremos conforme o longa progride. Durante as três primeiras sessões que acompanhamos Louise e Ian, Villeneuve evita diversificar sua decupagem e encenação. E assim como tudo em A Chegada, existe um propósito simbológico para tanto.
A encenação dos primeiros contatos é centrada no receio amedrontador. Os personagens, encapsulados e isolados pelos trajes, mal se movem e não se aproximam do vidro onde os alienígenas estão. Então, naturalmente, os enquadramentos são afastados, bastante abertos. O diretor apenas se rende aos closes e planos detalhe para valorizar a majestosa atuação de Amy Adams e de suas diversas expressões: primeiro de medo para seguir até a alegria reconfortante – onde vemos a personagem sorrir pela primeira vez no filme ao estabelecer uma forma de contato com as criaturas.
Ao contrário da janela da casa de Louise, onde o diretor a emoldurava separando-a do resto e do horizonte, o vidro da câmara não possui nenhuma estrutura que emoldure ou isole a personagem, muito embora ela esteja isolada do contato físico com as criaturas. Aos poucos, Villeneuve passa a enquadrá-la entre os heptapodes. A personagem, enfim, perde a grande amálgama do isolamento que emanam dos seus enquadramentos.
Isso ocorre a partir do terceiro contato. Nele, Louise já está mais à vontade com as criaturas, abandonando a escuridão que permeia o fundo da sala onde a equipe se concentra – como se julgassem a distância como porto seguro.
Ela caminha em direção a Abbott e Costello – os alienígenas, para justamente o lado que emana a luz. Nesse sentido, outra simbologia toca o filme. A escuridão demarca a ignorância e a iluminação branca é justamente o conhecimento, da elevação do estado de consciência que afetará Louise.
Uma apresentação apropriada
Villeneuve demarca somente no visual a decisão de Louise em retirar o traje, de remover uma condição limitadora de isolamento. Tudo é baseado no canário que é trazido nas sessões. Para que o espectador entenda o uso narrativo do pássaro, o diretor exige certo conhecimento histórico. Em épocas de revolução industrial e das escavações nas minas de carvão, canários eram utilizados para sinalizar qualquer gás tóxico não identificado pelo olfato humano. Por conta dos pequenos pulmões, morriam mais rapidamente, avisando a todos mineiros de um vazamento de gás venenoso.
No filme, a função é a mesma. Louise, antes de remover o traje, observa o mesmo canário que acompanhou todas as visitas. Percebe que ele está perfeitamente normal e toma a decisão libertadora.
Livre do medo a das amarras do traje que também restringiam sua visão, Louise caminha até encostar no vidro. O heptapóde faz o mesmo estabelecendo o contato mais pessoal até agora. Nisso, Villeneuve finalmente abandona o jogo centralizado que mantinha na decupagem das cenas do encontro. Mimetizando diretamente outro plano apresentado no começo do filme, da janela da casa, constrói um plano lateral exibindo o “aperto de mãos”. É um passo cinematográfico importante para estabelecer a relação de proximidade da protagonista que finalmente tem vontade de estar do lado de lá, tentando atingir o horizonte que antes era limitado pelas molduras de sua janela.
A partir desse encontro que Villeneuve e Heisserer começam a jogar as visões na tela. A primeira delas acontece logo depois desse encontro próximo e “humano”. No devaneio, só é possível observar a nuca da criança que virá a ser a filha de Louise observando uma criatura negra e distorcida – que lembra a anatomia dos aliens, na profundidade de campo totalmente desfocada.
Além dos encaixes das visões sempre serem bem estabelecidos no roteiro, Villeneuve faz questão de elaborar mudanças visuais para cada uma das diversas que permearão a obra até sua conclusão. A primeira é a mais confusa. A segunda já é menos, mostrando a menina mais nitidamente embora os planos recortem partes da cena enfatizando as brincadeiras da garota com instrumentos que remetem também à biologia do aliens, seja na cor ou nos membros.
Na terceira visão, ocorre o primeiro diálogo. E assim por diante até que Louise entenda que as visões estão diretamente ligadas com a evolução das traduções da linguagem alienígena.
Quando Villeneuve destina sua decupagem para criar tensão, nós sabemos que teremos um verdadeiro aprendizado em linguagem. Quem não se recorda das tensas torturas de Hugh Jackman contra Paul Dano? Ou da excelente sequência em Juarez de Sicario? Aqui ocorre em dois grandes momentos.
O primeiro é baseado no contraste das ações de Louise e de Marks – consciência vs. Ignorância. O que torna a cena da explosão tão especial é justamente a contraposição das ideias, além de afirmar a perfeita sintonia entre o heptapóde e Louise, já que ambos escrevem juntos, no idioma alienígena, pela 1ª vez.
Villeneuve enquadra com inteligência inserindo Louise justamente entre Abbott e Costello enquanto permanece no meio da imagem do ideograma. Na mesma cena temos a união que a missão tanto procurava, mas que ao mesmo tempo causa a profunda ruptura. Aliás, somente com o trabalho em áudio, o diretor traça o destino estúpido de Marks. Motivado a salvar sua família, o soldado acaba morto no tiroteio e esquecido na narrativa.
A partir da destruição de parte da concha, do súbito isolamento na comunicação entre os países agora dominados pelo medo, da iminência da guerra provocada pela ignorância e falta de visão, Villeneuve arquiteta a maior simbologia do filme, ainda remetendo à primeira imagem da janela na sala.
Quando Louise atende o chamado de sua visão e parte para a cápsula da nave, o diretor encaminha bons enquadramentos no momento de sua chegada. Dois planos close do rosto de Amy Adams mostram a cápsula se abrindo simbolizando, enfim, uma mente “aberta”, sem limites.
É justamente nessa cena que Louise finalmente passa a ver o “todo” e não somente uma parte dele como era condicionado por: as molduras de sua janela e, posteriormente, pelas bordas que limitavam o lado de lá, nunca mostrando as verdadeiras formas dos heptapódes. Com o todo, Louise atinge o horizonte, ela finalmente está diante das molduras, não mais atrás delas ou dentro de outros enquadramentos limitadores. Está totalmente imersa no grau de consciência representado pela cor branca que preenche todo o enquadramento entrando em contraste direto com o alienígena.
Nisso, temos a revelação de todo o corpo gigantesco de Abbott e ali, Louise começa a compreender o “todo”, conseguindo enxergar o tempo de modo não-linear. Nas visões subsequentes, ela ganha o domínio de sua consciência no futuro, podendo alterar uma realidade presente.
Na conclusão de seu trabalho, Villeneuve ainda emplaca uma simbologia mais clichê, com uma única tela de notícias dando origem à diversas outras para sugerir a consolidação de que o mundo estava unido de novo. Porém o mais belo é terminar o filme com a exata mesma sequência e trilha musical de seu início configurando o tal do palíndromo, em licença poética, que fora referenciado quando a filha de Louise pergunta por que recebeu o nome Hannah.
Como já vastamente discutido nesses trechos dedicados à direção de Denis Villeneuve, é impossível não afirmar o grau de excelência que o diretor alcançou neste trabalho. Ainda há diversos outros detalhes menores como a concepção do vocabulário alienígena, da concepção visual das criaturas, dos diversos contrastes criados pela montagem e até mesmo dos figurinos que referenciam outras obras clássicas de ficção cientifica. Porém, caso eu fique explorando tudo isso, o texto, já imenso, não terá fim.
Na guerra não há vencedores. Apenas viúvas.
Com A Chegada, o Cinema ganha mais uma valiosa adição para o gênero de ficção científica. Seu discurso constante sobre libertação e linguagem é tão valioso que transcende até mesmo sua forma ao conseguir expandir a sala de cinema como uma figura de comunicação ativa na obra. É um tipo de experiência única que merece sua atenção enquanto está em cartaz, pois Villeneuve torna essa obra excelente na sua assinatura máxima como cineasta completo.
Um filme que salva um ano tão fraco como de 2016 no quesito de lançamentos comerciais oferecidos por Hollywood. De longe, A Chegada é o filme de melhor qualidade que o cinema norte-americano conseguiu nos oferecer nesse ano, chegando como fortíssimo concorrente para a disputa do Oscar.
Assistir A Chegada produz exatamente o mesmo efeito que Louise Banks experimenta em seus contatos imediatos com os alienígenas. Há, com certeza, um efeito de elevação de consciência devido às exigências do longa em nos fazer decifrar tantas simbologias inteligentes ordenadas pela encenação. É pureza e beleza cinematográfica como há tempos não se via.
Crítica | O Quarto dos Esquecidos - Um suspense fraco
Casas abandonadas sempre se mostraram um local propício para histórias de filmes de terror e já foram apresentados das mais diversas formas no cinema americano. Na produção que estréia essa semana “O Quarto dos Esquecidos” mostra que casas mal-assombradas continuam em alta no gênero de terror.
Ao assistir a esse suspense disfarçado de terror ficava pensando a todo o momento “acho que já vi isso em algum lugar”. Essa é a impressão que o telespectador terá ao assistir ao novo filme de D. J. Caruso, diretor que assinou produções como Paranóia e Controle Absoluto e com roteiro do ator Wentworth Miller o Michael Scofield de Prison Break.
Na trama Dana (Kate Beckinsale) e seu marido David (Mel Raido) junto com seu filho Lucas se mudam da cidade grande. A família passa por um processo de luto e decidem por comprar uma mansão em um lugar mais afastado. A nova residência está abandonada, Dana é arquiteta e começa a estudar o que vai fazer para reformá-la. Ela acaba por encontrar um quarto que não está na planta original. Dana então começa a procurar maneiras de entrar no quarto, enquanto isso o diretor tenta nos pregar sustos peças a todo momento ao telespectador.
Mel Raido que faz o papel do marido de Dana não tem muito destaque no filme. Todas as câmeras estão voltadas para a personagem de Kate Beckinsale, por sinal, uma atriz mal aproveitada no cinema atual, as vezes pega bons papéis outras vezes faz filmes ruins como o caso de “Terror na Antártida”. E sua personagem nesse novo longa de D. J. Caruso é um outro caso de papel fraco. Dana é uma mulher séria, insonsa e sem brilho.
Você não sabe se o que ela está vivenciando é real ou se é algo que ela apenas imagina. É esse excesso de mistério e de tentar confundir o telespectador que deixa o filme fraco e acaba por diminuir seu suspense. Filmes com muito mistério acabam por gerar uma grande expectativa e se o que foi definido para surpreender no final não for à altura dos mistérios apresentados durante o filme acaba por deixar a história estranha. É isso o que acontece com Quarto dos Esquecidos. O final é bom, mas muito do seu suspense apresentado poderia ter sido apresentado de outra forma.
Como disse acima temos a impressão de que já assistimos a história que Caruso nos apresenta. Parece uma mescla de vários outros filmes atuais de terror. Um filme comum e que tenta te causar sustinhos com jogadas rápidas de câmera, vultos, rangidos e um mistério a ser decifrado pela personagem principal.
A casa é usada como um personagem, e poderia também ter sido mais bem aproveitada no desenrolar da história. Filmes Como “Mulher de Preto” e “Colina Escarlate” trabalharam melhor esse conceito de casa mal-assombrada.
Dois pontos positivos dessa produção é a trilha sonora que acompanha a personagem em seus momentos de suspense e o final apresentando o que realmente tem no quarto. Foi original e surpreendente, mas que tira todo o ar de suspense do filme e nisso o diretor tem culpa. O Quarto dos Esquecidos não é um filme esquecível, mas talvez dispensável em meio ao lançamento de tantas outras produções do gênero.
O Quarto dos Esquecidos (The Disappointments Room – UK, 2019)
Direção: D.J. Caruso
Roteiro: D.J. Caruso, Wentworth Miller
Elenco: Kate Beckinsale, Mel Raido, Duncan Joiner, Lucas Till, Michaela Conlin, Michael Landes
Gênero: Drama, Horror, Thriller
Duração: 95 min.
https://www.youtube.com/watch?v=ND_ojIKvVXA
Crítica | Elis
Infelizmente, a maioria das cinebiografias de músicos parte da mesma fórmula: resumir a vida do artista baseado em seus momentos mais importantes. “Ray”, “Johnny & June”, “Cazuza – O Tempo Não Para” e ”Tim Maia” seguem essa fórmula. Não significa que os filmes são ruins, mas soam mais como uma página de uma enciclopédia do que realmente algo que poderia ajudar a compreender de maneira mais profunda o artista representado, quais eram as suas inquietações e suas inspirações. Pois bem, “Elis” segue essa mesma fórmula em resumir a vida de Elis Regina baseado nos momentos mais fortes de sua carreira. Mas mesmo seguindo essa fórmula, vemos um filme agradável, que contém ótimas atuações, além de ser visualmente fabuloso.
O longa retrata desde o momento em que Elis Regina (Andreia Horta) começa a sua carreira como cantora no Rio de Janeiro, no início da década de 60, a seu fim trágico em São Paulo em 1982, quando morreu de overdose. Durante esse tempo é mostrado personagens importantes da vida da cantora: o cantor Lennie Dale (Júlio Andrade), que ensinou a Elis como ter a presença de palco que a deixou famosa; Ronaldo Boscôli (Gustavo Machado) e Miéle (Lúcio Mauro Filho), que a descobriram, inclusive teve um casamento tumultuado com o primeiro; e Cesar Mariano (Caco Ciocler), pianista talentoso que foi casado com Elis no final da vida.
Bom, o primeiro ponto que merece ser discutido está no roteiro, que é assinado por Hugo Prata, que também assina a direção, junto com Luiz Bolognesi e Vera Egito. É um roteiro que tem seus acertos, mas também tem seus erros. Vamos começar pelos erros: há um notório exagero em elipses temporais, principalmente no segundo ato. Exemplo: vemos Elis se casando com Boscôli, corta e ela está grávida e depois de outro corte o bebê já nasceu. Ficamos sem saber o que aconteceu nesse meio tempo e para quem não conhece a história de Elis Regina, ficará perdido em certos momentos por conta dessas elipses.
Isso também acaba influenciando a montagem do filme, que dá para perceber que o ritmo está rápido demais em certos momentos. Outro ponto é o excesso de personagens no longa, sendo que muitos deles aparecem e simplesmente desaparecem. Como o personagem feio por César Trancoso, que empresaria a carreira de Elis desde o começo e simplesmente desaparece no terceiro ato. Ou o personagem do pai de Elis (Zécarlos Machado) que some no final do primeiro do primeiro ato e só é lembrado no fim do filme. E o espectador vai percebendo que há outros personagens que desaparecem e são poucos lembrados.
Mas mesmo com esses erros, o roteiro tem pontos fortes, como o desenvolvimento de personagens. A maioria dos personagens são bem escritos e cumprem bem sua função e a protagonista é muito bem definida. Entendemos as sua forte personalidade, além de ser muito carismática e simpática.
Agora se o longa tem esses problemas de roteiro e de montagem, pelo menos ele é muito bem cuidado na parte técnica. A reconstituição das épocas retratadas é muito bem feita, isso desde o figurino até os detalhes dos locais, só prestar atenção nos estúdios em que Elis trabalha. Cada vez vemos uma decoração diferente, de acordo com a época que se passa. Ou a diferença de estilo entre o Rio de Janeiro e São Paulo.
Se a direção de arte é acertada, a fotografia de Adrian Teijido merece destaque. Não só mostra como Teijido é um dos fotógrafos mais ecléticos do mercado, mas como as decisões estéticas da fotografia são acertadas, principalmente por não ir para o óbvio. São movimentos de câmera muito precisos e o uso da câmera tremida é utilizado no momento correto. Além da paleta de cores ser muito bonita e expressiva, há takes em “Elis” que são sublimes.
O elenco está ótimo, todos estão bem em seus papéis, principalmente o ótimo Júlio Andrade, muito inspirado na composição do seu Lennie Dale. Mas o destaque fica por conta de Andrea Horta, que faz um trabalho incrível como Elis Regina. Confesso que sempre a considerei uma atriz mediana, nenhum trabalho anterior seu me chamou a atenção. Mas não só ela conseguiu captar os detalhes da cantora, que vão desde o seu sorriso marcante a seu sotaque, como consegue mostrar toda a personalidade forte que tinha em Elis.
Não por acaso o seu apelido era “Pimentinha”. E não se trata apenas de copiar, vemos que realmente Andrea está penetrada no papel, vemos realmente uma personagem na tela, não uma atriz interpretando um papel. Um trabalho realmente que merece destaque.
Já a direção de Hugo Prata se mostra segura, ao mesmo tempo em que não se propõe a trazer nenhuma novidade. Prata joga no seguro, mas mostra que sabe fazer essa parte muito bem, pois consegue fazer uma narrativa que prenda o espectador e que se emocione junto com Elis.
No fim, “Elis” tem vários problemas já vistos em filmes em autobiográficos. Mas como ele é um filme muito bem atuado e executado, o saldo geral é bem positivo. Só espero que façam mais biografias com propostas interessantes como “Não Estou Lá”, mas “Elis” não faz feio e merece o seu lugar ao Sol.
Crítica | Jack Reacher: Sem Retorno
Após a baixa venda de ingressos de Jack Reacher e sua recepção junto à crítica em 2012, não era esperado uma sequência. Mesmo planejado para se tornar uma franquia, a bilheteria no mercado doméstico norte-americano não foi o suficiente para gerar confiança na Paramount Studios. No entanto, o filme estrelado por Tom Cruise acabou cruzando a barreira dos 200 milhões de dólares internacionalmente e consequentemente, os planos para uma segunda produção não foram engavetados.
Portanto, para bem ou para mal, quatro anos depois recebemos Jack Reacher 2: Sem Retorno (título em inglês Jack Reacher: Never go Back) nos cinemas.
Produção
Edward Zwick foi escalado como diretor e também responsável por reescrever o roteiro juntamente com Marshall Herskovitz. Ambos foram responsáveis pelo excelente Diamante de Sangue e se reencontrariam com Tom Cruise outra vez após seu último trabalho juntos, O Último Samurai. Estes nomes atrelados ao projeto geraram certa expectativa e mostram o interesse do estúdio em elaborar um filme interessante, mais profundo que o primeiro. Paramount está investida em emplacar a franquia de Jack Reacher.
Quando o primeiro filme foi lançado, fomos presentados ao personagem de fora pra dentro através de relatos de outras pessoas. Jack era misterioso e temível. Neste segundo filme, a trama é diferente. Já sabemos quem este personagem é e o que ele faz. A partir disto é desenvolvido sua personalidade, seus relacionamentos e suas posições referentes seu passado. Não somos jogados dentro da história de Jack, desta vez. Agora é Jack quem é jogado na história de outra pessoa quando entra pára quedas numa trama militar. Sua amiga e contato do exército para as investigações paralelas, a Major Susan Turner (Cobie Smulders), é presa por espionagem por motivos desconhecidos ao público.
Paralelamente, Reacher é informado a respeito de uma mulher que alega ter tido uma filha com ele e que agora precisa de pensão do exército. O filme se desenrola em cima dessas duas questões, com direito a fugas de prisão à lá Hitman, perseguições de carro, brigas de punho e vários já conhecidos clichês do cinema de ação.
Influência de Mad Max
Já conseguimos detectar nesta produção certa influência de Mad Max: Estrada da Fúria (leia nossa crítica aqui!). A personagem de Cobie Smulders é uma mulher interessante, que recebe menos tempo de câmera do que o merecido. Assim como Imperatriz Furiosa (Charlize Theron), que consegue executar certas tarefas melhor que o personagem interpretado por Tom Hardy no filme de 2015, Turner se mostra uma força a ser reconhecida. Não só ela agrega a trama com sua presença, ela também discute com Jack de forma sincera e expõe suas vontades com realismo. Temos alguns bons momentos de sua personagem que talvez convençam a Marvel a lhe dar mais espaço nos próximos filmes do estúdio.
Diferente de Mad Max, no entanto, a sensação de que Reacher é um coadjuvante é muito forte. Toda a situação política e a armação que a colocou na cadeia não insere Jack. A trama da Major não o envolve, colocando o peso do envolvimento dele em sua suposta filha, que passa a ser ameaçada e precisa acompanhar os dois na jornada. A decisão de alternar o foco é ousada, mas remove o senso de urgência.
Confuso, esquecível e lento
A trama é confusa, com vários personagens envolvidos e mortos na mesma velocidade que são apresentados. O vilão interpretado por Patrick Heusinger tenta ser a antítese de Jack. Ambos deixaram o exército para trás, por motivos semelhantes. O personagem de Cruise precisa de independência para agir fora da lei para salvar ou ajudar alguém. O assassino precisa dessa independência para também agir fora da lei, no entanto, ele a obtém para ser um assassino contratado. Infelizmente, o assassino não possui personalidade alguma.
O fato dele não ter nome contribui para que seja totalmente esquecível e ignorado. Sem presença, seus assassinatos ou sua proximidade de Jack não causam preocupação no espectador. Ele é só mais um rosto a ser socado pelo protagonista, afinal.
E que lentos esses socos são. Durante exaustivos e injustificáveis 118 minutos de exibição, temos poucas cenas de luta. E as que são mostradas são cansativas e tediosas. O cinema de ação evoluiu muito nos últimos tempos. É necessário mais do que o rosto de Tom Cruise para tornar lutas interessantes. Nada é aproveitado da forma ideal e momentos de ação são jogados de qualquer forma no roteiro, tão deslocado da obra quanto um dedão machucado. Existe pouca criatividade da equipe também para mostrar ângulos novos, técnicas diferentes ou combates com peso dramático.
Peso dramático este que surge aqui na relação entre pai e filha, surpreendentemente. Jack Reacher não possui endereço físico, não tem propriedades ou contas em seu nome. Ele vai como o vento sopra, para onde quiser. O surgimento de uma filha de quinze anos que precisa ser cuidada vai de encontro a sua filosofia pessoal. Agora ele tem alguém que necessita dele e isso é assustador. Essa relação rende alguns momentos curiosamente emocionantes. Se no primeiro filme nós conhecemos quem é Jack Reacher, agora é Jack Reacher quem conhece melhor as pessoas ao seu redor e que ele, de certa forma, influenciou.
Jack Reacher: Sem Retorno tem muito a aprender com o cinema moderno. Mesmo tentando emular os filmes de ação da década de 90, certos elementos precisam ser revisados. Uma trama menos aglomerada e um menor tempo de exibição poderiam auxiliar a fita com seus problemas de ritmo. Infelizmente, se mostra um filme que não vence pela ação e nem pela emoção, um meio termo de ambos cansativo e que somente arranha as superfícies de relacionamentos e personagens com potencial interessante.