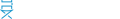Nada como acabar o ano se sentindo para baixo, certo?
A Netflix enfim liberou a quarta temporada de Black Mirror, série de antologia de Charlie Brooker que veio a se tornar uma das produções mais adoradas e comentadas da atualidade. Por muito tempo se comparou o trabalho do britânico vencedor do Emmy com a impecável Além da Imaginação, de Rod Serling, no que diz respeito ao conceito de antologias e o teste dos limites da condição humana.
Dito isso, vamos à análise dos novos episódios de Black Mirror!
USS Callister
O ano de 2017 foi bastante significativo para Star Trek, ou Jornada nas Estrelas. O universo criado por Gene Roddenberry ganhou basicamente duas séries – uma oficial, Discovery, e outra, The Orville, que basicamente segue a mesma ideia do seriado sessentista estrelado por William Shatner e Leonard Nimoy.
Aproveitando, certamente, desse novo sopro de ar na franquia, eis que Black Mirror nos entrega um capítulo que utiliza como temática a ficção científica espacial que costumamos ver em Star Trek – não se trata bem de algo passado nesse universo, mas claramente a Netflix fez uso da ideia para atrair os fãs da longeva criação de Roddenberry, especialmente quando, no mesmo ano, foi distribuída pelo canal de streaming, Discovery.
Naturalmente que, tratando-se da série de Charlie Brooker, nada seria tão simples. Essa releitura tecnológica de Além da Imaginação mantém seu foco no “lado negro da tecnologia” e apresenta um mundo no qual pessoas podem explorar o Espaço através de um jogo em realidade virtual, que materializa uma versão de si nesse universo digital. A trama gira em torno do programador desse game, Robert Daly (Jesse Plemons) mostrando o quanto ele não é valorizado dentro da empresa que ele fez crescer.
O roteiro de William Bridges e Charlie Brooker, porém, subverte nossa expectativa ao transformar a vítima em vilão. Enquanto ele é praticamente ignorado em sua empresa – na sua residência ele criou uma versão offline desse mesmo jogo, tendo total controle sobre o que acontece ali dentro. Lá ele desconta suas frustrações em relação aos colegas do trabalho, materializando cópias de cada um deles dentro do mundo virtual, criando inteligências artificiais que sofrem, presas ali dentro, enquanto o programador se comporta como um cruel deus para seu micro universo.
USS Callister, sem dúvidas, contava com muito potencial, podendo explorar a problemática envolvendo a inteligência artificial – pode ela ser considerada vida ou não? Além disso, claramente a trama poderia aproveitar todo o discurso de violência gera violência, lidando com o bullying indiretamente, já que Robert Daly somente é cruel porque outros foram cruéis com ele. Ao invés disso, o texto segue por vias maniqueístas, mesmo que quebre nossas expectativas. Tudo o que ele faz é construir – de maneira bastante superficial – seu vilão, colocando como heroína uma das inteligências artificiais presas no jogo.
De fato, todos os personagens apresentados nesse capítulo permanecem no raso. Bom exemplo disso é a protagonista, Nanette (Cristin Milioti), que somente sabemos que é uma programadora que admira Daly – além disso, nada é oferecido ao espectador. Os outros indivíduos em tela seguem pelo mesmo caminho, ou até pior, não há absolutamente nada que nos faça simpatizar com cada um deles a não ser o tratamento cruel que recebem do principal antagonista.
Não bastasse isso, ao lidar com o universo virtual, o roteiro se esquece quase que totalmente do mundo de fora – os personagens apresentados servem apenas para dar um contexto básico para aqueles que vemos dentro do game. Dito isso, conforme progredimos no capítulo, o mundo “real” é deixado de lado, como se, de fato, não importasse. Ao criar tal pressuposto, o roteiro torna insignificante as conquistas ali dentro, já que não afetam, de maneira alguma, a percepção das pessoas reais acerca da I.A. ou até mesmo a relação dos companheiros de trabalho de Daly com o programador chefe da empresa. Tudo, no fim, é mero entretenimento vazio.
Isso não quer dizer, felizmente, que tudo é dispensável no capítulo. Como homenagem a Star Trek, ele funciona plenamente, especialmente quando, nos minutos iniciais, faz tudo parecer como um episódio da série original, dos anos 1960, utilizando até um formato de imagem diferenciado e filtro envelhecido. Naturalmente que todo o figurino e direção de arte seguem a mesma ideia, criando visuais que nos fazem sentir, imediatamente, como se estivéssemos diante da ponte de comando da Enterprise.
O próprio maniqueísmo, a vilania de Daly seguem o estilo dos antagonistas de Jornada nas Estrelas e Jesse Plemons cria um personagem canastrão que perfeitamente combina com essa ideia. Em essência, o episódio se resume ao bem contra o mal, algo que funcionaria em uma série aventuresca de ficção científica, mas que falha em criar as necessárias discussões típicas de Black Mirror.
Não ajuda, claro, o fato da obra se estender por mais tempo que deveria. Setenta e seis minutos ultrapassa e muito o que seria suficiente para desenvolver a história. Isso fica claro quando a tripulação virtual da Callister viaja para um planeta desértico, apenas para deixar clara a vilania do principal antagonista, algo que já ficara bem claro e antes e que depois torna a ser repetido, cansando o espectador, dilatando nossa percepção da obra como um todo, que, no fim, parece muito maior que o seu, já longo, tempo de duração.
Boas intenções, portanto, não necessariamente fazem um bom episódio, como é bem provado por USS Callister. Embora funcione como grande homenagem a Star Trek (ou mera tentativa de “roubar” os fãs dessa série), o capítulo falha em criar a necessária profundidade para que seja criada a discussão acerca das temáticas levantadas. Mais do que tudo Black Mirror precisa incomodar o espectador e o que vemos aqui é a velha luta do bem contra o mal, não se aprofundando nos engajantes pontos levantados pelo roteiro de Bridges e Brooker. (Guilherme Coral)
Arkangel
Um dos nomes de peso da nova temporada, Jodie Foster embarca na direção do perturbador Arkangel. É um exemplo de Black Mirror raiz, com a premissa básica de uma nova invenção tecnológica mostrando-se danosa para a condição humana, seguindo uma linha similar aos ótimos Queda Livre e Toda a Sua História e, felizmente, o resultado alcançado por Foster e o onipresente roteirista Charlie Brooker é igualmente próximo desses citados.
A trama nos apresenta à Marie (Rosemarie DeWitt), uma mãe superprotetora que, após uma experiência traumática, opta por um tratamento ousado para a segurança de sua filha Sara (Brenna Harding). É o programa experimental Arkangel, consistindo no implante de um chip na mente da criança, e que permite aos pais assistirem e monitorarem todas as suas atividadades em um tablet, desde localização via GPS, acesso ao que a pessoa está vendo e até mesmo um bloqueio de conteúdo inapropriado. A partir daí, vemos todo o crescimento de Sara até uma adolescente, à medida em que Marie fica em conflito com as limitações do aplicativo.
Receita para o desastre, e para que Brooker nos ofereça um pouco da boa e velha depressão pós-episódio. Os melhores episódios da série são justamente os que trabalham em cima de um conceito cyberpunk em um ambiente cotidiano, e como a condição humana está sempre disposta a corromper-se em decorrência do mal uso da tecnologia; o Arkangel definitivamente é uma ideia brilhante, e poderia ser usada para bons frutos, mas aqui é mais um exemplo da paranóia, e Brooker é particularmente feliz em jogar esse conceito para uma relação de mãe e filha. O roteiro traz diversas situações do tipo “e se”, e que merecem créditos pela originalidade, tal como a mãe desesperada recorrendo ao tablet para descobrir onde sua filha realmente foi – na clássica desculpa do “vou na casa da amiga, mas na verdade estou com garotos” – e com resultados ainda mais memoráveis e chocantes.
A condução de Jodie Foster também ajuda. Através de um trabalho de composição de quadros elegante, a diretora cria belos enquadramentos que ilustram a relação quase doentia de Marie em relação à sua filha, especialmente naqueles onde a mãe assista a visão da filha pela câmera do tablet – recurso usado também para uma revelação quase assustadora. A construção sutil de Foster também ajuda a nos colocar na atmosfera pesada da história, e que vai ficando cada vez mais intensa à medida em que nos aproximamos do fim, e a câmera de Foster nem precisa recorrer a um recurso mais evidente como shaky cam ou cortes excessivos, trabalhando tudo através de planos abertos e uma paleta de cores essencialmente fria. Aliás, é divertido como o design de produção do episódio apresenta uma visão simplista e eficiente para um “futuro quase distante”, com um visual praticamente similar ao nosso, mas com pequenos detalhes na tela de celulares, computadores e até uma lousa de sala de aula para construir um cenário futurista.
Por fim, mas não menos importante, vale destacar a ótima performance de Rosemarie DeWitt, que transparece o drama interno de Marie, e mesmo que suas ações sejam erradas, o espectador é capaz de compreendê-las. A jovem Brenna Harding também faz um ótimo trabalho como a versão adolescente de Sara. (Lucas Nascimento)
Crocodilo
Memórias são coisas poderosas. Amigas ou traiçoeiras, são carregadas de uma subjetividade ímpar que, quando exploradas a fundo – por exemplo, por hipnose -, podem desencadear consequências terríveis tanto para aquele que é analisado quanto para quem analisa. E é exatamente disso que Crocodilo, terceiro episódio da nova temporada de Black Mirror, permite-se mergulhar.
É um fato dizer que a conjuntura completa do quarto ano de uma das séries mais aclamadas da Netflix tenha altos e baixos em um equilíbrio episódico quase assustados, mas talvez seja a iteração dirigida por John Hillcoat a mais oscilante de todas. O diretor, conhecido por sua incrível investida western com A Proposta, talvez pudesse ter optado por uma perspectiva mais endossada de seu estilo aqui, mas preferiu seguir em um caminho mais intimista e definitivamente mais aterrador, criando um diálogo necessário para com a identidade do show em si.
Crocodilo conta a história da frieza humana e do quão longe uma pessoa pode chegar para manter-se a salvo. A narrativa gira em torno de Mia Nolan (Andrea Riseborough), uma proeminente arquiteta que cometeu um homicídio culposo quinze anos atrás com seu ex-namorado Rob (Andrew Gower), atropelando um ciclista. E apesar de terem se livrado do corpo da vítima, os fantasmas do passado voltaram para assombrá-la, levando-a a cometer uma série de atrocidades como forma de preservar sua reputação.
Todo esse thriller psicológico conversa com o tema tecnológico e distópico na figura da corretora de seguros Shazia (Kiran Sonia Sawar) que, utilizando um “relembrador” portátil, descobre que Mia matou Rob, o qual queria escrever uma carta anônima para a família do ciclista, mas foi brutalmente eliminado por um súbito ataque de frustração. E é a partir daí que os medos e as inseguranças da protagonista começam a falar mais alto, insurgindo de modo assustador principalmente pela expressão desolada e angustiada.
Riseborough carrega toda a essência do episódio em uma atuação bem delineada e adornada com ápices muito bem demarcados para a compreensão da sua personagem. Apesar da máscara empreendedora, seus gatilhos retornam em um fluxo inenarrável e que, mesmo com um ritmo frenético, é justificado por sua necessidade de proteger a si mesma e à família que lutou para construir. Entretanto, em um escopo mais geral, a narrativa deixa a desejar por manter-se em uma superficialidade ocasional: não há exatamente uma originalidade a ser buscada dentro do episódio. Tudo parece funcionar como uma amálgama do que já existia nos capítulos predecessores – e ainda que Crocodilo tenha um ciclo finito, não se pode dizer que seus convencionalismos foram postos de modo adequado, usando o mesmo do mesmo para não sair da zona de conforto.
Entretanto, se os grandes deslizes permanecem no roteiro, não se pode dizer o mesmo de sua estética. Hillcoat consegue capturar de modo preciso a atemporalidade do cenário islandês ao mesmo tempo em que utiliza as mudanças de tom nas cenas para conversar com a trajetória da personagem. Ainda que toda a violência explícita dentro da trama não seja justificada, a atmosfera depressiva e sombria é reafirmada pela fotografia gradativamente mais escura e mórbida, mesmo pautada na infeliz redundância imagética. (Thiago Nolla)
Hang the DJ
Romance, por mais anacrônico que possa soar de início, também vem se mostrando uma característica forte de Black Mirror. Com os relacionamentos amorosos tendo se tornado tema de diversos filmes e episódios como San Junipero e Volto Já, Charlie Brooker mira em um aspecto muito relevante e atual com Hang the DJ: aplicativos de paquera.
Na trama, somos apresentados a um programa similar a aplicativos com Tinder e Happn, onde casais são aleatoriamente sortidos e combinados, e os respectivos encontros são determinados por uma duração específica – a qual os participantes são obrigados e cumprir, independente do tempo. Nesse cenário, temos a história de Frank (Joe Coel) e Amy (Georgina Campbell), duas pessoas que se conhecem uma vez, mas que colocam à prova o funcionamento do aplicativo ao tentar estender seu tempo determinado.
É uma premissa que imediatamente nos remete a O Lagosta, comédia de humor negro do grego Yorgos Lanthimos que também apostava em uma seleção aleatória de casais com algum tipo de twist bizarra – no caso do filme com Colin Farrell, o fato de que se transformariam em animais e seriam soltos à natureza caso não achassem um par. Brooker aposta em outro tipo de análise, com os protagonistas questionando se tudo aquilo não passa de algum tipo de simulação, e consegue explorar também aspectos mais intimistas; por exemplo, quando Frank e Amy se reencontram, optam por não olhar quanto tempo o aplicativo os concedeu, mas um deles é logo tentado para tentar descobrir a duração exata – e que, sendo Black Mirror, sempre traz consequências devastadoras para esse tipo de ação.
O texto também explora algumas situações inusitadas, como o fato de que Frank é forçado a ficar 1 ano ao lado de uma parceira que não se mostra nem um pouco compatível, e também ao sugerir através de diálogos espertos, de que vivem em uma sociedade isolada do mundo – em mais uma semelhança com O Lagosta. As performances centrais de Joel Coel e Georgina Campbell também são eficientes, especialmente Coel por ilustrar os conflitos internos de Frank e a insegurança de não saber lidar com uma relação sem saber sua data de validade, em mais um interessante comentário social sobre nosso atual status na era digital.
No fim, o episódio acaba decepcionando pela resolução um tanto batida e que trilha por caminhos que o próprio Brooker já explorou, e o fator surpresa acaba perdido, mesmo que a execução seja admirável – especialmente quando nos é revelado o porquê do aplicativo ter precisamente 99.8% de chance de êxito em encontrar a alma gêmea de seus usuários. (Lucas Nascimento)
Metalhead
O destino definitivo para Charlie Brooker: o futuro distópico, desta vez pra valer, e não como vimos no clássico episódio da segunda temporada. Metalhead se destaca dos outros pelo visual impactante: um preto e branco com contraste forte e um frame rate acelerado que nos faz parecer estar assistindo tudo no modo fast foward, uma característica marcante do diretor David Slade (30 Dias de Noite), que entrega aquele que é disparado um dos episódios mais autorais de toda a antologia; e, ainda assim, um dos mais vazios de conteúdo.
O episódio começa em uma paisagem desolada, com um grupo de pessoas cruzando a estrada de carro. Logo temos o contexto de um mundo devastado onde criaturas robóticas conhecidas como “Cães”, caçam e neutralizam humanos perdidos. Basicamente, essa é a trama, onde passamos a acompanhar a luta de Bella (Maxine Peake) para escapar de um Cão e sobreviver.
Só pela premissa já reparamos em como ela é rasa se comparada a todos os anteriores. Não há muitos conceitos a serem explorados aqui, tanto de tecnologia quanto de um universo cyberpunk; aqui, o medo de Brooker já está realizado, e as máquinas caçam humanos sem dó em um ambiente claramente devastado por estas. Por um lado, isso garante que Slade conduza um episódio completamente diferente, quase podendo ser comparado a “O Regresso de Black Mirror“, justamente por seguirmos uma jornada desesperada e solitária. O visual nunca nos cansa, ainda que os excessos de Slade em seu frame rate possam distrair, e a tensão é sempre mantida ao máximo, especialmente quando a protagonista encontra uma casa vazia que pode ou não lhe oferecer alguma ajuda de seu perseguidor.
Aliás, muito feliz é a decisão de Slade em optar por um antagonista com aparência tão simples, sendo este o aspecto que o torna tão ameaçador. O Cão definitivamente faz jus a seu nome, com as quatro patas, mas seu casco também remete a um atrópode, e a ausência de uma cabeça – e, subsequentemente, um rosto – o torna ainda mais ameaçador, da mesma forma que o xenomorfo de Alien, O Oitavo Passageiro também assustava por essa omissão. Os efeitos visuais também são de primeira, com os movimentos levemente desengonçados remetendo à técnica de stop motion.
Mas, novamente, todo esse apuro técnico acaba sendo em vão: não há nada sob a superfície de Metalhead. (Lucas Nascimento)
Black Museum
Benditas épocas que tínhamos seriados de antologias sci-fi/terror como Além da Imaginação e Contos da Cripta. Cada episódio contava sua história fechada, com reviravoltas impressionantes que flertavam com o melhor e o pior da imaginação humana. As décadas se passaram e o modo que consumidos entretenimento mudou. Com Black Mirror, a série de antologia mais famosa dessa década, pudemos revisitar o formato a convite de Charlie Brooker em seu mundo cheio de caos de tecnologias futuristas.
Para encerrar essa aguardada 4ª temporada, Brooker decidiu que era hora de fazer uma antologia dentro de sua própria antologia. Um episódio quase metalinguístico visando contar histórias diversas em um menor espaço de tempo enquanto tece uma narrativa maior. Black Museum é uma singela carta de amor de Brooker para os mestres de outrora como Rod Serling, Alfred Hitchcock e John Cassir e, também, para seu próprio trabalho, já que temos o cenário do museu recheado de referências de todos episódios de Black Mirror até então.
Na narrativa, uma garota viaja até um lugar distante onde fica o infame Black Museum de Rolo Haynes, um ex-funcionário de tecnologia medicinal que coleciona diversos protótipos que resultaram em finais violentos ou trágicos para seus usuários. Em uma visita guiada pelo próprio proprietário do museu, a garota descobre segredos terríveis de vidas miseráveis.
Para evitar estragar a surpresa, é melhor comentar superficialmente sobre as boas narrativas que Brooker traz aqui. Estranhamente, a primeira história é mais interessante e criativa, jogando um médico fracassado aceitando a proposta de implantar um neurotransmissor de receptação de sensações dos seus pacientes para conseguir apressar o diagnóstico e salvar mais vidas. Com uma dose de humor negro em todo o episódio, o roteirista apresenta um olhar possivelmente inédito a respeito ao vício e suas consequências drásticas ao introduzir reviravoltas que subvertem as regras do jogo. Simplesmente ótima história que merecia um episódio inteiro somente para si.
Já a segunda narrativa tateia novamente sobre a transferência de consciências já exploradas em San Junipero. Aqui, a rotina de um casal e seu primeiro filho é abalada após a mãe ser brutalmente atropelada, a deixando em um estado de coma permanente. Para salvar a consciência da mulher, o marido aceita dividir seu corpo e sua mente com a consciência da esposa. Brooker faz de tudo para provocar, eficientemente, um sentimento de comédia involuntária devido a situação nada funcional que o casal se encontra – que obviamente terminaria mal de qualquer forma.
De modo bastante previsível e óbvio, o desenlace do episódio não é muito impactante, chegando até mesmo a ser monótono devido a uma eventual falta de interesse para o destino de todos aqueles personagens que necessitavam de mais desenvolvimento para se tornarem marcantes. É aqui que as coisas começam a ficar atrapalhadas em Black Museum nos fazendo pensar que talvez a ideia de uma antologia dentro de uma antologia não seja lá uma escolha brilhante.
Isso se torna evidente no desfecho do episódio, inserindo uma reviravolta para justificar a ida da protagonista até um museu tão decrépito. Ela envolve uma terceira narrativa para o item mais precioso do museu de Rolo Haynes, porém, pelo fato de estarmos tão próximos ao limite de duração da história, Brooker tem o mínimo de tempo para desenvolver esse tal item. Ele é relacionado a um assassinato que não sabemos muito bem a origem ou de suas consequências.
Tudo piora quando surge uma tensão de conflito racial nos minutos finais do episódio, em uma visão muito maniqueísta das partes – algo que, nessa temporada, se tornou um problema temático, pois Black Mirror antes ousava escapar dessa visão binária do storytelling. Como não há espaço para acreditarmos na causa da protagonista e das suas intenções, além de Haynes, carismático narrador das desventuras, não ser nada confiável, temos um festim de exposição que o roteirista usa para tentar gerar empatia.
Mesmo com excelentes atuações, principalmente de Douglas Hodge como Haynes, uma direção firme com mudanças necessárias para cada estilo de narrativa, cinematografia apurada e envolvente, além de uma espetacular direção de arte, Black Museum se torna uma experiência inconsistente pela pressa em tentar surpreender o espectador com uma história muito mal firmada em pouquíssimos instantes. Às vezes, o elemento surpresa pode acabar prejudicando uma boa ideia. Ainda mais uma que teve um excelente começo dentro de um conceito cheio de potencial. Matheus Fragata
Black Mirror – 4ª Temporada (EUA/Reino Unido – 2017)
Criado por: Charlie Brooker
Direção: Toby Haynes, Jodie Foster, John Hillcoat, Timothy Van Patten, David Slade, Colm McCarthy
Roteiro: Charlie Brooker, William Bridges
Elenco: Jesse Plemons, Cristin Milioti, Jimmi Simpson, Michaela Coel, Rosemarie DeWitt, Brenna Harding, Andrea Risenborough, Kiran Sonia Sawar, Andrew Gower, Anthony Welsh, Claire Rushbrook, Joe Coel, Georgina Campbell, Maxine Peake, Letitia Wright, Daniel Lapaine, Douglas Hodge, Alexandra Roach, Amanda Warren
Emissora: Netflix
Episódios: 6
Gênero: Suspense/Ficção Científica
Duração: 50/60 min
https://www.youtube.com/watch?v=5ELQ6u_5YYM